
Entrevista
A crítica e ensaísta Mariangela Alves de Lima nasceu em São Paulo há 70 anos, no bairro central da Bela Vista. Por volta dos 6 anos os pais se mudaram para Piracicaba, no noroeste paulista, onde frequentou escola pública fundada em 1897 e então denominada Instituto de Educação Sud Mennucci, homenagem ao professor, jornalista e crítico literário formado no mesmo estabelecimento. Aos 17, ela fez o trajeto de volta para cursar jornalismo na Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da Universidade de São Paulo, também pública. Na metade do caminho migrou para a graduação em teatro com foco em teoria e margem para a prática da crítica – equivalente hoje ao Departamento de Artes Cênicas, o CAC.
Entre os seus professores-pensadores estavam o editor Jacó Guinsburg (Editora Perspectiva) e os críticos Décio de Almeida Prado (2017-2000), Anatol Rosenfeld (teórico alemão aqui radicado, 1912-1973) e Sábato Magaldi (1927-2016), este um incentivador da colaboração dela para o jornal Estado de S.Paulo, iniciada durante o bacharelado. Foram 40 anos de produção de textos para o diário, de 1971 a 2011, mais da metade da vida.
A entrevista a seguir foi realizada em sua casa, numa rua de paralelepípedos, arborizada e sem saída do Jardim Petrópolis, na região sul da cidade, onde vive com o professor e crítico de dança Acácio Ribeiro Vallim Júnior. Eles são pais de dois rapazes e avós de quatro netos com idades entre os 7 anos e as primeiras semanas – Irene é o nome da recém-chegada, em 4 de janeiro de 2018.
Compartilhar dos cuidados com os netos virou um “privilégio da aposentadoria” nos últimos seis anos de recolhimento da crítica. Bem como desfrutar de tempo para reler clássicos do romance do século XIX, à maneira de Dostoiévski. Outrora rotina, a ida ao teatro tornou-se rarefeita.
O meu interlocutor seria o leitor que está ali ao lado, na apresentação, e que pode fazer a mesma coisa, mas num grau diferente, não profissional e talvez não tão laborioso quanto seja a crítica, porque dá um trabalho danado, sabemos disso – mas é um trabalho agradabilíssimo
Mariangela verá parte de sua produção textual compilada pela parceria da Editora Perspectiva com as Edições Sesc São Paulo, cuja Coleção Sesc de Críticas já saudou Sábato Magaldi (Amor ao teatro, 2015) e Macksen Luiz (Macksen Luiz et alli, 2017). O livro em processo, ainda sem previsão de lançamento, é organizado pela gerente de estudos e desenvolvimento do Sesc, Marta Colabone, sob assessoria do professor titular aposentado da USP e dramaturgo José Eduardo Vendramini, o mesmo que mergulhou na obra de Sábato com a viúva e escritora Edla van Steen.
A conversa teve por cenário a sala e a antessala do sobrado silencioso, de traços despojados, com paredes tomadas por livros, quadros, DVDs e um jardim de inverno.
Teatrojornal – Aqui é o seu habitat de escrita?
Mariangela – Não. O meu é lá em cima, um escritório onde só guardo coisas de teatro. Na verdade, é um quartinho deste tamanho [gesticula], com uma mesinha. O resto é para livros e revistas. Aliás, vou doar esse material para a ECA.
Eles têm cuidado bem de acervos lá na USP?
Mais ou menos, porque não tem nenhuma biblioteca com os recursos de que se precisa. O trabalho ativo de documentação já parou faz tempo e a conservação do que já foi coletado também é muito duvidosa.
Por falar em atualização, fico pensando na experiência da sua geração com o trabalho paralelo à prática da crítica, envolvendo historiografia, pesquisa. Sentimos que essa manutenção institucional já não se dá de maneira sistemática. Como se os registros evaporassem, quando, paradoxalmente, a tecnologia já favorece o armazenamento em nuvem.
Eu acho que sim. A nossa tarefa de pesquisa já era uma coisa rarefeita. Você documentar teatro já é um indício, um vestígio, mas era um trabalho de intelecção também, de você entender o que é que pode guardar, e isso eu acho que desapareceu com essa confiança que as pessoas têm na nuvem, como você falou. Ai é a entropia da informação. Eu não acho que recuperemos fácil a informação.
Vamos ao ato da escrita. Ao assistir, apreender a obra e partir para o texto, no dia seguinte ou mesmo tempos depois, em geral você já carrega consigo uma leitura específica do espetáculo ou é só durante o ato da escrita, em si, que esse pensamento ganha corpo?
Eu acho que é mais no ato da escrita. É aí que eu vou ancorando coisas que eu não sabia que existiam. Porque na hora em que vejo o espetáculo, não quero interferências, não quero pensar naquilo que estou vendo. Eu quero apreender aquilo e depois essas coisas vão se delineando na memória, no trabalho posterior, formando um padrão que não é aquele do momento do espetáculo. É depois, é na escrita. E a escrita também gera a pesca: o ato de escrever pesca conteúdos, pensamentos, reflexões, percepções que vão se ligando. E não é a mesma coisa que a apreensão do espetáculo.
Lembro-me de ter começado a trabalhar com críticos que escreviam durante a apresentação, fazendo uso do bloquinho. Nunca fiz isso, e nem pensei, porque nunca quis que nada estragasse o meu momento [de encontro com a cena]. Não queria lembrar que ia fazer crítica. Outra coisa que eu não gosto até hoje é de conversar sobre o espetáculo que acabei de assistir. Nada…
Antes de fazer crítica eu detestava a porta do teatro. Sabe aquele tumulto juvenil na porta do teatro, em que todo mundo sai e fica falando? Eu detestava aquilo e não sabia o porquê. Aquela pergunta: “Gostou?”. Eu sei lá se gostei, ainda estou elaborando… Então eu não gostava desse tipo de abordagem antes de fazer a crítica, parecia que me atrapalhava. Depois, com a prática da crítica, eu já cortei mesmo. Não quero falar, falo depois e vou embora com aquilo que a experiência me proporcionou.
E “fala” de uma forma que também é muito difícil, que é exprimir-se por meio da palavra escrita.
Acho que é uma criação modesta, mas é. É a invenção do leitor, do espectador; é a sua invenção sobre aquilo que foi percebido. E acho que todo mundo faz isso, se for sensível e realmente ligado a uma obra qualquer. Tem esse processo que é uma criação.
Você se vê muito nesse lugar da espectadora? Feito O espectador apaixonado, para citar o título que o diretor e crítico italiano Ruggero Jacobi (1920-1981) deu a uma coletânea de textos editada no Brasil nos anos 60.
Eu sempre fui uma espectadora muito contente com o meu lugar. E sempre disse, e sei, que a crítica era uma atividade de preguiçoso, embora dê um trabalho danado de escrever. Ir ao teatro é uma coisa que você faz, senta lá diante do espetáculo e gosta que os artistas façam coisas. Sempre tive uma vocação para ser “passivamente” espectadora, ficar na plateia, seja lá qual for o tipo de plateia. Afinal, a produção teatral experimentou todos os tipos de constituição do espaço cênico ao longo do século XX. Eu gostava muito de ficar no escurinho, no sentido metafórico.
E, ao contrário do que se imagina ou se supõe, sobretudo nos dias de hoje, o lugar do espectador não é sem ambição, ao contrário. Depreendemos dos seus textos um rigor na elaboração, um esforço de pensamento destinado ao outro, aos espectadores, aos artistas.
Eu nunca pensei em falar para o artista, sempre pensei em falar muito genericamente sobre a apreensão da coisa. Então, um leitor diria: “Eu também posso fazer isso”. É isso que a obra de arte gera numa pessoa: a ressonância, esses pensamentos, essas aspirações. Nunca pensei em interferir no teatro. O meu interlocutor seria o leitor que está ali ao lado, na apresentação, e que pode fazer a mesma coisa, mas num grau diferente, não profissional e talvez não tão laborioso quanto seja a crítica, porque dá um trabalho danado, sabemos disso – mas é um trabalho agradabilíssimo.
E ainda sobre o ato da escrita, você avançou da máquina de datilografar para o computador, viveu essas transições de suporte.
Mais ou menos. Eu nasci com a máquina de datilografar, ganhei uma aos 15 anos, que meu pai me deu porque disse a ele que gostava de escrever. Tenho até hoje debaixo da cama, é um objeto afetivo. Uma maquininha alemã imortal [Triumph-Adler portátil]. Eu batucava lá textos escolares, trouxe para São Paulo quando mudei do interior [Piracicaba] e fiquei com isso por muitos anos. Resisti muito ao computador e praticamente nunca o usei direito, usava como máquina de escrever, nunca tive internet. Para mim, o computador não diminuiu em nada o tempo de trabalho. Quando eu escrevia à máquina, eu escrevia três textos, três versões, não sei porque fixei nesse número. A terceira ficava pronta, era hora de entregar. Agora, com o computador, você não para de escrever. Nem de revisar, perdendo o controle das horas, do tempo.
 Bob Sousa
Bob Sousa Atuou no Estadão de 1971 a 2011
Durante muitos anos, vinha um senhor buscar o texto na minha casa, de motocicleta. Ele se chamava Chicão. Eu dava o original, ele levava, enfrentava chuva, mas alguém sempre recebia na redação e digitava. Um dia ele se aposentou e eu troquei: datilografava e mandava por fax. Antes da digitação, era composição mesmo, era a chapa fotográfica. Inclusive, cheguei a trabalhar com o chumbo [quando a máquina linotipo funde em bloco cada linha de caracteres tipográficos], num jornalzinho alemão daqui da Vila Mariana [distrito da zona sul]. Era adorável ver o processo arcaico do linotipista. Quando o Seu Chicão se aposentou, lembrei agora, eu ainda ditei a matéria algumas vezes, por telefone, e esse outro senhor do telefone também se aposentou. Aí eu adotei o fax. Chegava direitinho, mas já era o computador que “datilografava” e enviava pelo fax. Eu nem tenho mais a máquina de fax, já joguei fora.
Em 2011, seu último ano de crítica no jornal, o processo de entrega do texto ainda era o fax?
Sim, ainda era o fax… Não é à toa que eles me mandaram embora. Completou 40 anos, eles me telefonaram… Aliás, eles não disseram que eu tinha sido mandada embora, e lógico que fui. Ligaram e disseram que dali para frente eu só poderia entregar uma crítica por mês e ganharia mais ou menos o que eu pagava, porque você tinha que ter uma empresa, uma coisa assim. Quer dizer, se eu aceitasse essa condição eles cairiam para trás de susto, mas isso é normal porque eles oferecem para o trabalhador uma condição inaceitável. [A respeito do episódio, sugerimos o diálogo de José Celso Martinez Corrêa com o editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, a partir do post de 21 de dezembro de 2011 no qual o diretor do Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona lamenta em seu blog: “a maior artista da crítica da arte do teatro brasileiro, Mariangela Alves de Lima, está sendo demitida pelo ‘Estadão'”].
A pergunta pode soar óbvia, mas existe um trabalhador da crítica, um operário da palavra, digamos assim?
Eu acho que está acabando esse tipo de profissão, eu não sei como é que vai ser o futuro do profissional da escrita, porque estão desaparecendo as empresas jornalísticas, os empregadores. Todo mundo agora escreve nesses sites e não recebem, então não sei como é que vai ser. Isso é espantoso. Minha demissão foi quase que um ponto final, e não faltava gente boa não, havia muitos jovens na redação. Claro, eles despedem os velhos porque estes deixam de agradar aos editores e leitores jovens. É uma coisa normal, uma troca.
Seria reflexo da redução do pensamento crítico na sociedade como um todo?
Será? Eu penso que a universidade está fazendo muito isso e talvez ocupando esse espaço em relação às artes cênicas. Pelos trabalhos universitários que acompanhei, eles ainda têm um vício de serem excessivamente abstratos, desligados da apreciação da arte, muito centrados em teorias, fascinados com o instrumental. Isso é um problema da universidade, mas acho que essa poeira vai assentar uma hora. Acho que esse espaço crítico vai ficar abrigado na universidade. Ao contrário de quando eu comecei, quando não havia escolas de teatro que pensassem o teatro. A ECA foi a primeira. Quer dizer, começou na Escola de Artes Dramáticas [escola técnica fundada em São Paulo em 1948 e agregada à USP em 1966] e se acentuou na ECA, porque na EAD a missão ainda era formar atores, mas o doutor Alfredo [Mesquita, 1907-1986] tinha uma noção muito boa de que você não formava ator sem ter um amplo repertório cultural. Isso passou para a ECA e ela ficou sendo a primeira. A da Bahia [Escola de Teatro da UFBA, fundada em 1956] era mais de formação de atores, sem formação crítica universitária.
É um paradoxo, porque houve um expressivo crescimento da cultura de teatro pelo país nas últimas décadas: escolas, espaços, grupos, circuito de festivais, movimentando mais espectadores e propiciando criações mais ousadas.
Hoje, uma companhia do Paraná pode fazer tremer as bases paulistanas… A imprensa está fraca em tudo. Confesso que não leio mais jornal por uma revolta ideológica. Não tolero ler essa manipulação, essa mentira, essa coisa canalha que está acontecendo. Eu leio o The Guardian [diário nacional britânico] agora porque meu marido instalou uma internet naquele computadorzinho que mal consigo manejar, mas consigo abrir e escrever “Guardian”, daí eu leio para ter algum parâmetro de noticiário de esquerda minimamente inteligente. Enfim eu posso me dar ao luxo dessa revolta moral porque não trabalho mais. [A revista] Veja não coloco nem a mão, é jornalismo amarelo.
O texto às vezes fica totalmente tendencioso porque tem uma empatia muito grande com o projeto artístico e você não sabe que está sendo tendencioso. E vice-versa, coisas fantásticas sobre as quais você tem repulsa porque contrariam o seu projeto, a sua visão de mundo, a sua ética. Se bem que a direita raramente faz coisas boas. Do fundo do coração, eu acho a direita muito pior do ponto de vista estético, não tem vergonha nenhuma da sua caretice, da sua bobagem
No prefácio a Exercício findo: crítica teatral (1964-1968), Décio afirma que “O crítico ideal talvez seja aquele que deixou de escrever e do qual só subsistem as qualidades na memória generosa de seus admiradores”. Você se sente assim?
Não. O Yan [Michalski, crítico e ensaísta polaco-brasileiro, 1932-1990] disse isso também, logo que se aposentou. Durante um colóquio em São Paulo, ele afirmou que o crítico mais admirado é aquele que se aposentou. Quarenta anos é muito tempo, não percebemos como o tempo passa, mas também é muito agradável. É um privilégio ter essa profissão, descobrir que você pode fazer isso, ter essa oportunidade. Não sei como fui parar num lugar que era o que eu queria. Porque é difícil escolher a profissão hoje em dia, o leque é tão grande e empurra-se tanto uma criança, um jovem… Eu ia fazer direito, como todo mundo. O pessoal da geração do meu pai fazia. Mas aí resolvi fazer jornalismo porque apareceu essa faculdade de jornalismo na USP, e eu queria USP, claro, todo mundo queria, e quando vi que dentro disso tinha uma coisa de crítica, pensei: “Oba, é isso! É perfeito”. E eu podia fazer crítica de teatro, que era o que eu mais gostava. Não de literatura, era de teatro.
Quando você ganhou a máquina de datilografar, aos 15 anos, isso significa que já cometia os primeiros escritos na adolescência?
Não. Era só porque eu era uma boa aluna e adorava fazer os trabalhos escolares. Era só isso. Eu fiz clássico, um curso que não existe mais. Tinha línguas também e, engraçado, você já saía sabendo. Não precisava fazer Cultura Inglesa, Aliança Francesa. Meus filhos fizeram tudo isso porque o colégio não dava conta, mas [nossa geração] não precisava porque já saíamos sabendo o suficiente para ler um texto, para poder entrar na universidade. Não precisava de cursinho. Quando fiz o clássico havia mais duas línguas que eu não aprendi direito: o latim e o grego. Era um professor só e ele não dava conta de ensinar. Eu nunca aprendi. Aprendi latim rudimentar no ginásio e grego, não aprendi nada. Mas tudo isso estava dentro do currículo clássico.
Seu modo de escrever crítica transmite forte pregnância da palavra. Lendo você no Caderno 2, a partir do final dos anos 1980, sempre me chamou a atenção a capacidade de ir de encontro aos espetáculos em que o texto espetacular resultava mais impactante do que o texto dramatúrgico. Como era esse modus operandi de ler o espetáculo? Como se atualizava, na medida em que os artistas costumam avançar em seus experimentos?
Acho que a minha geração, que foi formada muito mais pelo Sábato Magaldi do que pelo Décio na escola, já era voltada para o espetáculo. O Sábato, apesar das leituras superficiais, de dizerem que ele era um crítico de dramaturgia, ele não era isso. Ele era um crítico da viabilidade cênica da escrita. Se você ler o Sábato atentamente, você vai ver que ele está sempre checando isso. Ao contrário do Décio, que tem um grande amor pela literatura, pelas artes visuais. O Décio centrava mais na dramaturgia, inclusive porque queria fazê-la nascer, tinha aquela coisa militante.
Mas o Sábato, não, ele criticava os textos sob a ótica da possibilidade de execução no palco, então ele nos forçava a isso, já nos ensinando outra coisa: a prestar atenção no espetáculo. Ele fazia aulas, por exemplo, de cenografia. Pegava um espetáculo “x”, aplicava um exercício com conceitos cenográficos e nos pedia para escrever a partir disso. Ele separava as coisas e depois tínhamos que juntar. E fez isso ao longo dos quatro anos. Foi secretário municipal de Cultura em São Paulo [1975-1979], criou o Idart [Departamento de Informação e Documentação Artísticas, em 1975], e junto com ele, pensamos em fazer uma documentação dessa época na qual tentaríamos capturar todo o material possível do espetáculo e torná-lo disponível para as bibliotecas.
Então, essa cultura do espetáculo era daquela época. Era a época dos diretores também, e não dos dramaturgos. Os anos 1970 foram a época de Peter Brook [diretor britânico nascido em 1925], de Victor García [diretor e cenógrafo argentino, 1934-1982], já era uma coisa espetacular, a hegemonia da encenação. A minha geração ainda era limítrofe, tinha sido treinada nos estudos clássicos, pela literatura. Quando eu vim para São Paulo eu só conhecia literatura, e bem clássica mesmo, Camões era o forte. E aí, para modernizar isso também custou um pouco.
Houve algum momento na trajetória em que você entendeu para si um programa de crítica?
Acho que só esse que eu falei para você. Uma hora eu falei: é isso, vou escrever sobre essa coisa tendo em vista o movimento que ela provoca na pessoa que viu. E se isso chegar até uma receita final, vai chegar porque é o que mobilizou na pessoa que viu. Mas eu já tinha uma noção, desde o começo, de que eu não ia julgar e valorar o certo ou o errado, o feio ou o bonito, porque isso já estava na minha formação. Quando isso acontece é inescapável. Poucas vezes eu me indignei na vida, mas algumas vezes eu me indignei vendo espetáculo, de tal modo que saí contrariada. Mas aí é preciso achar um jeito civilizado de se expressar.
Como já sinalizou, há uma evidente identificação com projetos artísticos que passem por uma realidade brasileira, como naquele ensaio em que você abordou os grupos ideológicos e o teatro da década de 1970 [Quem faz o teatro, no livro Anos 70 – Teatro, editora Europa, 1979], assumindo perspectiva socialista e humanista.
Acho que isso não é da minha geração, mas uma escolha, uma formação. Você vai por ali, e não arredei pé, não dava mais tempo. Isso era até necessário porque eu cresci numa ditadura, fui formada durante uma ditadura, então você tinha que… E ainda acho que precisa de tudo isso.
Qual a dificuldade em apreender o objeto artístico e não se deixar levar exclusivamente pelo viés ideológico?
Isso oscila também: às vezes se consegue fazer, às vezes não. O texto às vezes fica totalmente tendencioso porque tem uma empatia muito grande com o projeto artístico e você não sabe que está sendo tendencioso. E vice-versa, coisas fantásticas sobre as quais você tem repulsa porque contrariam o seu projeto, a sua visão de mundo, a sua ética. Se bem que a direita raramente faz coisas boas. Do fundo do coração, eu acho a direita muito pior do ponto de vista estético, não tem vergonha nenhuma da sua caretice, da sua bobagem.
Como lida com o erro?
Eu agora não releio [as críticas] para escapar disso. Acabou, fechei, nunca mais vou reler. Mas é inevitável, e é horrível. Eu cometi todo tipo de erro: de percepção, de linguagem, de grafia. E aí soma-se a transferência do seu texto para o jornal, os erros de todas as pessoas que estão no meio, que são as chamadas “gralhas” e que abundam. Depois, quando vai ver, não foi você que cometeu e não se sabe mais quem é o culpado. Mas é inevitável.
Há textos sobre os quais eu diria que me arrependo, no sentido de não ter compreendido determinado artista ou tê-lo compreendido tarde demais, não tendo tempo de voltar atrás. Um exemplo disso é o João Falcão [diretor e dramaturgo pernambucano nascido em 1958], que eu lamento até hoje, porque acho um cara interessantíssimo, fantástico, inteligente como dramaturgo, como trama, como diretor. E, por causa disso, eu sempre achava que ele tinha que fazer uma coisa mais séria do que ele estava fazendo. Essa ambição é minha e não dele, de achar que aquele homem tinha que estar fazendo uma coisa de uma gravidade muito maior. Quando ele fazia espetáculos levíssimos, maravilhosos, bonitos, eu ficava cobrando o homem. Vi A máquina [2000], vi Um noite na lua [1998], achei fraquinho. Vi Cambaio [2001, escrito com Adriana Falcão], que era maravilhoso, deslumbrante. Enfim, esse é um dos que lembro, mas existem muitos outros artistas que eu subestimei. Não lamento os que eu superestimei porque o fiz pelo entusiasmo da hora. Às vezes você passou a semana inteira vendo coisas horrendas, mal-feitas, capengas ou tristes, e aí vê um espetáculo que é mais ou menos e fica entusiasmado. Mas esses são por contiguidade, fazem parte da vida do crítico.
 Fernando Stankuns
Fernando Stankuns Ensaio do espetáculo ‘Cambaio’ (2001), direção de João Falcão
Nunca mais, depois que saí da escola. Aliás, eu nem me formei na ECA, formalmente falando, porque eu não tenho diploma. Quando fui buscar, não tinha mais. Eu entrei na faculdade e já comecei a trabalhar num jornal. A vida ia rolando, nunca tive tempo para voltar à faculdade. E nem interesse. A formação era toda na prática mesmo. Mas como é um tipo de profissão que exige de você estudar constantemente, então não tem muito problema. Eu gosto de estudar, sempre gostei. Você não pode ficar parado. Vai estrear a montagem de um texto: ou você já leu ou você tem que ler, além de se inteirar dos assuntos correlatos.
A busca pela clareza na argumentação do texto é uma constante?
Eu tenho esse esforço, não sei se agrada ou não, mas isso é do jornalismo, de falar realmente alguma coisa com o leitor. Não ajo como se fosse um artista que vai jogar um enigma na atmosfera ou na água e ver a onda que sai dali. A ideia é que seja assim, nem sempre conseguimos. Meu pai dizia que não entendia nada do que eu escrevia, era quase um suplício que ele atravessava. Tampouco me interessava a condescendência. Eu dizia não para aquela coisa de fazer um repertório simplificado para apresentar na periferia. Porque a produção cultural do outro é totalmente complexa, sofisticada, elaborada a partir de outros elementos. Então, por que quando você vai levar lá tem que mostrar um negócio mastigado?
Outro aspecto característico de seus textos, a meu ver, é a capacidade de transcender aspectos da obra. Você desloca o leitor/espectador para o campo da filosofia, o convoca a pensar para além dos aspectos mais imediatos da cena. Por outro lado, já ouvi pessoas do meio artístico comentarem a dificuldade em ler os seus escritos, num primeiro momento, como se desafiados, talvez incorrendo no que você falou agora do “mastigado”. Por isso sua crítica pede um trabalho de leitura, de convite e convocação para sondar, juntos, um ponto de vista construído à margem do informativo que as produções costumam enviar à imprensa, por exemplo.
Aliás, eu nunca leio press release. Não li e não leio até hoje. Só leio ficha técnica. Press release é uma coisa que induz e, por medo de indução, eu não leio. O trabalho da arte sobre as pessoas é o de levar você para algum lugar, o de estabelecer relação com outras coisas. É uma condução da apreensão da coisa. Eu não sou o único crítico com esse viés. Isso é bastante comum. O Décio fazia isso. Acho que o texto vai levando você para algum lugar mais amplo, estabelecendo associações, esse é o caminho que a obra faz dentro de nós. Lógico, se você vai estudar teatro, vai estudar muitas outras coisas, vai se ligando às artes visuais, à música.
O Oficina, naturalmente, me formou também. A arte forma o seu crítico, essas coisas exponenciais que eu testemunhei fizeram a minha cabeça também. O Oficina ainda é um projeto ardente
Talvez resida aí um campo autônomo que você preserva: o de pouco contato com o meio teatral, com os discursos dos artistas em suas concepções.
Eu sempre tive certo cuidado de não me aproximar muito dos artistas, até por preservação da imparcialidade, porque eles são muito interessantes, seduzem. De fato, o teatro é um mundo muito sedutor. Eu não gostava – hoje talvez eu até goste – de assistir à preparação do espetáculo, porque essa coisa de acompanhar a preparação já me deixa totalmente a favor, pois é tão fascinante o processo de construir aquela coisa…
O Sábato propôs isso como trabalho de conclusão de curso. Pediu que acompanhássemos os ensaios de um espetáculo, do primeiro ao último dia, o da estreia. A turma dele toda fez isso, dividida em dois espetáculos para acompanhar desde o dia 1, quando o diretor senta, abre o texto e sequer definiu o elenco. Eu peguei o Gianni Ratto [diretor e cenógrafo italiano radicado no Brasil, 1916-2005], que era bem de abrir mesa, de esmiuçar o texto. Quando acabou e os espetáculos estrearam, as duas turmas do Sábato que tinham acompanhado as montagens pareciam [as torcidas de] Palmeiras e Corinthians na defesa e no amor por seus respectivos times, agitando bandeiras como se aqueles fossem os melhores espetáculos do planeta.
Qual era o trabalho do Gianni Ratto?
O Fígaro [O casamento de Fígaro, de Pierre-Augustin de Beaumarchais, em 1972] e o time oponente era do Flávio Rangel [diretor, 1934-1988], que tinha um cenário do Ratto, dirigindo A capital federal [de Artur Azevedo, em 1972]. Eram dois lindos espetáculos, mas eu fiquei com a turma do Ratto. O Sábato não tinha problema, ligava e desligava sua empatia, sua simpatia, assistia a ensaios, fazia reportagens. Ele era muito mais forte de espírito do que eu. Nós fizemos isso na ECA também, de outro modo, enquanto estudantes de crítica, tendo que participar da montagem dos espetáculos dos alunos de direção e interpretação. E isso eu odiava, francamente. O pessoal de crítica tinha de fazer coro, coisas desse tipo, fazer a comparsaria dos trabalhos, e isso eu detestava e já não tinha empatia pelo espetáculo do qual estava participando, só por entrar em cena. Nunca me interessei por isso de ser ator, nem em fantasias remotas, mas na formação tinha essa obrigação. O diretor dessa matéria era o Celso Nunes [nascido em 1941], um “tirano”, uma coisa horrorosa (risos). Às vezes encontro com ele e falo que não posso me lembrar dele como professor.
 Reprodução
Reprodução Painel de exposição de 2017 focada na obra e no pensamento de Gianni Ratto
Olha, na verdade, quase toda a minha turma se interessou por dar aulas, pela pedagogia. A turma posterior teve diretores, como o Chico Medeiros [diretor nascido em 1948]. A minha turma foi mais para o lado do ensino. Tinha uma coisa de corpo na época, de dança, e as pessoas foram indo para esse lado. De crítica, da minha turma, teve só duas pessoas que fizeram realmente o curso, que era a Maria Lúcia Candeias e eu. As aulas de crítica eram para duas pessoas. Ela foi escrever numa revista, a Isto É, e eu fui para o Estado.
E entre os professores, além do Sábato?
Eram todos muito bons. O Jacó [Guinsburg, editor e professor nascido em 1921 na atual Moldávia], com característica muito forte na estética. O Décio, que deu aula de teatro brasileiro, não era um professor tão bom quanto escritor; era uma pessoa maravilhosa, fantástica, depois continuei encontrando com ele ao longo da vida, fizemos coisas juntos. Mas era um professor que colocava um caderno na frente e ia falando, isso dava um sono… E tem quem dissesse o contrário, que assistia às aulas dele por causa das maravilhas que ele falava. Eu preferia os textos: me dá esse caderno que eu quero ler… Havia ainda o Anatol [Rosenfeld], que deu três semestres de estética dentro do curso do Jacó. O Anatol tinha tudo, falava muito bem, era extremamente charmoso como professor, envolvente. Era fantástico, rigoroso, muito bom. Doutor Alfredo [Mesquita, autor, 1907-1986] deu só um semestre, já querendo pôr um pé para fora, já triste.
No bacharelado a habilitação vinha depois?
No segundo ano da ECA é que você escolhia. Era crítica e dramaturgia, igual à EAD, tinha o mesmo desenho, incluindo direção, interpretação e licenciatura. Acho que licenciatura acabou ganhando em termos numéricos. A Maria Thereza Vargas [teórica e pesquisadora nascida em 1929] era secretária da Escola de Artes Dramáticas, fez o curso em dramaturgia e crítica na EAD, depois veio para a ECA. Não participou oficialmente da ECA, mas de vez em quando o Sábato a convidava para fazer trabalho, participar de uma aula ou outra.
Nesse período, você também foi convidada a participar de atividades formativas envolvendo a crítica, como oficinas, no sentido de trocar conhecimentos?
Numa espécie de insensatez, eu dei aula assim que me formei, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Dei aula lá, sem perceber, por quatro anos. Aula semanal de história do teatro. Foi a única experiência didática que eu tive. Sofria terrivelmente, passava a semana inteira tremendo porque eu tinha que dar tudo num dia só, toda segunda-feira, e era longe. Os outros dias eram tomados pela crítica. Mas o tempo passou e o lugar era muito bom, era uma turma ótima que eu amava e que teve a paciência de me aguentar durante todo esse tempo, falando sem parar durante três horas. Eu não gostava de dar aula, não gosto até hoje. Ter estudante sentado na minha frente, olhando para saber o que ia sair, era uma inversão da minha situação no mundo ideal. Meu marido, por exemplo, adora dar aulas. Ele se aposentou e está triste, uivando pelos cantos porque quer uma classe [Acácio Ribeiro Vallim Júnior coordenou o curso de teatro da Universidade Anhembi Morumbi entre 1999 e 2015]. Mas não suportava mais a estrutura daquela universidade. Já da sala de aula ele chora de saudades. Essa faculdade, por exemplo, é uma empresa, os acionistas são velhinhos americanos que ficam interferindo por tabela no ensino brasileiro. Essa coisa do capitalismo.
Um de seus últimos textos publicados no Estadão foi a partir de Macumba antropófaga, do José Celso Martinez Corrêa e Oficina Uzyna Uzona. Fiquei imaginando então se você viu Gracias señor, em 1972.
Vi e escrevi sobre, no jornal e numa revista de esquerda, socialista, era uma revista do Cebrap [Estudos, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento], do Fernando Henrique Cardoso, quem diria… [o ex-presidente pertence à equipe de pesquisadores e idealizadores da publicação]. E nós escrevíamos – nós, eu digo, o pessoal da ECA. Texto generoso, sem limite.
O caso do Oficina é emblemático de uma das singularidades nesses 40 anos de prática continuada da crítica: o acompanhamento contumaz de determinados núcleos artísticos. Vide a disposição em percorrer a cidade. Você mora num bairro da zona sul e, no entanto, desloca-se sem sofrimento para acompanhar o Oficina no Bixiga, na região central, que convoca literalmente aos diferentes modos de relação com a cidade e quem nela vive.
E vou com muito gosto. Dura oito horas? Oba! Atualmente, já não saio mais de casa à noite, mas na época sim. O Oficina, naturalmente, me formou também. A arte forma o seu crítico, essas coisas exponenciais que eu testemunhei fizeram a minha cabeça também. O Oficina ainda é um projeto ardente. A geração do Sábato teve dificuldades. O Oficina é sempre um teatro social, com os dedos voltados para o outro, para a alteridade, para o excluído, para o que está embaixo, sempre social e otimista, reconhecendo a força daquilo ali. O Décio compreendeu melhor o Oficina do que o Sábato, que ficava um pouco chocado com a falta de decoro, e que não era democrático para ele.
Você fez revisões sobre os trabalhos do Zé Celso, do Oficina, ao longo dos anos? Como via o desafio desse criador tão inquieto?
É difícil dizer porque fui acompanhando, mas agora vou menos. Tenho até uma certa nostalgia, preciso ter forças para retomar, mas eu não tenho vontade de ir ao teatro. Que estranho, né? Eu parei e parece que perdi meu lugar, devo ter ficado com certa dor de cotovelo de não ter mais aquele lugar, e agora! Não sei analisar isso. Mas foi um privilégio ter acompanhado esses grupos, Oficina, o CPT, o Tapa, entre outros grandes projetos. Tem uma porção de artistas fazendo coisas, provavelmente interessantes, e não tem quem olhe e escreva.
Você entende crítica como ofício?
Acho que sim. É uma coisa constituída, e fazemos disso um ofício. Pode ter aí uma grande quantidade em doses de afeto, mas não é amadorismo. É ofício, escola, estudo. E, retornando à questão pessoal, voltar para as coisas que nunca fiz, ter uma vida doméstica, isso eu gosto muito. Tenho achado bem interessante. Tem gente que não gosta muito, que fica angustiada. Quando minha mãe se aposentou [Isaltina] ela ficou doente, não sabíamos o que fazer, porque ela também não ficava em casa, mas descobriu que não gostava de ficar em casa.
 Bob Sousa
Bob Sousa Uma lida profícua com os arquivos
Tive, e muitos interessantes também. Essa coisa do Idart [Departamento de Informação e Documentação Artística criado em 1975 e vinculado à Secretaria Municipal de Cultura na gestão do secretário Sábato Magaldi, tendo como diretora Maria Eugênia Franco] me levou para a documentação e nela eu descobri uma atividade fascinante. Comecei a pensar em tudo isso: no registro, no suporte. É tão grande a demanda de um arquivo que você entra em várias áreas do conhecimento para conseguir resolver a preservação, a classificação de uma coisa, a relação desse objeto com o espaço onde ele está. Enfim, são tantos os desafios do arquivista que eu gostei muito dessa atividade. Fiz porque o Sábato queria implantar esse arquivo e foi um período maravilhoso.
Faço parte da equipe de implantação, tendo o campo teatral supervisionado pela Maria Thereza Vargas. Ela é excelente, sabe trabalhar com a dinâmica de equipe, habilidade que em geral o crítico não tem. O crítico é o atirador solitário, que fica escrevendo nas máquinas. E isso era um trabalho coletivo que ficou tão bonito e não se desmanchou até hoje em termos de amizade. Maria Thereza, Sílvia Fernandes, Mauro Meiches, Djalma Limongi Batista, que era fotógrafo, bem como João Caldas, Emídio Luisi, mais Berenice Raulino, Isabel Garcia, entre outros nomes. Esse trabalho depois passou para o Arquivo do Estado e está lá até hoje. Um pessoal fantástico. Acho que o período que entrei foi a partir de 1977, fiquei por 16 anos. E era muito corrida a vida porque tinha que estar lá ao meio-dia e sair às 19h, mais a vida noturna no teatro. Um tipo de contrato com seis horas/dia. Quando eu comecei, ia três vezes por semana ao teatro, depois duas vezes.
Em geral, o seu deslocamento de sua casa até os teatros era feito de táxi?
O jornal tinha um carro. Depois, no fim, eu resolvi trocar por táxis porque o jornal foi ficando cada vez mais mambembe e os motoristas me esqueciam ou não vinham, quebrava o carro, e eu comecei a ficar insegura. Nos dois últimos anos eles vinham me buscar, mas eu voltava sozinha. Quando comecei os jornais eram assim, levavam o repórter até o lugar. Agora não, agora é: “Se vire”.
Continuando…
Depois do Idart eu organizei um arquivo no Rio de Janeiro, do Inacem [Instituto Nacional de Artes Cênicas], que não era da Funarte, um projeto para ocupar um prédio novo. Foi bem demorado, mas fiz esse trabalho. Ia paro o Rio, passava dois dias, segunda e terça, e trabalhava com uma bibliotecária lá. Às vezes eu ia no dia anterior para ver espetáculo no Rio. Esse trabalho era mais uma organização de acervo, não era documentação.
E depois trabalhei no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, aonde fui fazer uma atividade de dois meses e acabei ficando por dois anos, contra a minha vontade, porque eu não conseguia sair. Para eu sair eles precisavam contratar alguém e eles não contratavam. Eu saí antes da sistematização do acervo do Décio. O primeiro foi o do Otto Lara Resende [jornalista e escritor, 1922-1992]. Eu quem fiz, inteirinho. Ele morreu de repente e a mulher dele pegou tudo que ele tinha, colocou dentro de um caminhão e mandou. Então era um arquivo muito complicado, demorou dois anos. Eu gostei muito desse lado porque você também caçava coisas interessantíssimas sobre teatro, pois essa gente toda se envolvia com tudo.
E projetos editoriais, além dos livros que você fez com o José Arrabal na década de 1970? Qual o paradeiro do Arrabal?
Ele sumiu no mundo. Era um professor que veio do Rio de Janeiro para cá, casou-se com uma paulista, dava aula na FAAP e era crítico do Movimento, um jornal de esquerda do Rio. E era assim como que um renegado jesuíta; deixou de ser jesuíta e passou para o lado de lá, ex-militante de esquerda, furioso, se livrando daquela coisa da esquerda. Era muito engraçado. Ele sumiu, faz décadas. Ele vivia em São Paulo. Nós nos divertimos muito porque a relação era contraditória, cada um falava uma coisa. [O escritor José Arrabal mantém um blog em seu nome, aqui]
Eu tinha muita vontade de fazer isso [publicações], mas perdi. Acho que minhas reflexões e textos sobre esse problema da documentação seriam muito interessantes, porque é muito difícil fazer e pensar esse processo, acaba sempre saindo uma coisa original: você acha uma dificuldade, resolve e passa isso para outras pessoas. Mas depois eu vi também que eram muito datados. A arquivística já deu muitos saltos depois disso, mesmo nas artes cênicas.
Será? Eu tenho a sensação de haver lacunas aí nesse caminho. Pelo menos nos espaços público, nas três instâncias, percebo muita precariedade nas condições de trabalho e pesquisa das equipes, das instalações em níveis municipal, estadual e federal. Talvez você pudesse mesmo colaborar para torná-los mais vivos e presentes.
Mas eu já perdi esse avanço da coisa, precisaria estar dentro para ver o que está acontecendo. Eu vi que era muito datado, embora interessante.
E o projeto de compilação das críticas em livro, está andando?
O Sesc [por meio das Edições Sesc SP] disse que iria editar, veio uma moça aqui [Marta Colabone] falando que já tinha digitalizado boa parte dos textos, um avanço. Eu só coloquei como restrição o fato de que já tinha cedido os direitos ao Jacó. Então, se eles forem publicar, precisam fazer uma coedição com a Perspectiva. Porque a Perspectiva, tradicionalmente, editava os textos de crítica teatral. Eu não reli nada da coletânea, não ajudei em nada. Achei que outro olhar faria uma seleção diferente. Aliás, quem fez foi o José Eduardo Vendramini.
Duas pensatas
Os textos a seguir foram publicados em distintas edições da revista Camarim, uma publicação da Cooperativa Paulista de Teatro. Quando a reportagem compartilhou com Mariangela Alves de Lima o conteúdo da pensata fruto de entrevista de 1999, com a qual contribuiu na reflexão sobre O que os críticos pensam da crítica, ela sugeriu que reproduzíssemos o texto editado pela atriz e jornalista Nora Prado. Aproveitamos para pinçar também um segundo artigo dela, vindo à luz seis anos depois, na mesma publicação, e que versa sobre o ofício.
 Reprodução
Reprodução A atividade do crítico, no meu ponto de vista, é o trabalho do espectador sobre a obra. Quer dizer, eu me coloco sempre na posição do espectador. Quando eu falo, eu não falo para o teatro, eu não falo para o artista, eu falo para uma pessoa como eu que está no meio da plateia, que está ombreada comigo, ali, assistindo àquilo. E a função, acho eu, é alargar a repercussão da obra de arte. Prolongar esta conversa em torno daquela coisa que presenciamos. Então não se trata de uma crítica construtiva ou destrutiva. Eu acredito que essa perspectiva se dissolveu hoje. A gente não julga mais porque a gente não dispõe de uma estética normativa, com valores fixos. A arte mudou, a história mudou muito. Trata-se de registrar uma percepção. Nesta percepção está a história da pessoa que vê, e é evidente que a pessoa que vê tem preferências, tem formação melhor numa determinada área e pior numa outra área.
Repercussão
Eu acho que é função da crítica deixar claro como a obra repercutiu e que tipo de percepção é essa, que critérios ela está usando para reagir dessa maneira. Isso pode dar ao artista uma ideia de que aquele perfil de público ele não está atingindo. O que não quer dizer que ele não atinja outras pessoas e que a obra não seja boa. Eu diria que na maior parte a gente não acerta. O Sábato Magaldi costumava dizer, na época em que foi meu professor, que crítico que acerta 70% é um gênio. Mas não me intimida nunca a dimensão, a repercussão de um artista se eu falar que não gosto da obra dele, porque ele é um grande artista. Se eu não for sincera também não vale nada. Eu não estarei cumprindo a minha função.
Função social
Além da repercussão da obra, a crítica tem uma função social que é pelo fato de eu ser uma cidadã e estar dentro da história. Algumas preferências minhas não o são apenas como sensibilidade, mas como cidadã também. Eu, por exemplo, sei que tenho dentro de mim certas preferências por um tipo de Teatro que não ignora a realidade brasileira. Que se interessa pelo que está acontecendo em volta da gente, que problematiza a nossa vida cotidiana. Eu tenho uma preferência por esse Teatro porque eu sou cidadã e quero ver lá coisas que eu estou vivendo. Assim como há um tipo de crítico que prefere uma coisa universal, estetizante, e que está no direito dele, pois há um público assim. Eu fico mais juntinho com aquela questão do engajamento.
PRADO, Nora. O que os críticos pensam da crítica. In: Camarim, ano II, número 12, páginas 8 a 11, setembro de 2005.
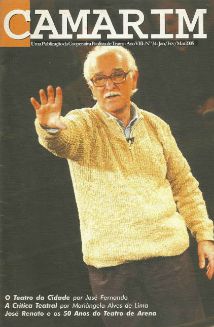 Reprodução
Reprodução Ilustre ancestral de todos os críticos, Aristóteles constatou nas obras dos grandes trágicos procedimentos criativos que considerou mais ou menos bem-sucedidos. Historiou, descreveu e analisou, mas não esteve inteiramente isento da ambição de prefigurar a manifestação artística, de estimular a criação para que procurasse igualar a atitude dos maiores trágicos gregos. Puxando esse fiozinho do manto da Arte poética os teóricos do século XVII organizaram com bastante sensatez regras de composição para obras de arte, em especial para a escrita teatral. Foi um trabalho útil porque os grandes artistas do século encontraram bem definidos os ensinamentos que desejavam transgredir. Para apaziguar a consciência dos críticos a era pós-freudiana revelou, entre outras coisas, a “objetividade da subjetividade” poupando-lhes o trabalho de arquitetar estéticas normativas destinadas ao repúdio. Assim, quando o leitor encontra em seu periódico de eleição um pequeno espaço no qual alguém emite juízos sobre determinados espetáculos, ele sabe que se trata, fazendo as mudanças devidas, de um seu companheiro de plateia. Roçou seu cotovelo no cotovelo um pouco calejado desse espectador tenaz que nem por isso ocupa, no circuito de difusão da obra de arte, uma posição muito diferente da sua. Ambos trazem para a sala de espetáculo as suas experiências pessoais, suas limitações físicas e emocionais, suas preferências e couraças íntimas que os tornam incapazes de usufruir determinados aspectos da manifestação teatral.
Há certamente tantas distinções entre o crítico e o espectador comum que só caberiam em tratados, mas a inserção do crítico em meio ao público, modestamente eximido do papel de árbitro, é também consequência de uma rejeição programática da cultura às estéticas normativas. A arte contemporânea impôs a si mesma o dever de estilhaçar modelos sempre que os reconhece. E é cada vez mais difícil reconhecê-los. Ninguém tem mais os pés plantados em uma plataforma que permita comparar a estatura de manifestações radicalmente diversas. É preciso, pois, em grande parte, aceitar os termos que cada obra propõe, singularmente, como um gesto de revolta contra paradigmas.
Restam-nos desejos, preferências – e embora contra isso também se insurjam alguns artistas –, a história que impregna a vida de cada indivíduo como a parte que o liga ao todo da coletividade. Por outro lado, o teatro moderno, ainda encantado com a descoberta da sua autonomia, experimentando formas e técnicas, fala muitas vezes para si mesmo e sobre si mesmo, e esse solilóquio, que pode ser valioso como o são as revelações do inconsciente, não sabe ainda do que fala e para quem fala. Também o fenômeno artístico é, nesse sentido, uma manifestação das subjetividades dos artistas.
Não é de admirar que o teatro considere desagradável e até prosaica a expectativa de interlocutores acomodados no espaço da plateia, filtrando o voo da arte pelo crivo das frustrações pessoais, das atribulações do quotidiano, de diferentes comprometimentos ideológicos. Mas, de qualquer forma, as antenas dos artistas sintonizam o devir enquanto o crítico e o público a quem se dirige a arte estão ancorados no presente. O presente, de onde talvez desejássemos ser arrancados em direção a um mundo melhor, não parece a toda gente um lugar digno. Tanto que o crítico alemão Theodor Adorno proclamou: “A crítica legítima tem de se adiantar às obras que critica: praticamente tem que inventar as obras que seja capaz de criticar”.
Mas esta é também uma frase carregada de história, pronunciada em uma conferência de 1965. Nos anos 50 e 60 a atuação crítica foi, entre nós e no âmbito da cena internacional, solidária com a produção teatral. Em um teatro de escala menor, mais acessível à apreciação de um único observador, o crítico circulava entre o palco e a plateia, ou seja, dialogava com as duas pontas do circuito teatral. Era uma função auto-atribuída, ou seja, um compromisso assumido de contribuir para a elevação do nível artístico do teatro brasileiro. Críticos dos grandes periódicos como Alberto D’Aversa, Décio de Almeida Prado, João Apolinário, Sábato Magaldi e Ruggero Jacobbi cumpriram a dupla tarefa de instruir o público em artigos situativos e avaliar os espetáculos tendo como perspectiva o progresso das carreiras dos artistas e o aperfeiçoamento artístico e técnico das companhias. De um modo geral não se guiavam por um ideário estético pré-concebido, mas antes por um princípio que todo trabalho intelectual teria por finalidade agir sobre o curso da história. Tanto que o esboço de um código de ética para o teatro, redigido para um congresso de crítica teatral em 1951 recomendava ao crítico juntar-se ao batalhão da vanguarda: “A nossa crítica deve ser militante, uma crítica de choque, pois se lhe falta às vezes a matéria prima vital – o espetáculo – sobram-lhe motivos de campanha para a incorporação do teatro aos nossos meios normais de educação pública”.
São menos aguerridos os críticos de hoje, tratam mais da ressonância das obras do que de parâmetros judicativos. São talvez menos generosos porque declinaram da responsabilidade do devir do teatro. No entanto, quando alguns deles, ainda evocando as tábuas da lei, separam as boas das más ovelhas, aquela parte da nossa subjetividade onde reside a história faz coro a uma personagem de Brecht: “A verdade é filha do tempo, não da autoridade”.
LIMA, Mariangela Alves de. A crítica teatral. In: Camarim, ano III, número 34, páginas 22 e 23, janeiro/fevereiro/março de 2005.
Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.




