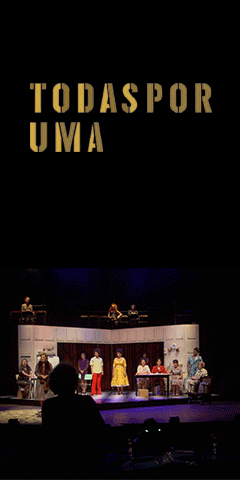O Diário de Mogi
Quem tem medo de Oscar Wilde
31.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 31 de agosto de 1997. Caderno A – 4
Monólogo traz escritor na prisão repudiando a sociedade que o condenou
VALMIR SANTOS
São Paulo – O fantasma do irlandês Oscar Wilde (1854-1900) continua puxando a coberta das seciedades hipócritas e ditas puritanas. Há 102 anos, o escritor irlandês foi julgado e condenado a trabalhos forçados por comportamento “pervertido e homossexual”. Até os dias de hoje, a sentença histórica serve como símbolo da luta pela liberdade sexual. “Oscar Wilde”, o monólogo interpretado por Elias Andreato, expõe uma “carta” do autor de “O Retrato de Dorian Gray” despachada ao seu amante e, mais abrangentemente, à sociedade que condenou.
Despachada entre aspas. Wilde nunca a enviou. Lorde Alfred Douglas, ou Bosie, como tratava o jovem por quem se apaixonou, faltou com a reciprocidade quando o caso desse “amor que ousa dizer seu nome” veio à tona. Chegaram ao conhecimento do marquês de Queensberry, pai daquele belo rapaz, correspondências na qual o remetente tecia loas ao destinatário do tipo “Tu és a coisa divina que eu desejo”.
Foi um escândalo para a época. Julgado numa Londres monarca, meca do conservadorismo de então, Wilde não teve atenuante. Ainda mais porque dono de língua afiadíssima, tão cruel e espantosamente sensata com as vicissitudes humanas (leia, nesta página, diálogo indefectível com o promotor). Custou-lhe dois anos vendo o sol nascer quadrado, submetido a trabalho forçado.
No monólogo em cartaz na ironicamente intitulada Sala Vitoriana, do Stúdio Cristina Mutarelli – um novo, pequeno e aconchegante espaço na Capital -, temos a palavra de Wilde embalsamada pelo corte refratário às regras de uma falsa moral.
Em menos de uma hora, as frases se amontoam e parecem não caber mais no palco/cela diminuto. O público de cerca de 20 pessoas, lotação máxima, espia as deduções cristalinas de Wilde quanto ao que há de mais comezinho numa relação opressora.
Frasista contumaz, o autor de “A Importância de Ser Prudente” e “Salomé”, estilhaça com lascívia e sem complacência. Exemplos:
“Nunca adorei ninguém, a não ser a mim mesmo.”
“Porque todos os homens matam o que amam mas nem todos morrem por amor?”
“A arte só começa onde termina a imitação.”
“Estamos no país dos hipócritas.”
“A arte não deve aspirar ao público; é o público quem deve aspirar à arte.”
“Eis o resultado de tê-lo enviado uma carta.”
São algumas das muitas frases jorradas por uma interpretação intensa de Elias Andreato. Ele domina o timming de cada fala. Se relaciona tranqüilamente com o pouco espaço que divide com uma poltrona, uma taça de alumímo, um varal… O ator, que vem de outro monólogo implacável, “Van Gogh”, no qual mergulhava fundo na loucura sã, volta a atingir o equilíbrio neste “Oscar Wilde”, desta vez não necessariamente com tanta introspecção. Afinal, Oscar Wilde era de uma elegância de um dândi.
Viven Buckup, a preparadora corporal que vem se dando muito bem na direção (“Para Sempre” e “Cenas de Um Casamento”), consegue aqui, mais uma vez, desfocar a montagem da figura predominante do diretor. Quanto menos aparece, mais se percebe o trabalho de Vivien, que parece dialogar com tranqüilidade com seus atores.
Atuação e texto harmonizam de tal forma que resta a limpidez do verbo ecoando nas quatro paredes – contando a imaginária. Quando mede o tempo pelo “latejar da dor”; quando condena a superficialidade das relações, sejam heteros (o casamento com Constance, aos 30 anos, foi para ele uma decepção) ou homossexuais; quando condena a unanimidade burra da opinião pública; quando ridiculariza a imprensa sensacionalista; enfim, quando raspa lá dentro de si para transformar bílis em poesia, Oscar Wilde, via Andreato, não reivindica outra coisa que não a supremacia do belo sobre o sofrimento – aquele como conseqüência deste.
Uma ode à condição de artista numa época tão adversa – época que se reproduz em novos códigos, de quando em quando -, “Oscar Wilde”, o monólogo, lapida a emoção com poder arrebatador de transferência. O autor, o ator e a cenografia do talentoso Namatame suspendem o tempo e o espaço e transpõem o espectador para aquele lugar nenhum em que o pensamento é banhado pela luz e pelo silêncio.
Oscar Wilde – Adaptação e interpretação de Elias Andreato. Direção: Vivien Buckup. Sexta e sábado, 21h30; domingo, 20h. Studio Cristina Mutarell (avenida Nove de Julho, 3.913, Jardim Paulista, tel. 885-7454). R$ 15,00. 20 lugares. Até 28 de setembro.
‘O Homem e a Mancha’ leva à introspecção
São Paulo – Caio Fernando Abreu, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea, autor de “Morangos Mofados”, também se inclinou para o campo da dramaturgia. Faz pouco tempo, estava em cartaz na Capital “A Maldição do Vale Negro”, um melodrama. Antes de morrer, em 1995, ele deixou pronto “O Homem e a Mancha”, monólogo interpretado agora por Marcos Breda, sob direção de Luiz Arthur Nunes, ambos conterrâneos e amigos de Abreu.
Morto em decorrência da Aids, o autor consegue exorcizar a doença sem mencioná-la. Prefere enveredar pelos labirintos da literatura, especificamente da dramaturgia, para produzir um texto que diz respeito ao momento pelo qual estava passando. “O Homem e a Mancha”, ao mesmo tempo, constitui um exercício instigante de introspecção.
Abreu remove a máscara e pede um ator despido de personagem. A história começa assim. Aos poucos, o ator, no caso Breda, ingressa no universo de Miguel Quesada, agora sim no plano da ação propriamente teatral. Quesada é um aposentado que abdica de viver e decide se manter recluso em sua casa – um distanciamento comparado a Proust ou Onetti, citados inclusive. Romper com o mundo lá fora é o cúmulo da interiorização; do voltar-se para si como única forma de manter-se agarrado ao fio da vida que resta.
O movimento de Quesada, um delírio em que tempo e espaço se deslocam a todo instante, deixa explícito a convivência de Caio Fernando Abreu com a doença. As crônicas, publicadas no jornal “O Estado de S. Paulo”, prenunciavam o transbordamento da sensibilidade.
Não, “O Homem e a Mancha” não é uma efeméride. Possui estrutura dramatúrgica, traz no cerne um libelo à arte da interpretação – o ator perde sua neutralidade para o personagem, e depois a recupera ao final; mas nunca se sabe onde começa uma ou termina outra.
Marcos Breda tem um desempenho comovente, uma entrega total ao texto. Com toda a pobreza dos recursos de cenografia e iluminação, à la Eugênio Barba, sobrepõe-se o seu trabalho de interpretação. Na Sala Minam Muniz do Teatro Ruth Escobar, o espaço pequeno empresta maior visceralidade na aproximação com o público.
O diretor Luiz Arthur Nunes pretende esse despojamento, como indica o espírito da obra de Abreu. Nessa pulsão onírica, em que vírus e imaginação se confundem, “O Homem e a Mancha” confessa a necessidade do outro. A chance de compartilhar com familiares e amigos, principalmente com a criação literária, foi um alento para o escritor e dramaturgo gaúcho.
O Homem e a Mancha – Sexta, 22h; sábado, 21h; e domingo, 20h. Teatro Ruth Escobar/Sala Miriam Muniz (rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 289-2358). R$ 15,00. Até 28 de setembro.
‘Hamlet’ equilibra a navalha na carne
24.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 24 de agosto de 1997. Caderno A – 4
Marco Ricca vai aos limites do personagem nesta montagem do diretor Ulisses Cruz
VALMIR SANTOS
São Paulo – Ninguém passa incólume ao príncipe Hamlet. Desde o final do século, até os tempos que correm, seus intérpretes mais veementes foram ao fundo do poço para trazer à luz o som e a fúria deste que é considerado um dos mais perfeitos personagens criados por William Shakespeare. Edmundo Kean, Laurence Olivier, John Gielgud, Peter O’Toole, Sarah Bernhardt, para citar célebres nomes do teatro e do cinema mundial, sentiram os fantasmas em seus calcanhares.
Nestes anos 90, o diretor José Celso Martinez Corrêa e sua companhia Uzyna Uzona celebraram Shakespeare no Teatro Oficina com uma montagem dionisíaca e hifenada de “Hamlet”. Zé Celso carnavalizou, com Marcelo Drummond, a cena em quase cinco horas de espetáculo. É a lembrança mais fresca da peça em palcos paulistanos.
E “Hamlet” é revisitada outra vez. Quando Ulysses Cruz topou o convite de Marco Ricca para o projeto da peça, havia uma dúvida hamletiana se o diretor radicalizaria na sua concepção pop para o bardo inglês. Quem assistiu a “Péricles – Príncipe de Tiro”, outro Shakespeare, que resgatou o público para o Teatro Popular do Sesi, sabe do que se está falando.
O forte apelo visual daquele espetáculo, com uma complexa mecânica de palco e cenários grandiosos, acabou os jovens para a tragédia que, afinal, era sua essência. No recente “Rei Lear”, outro mítico papel shakespeariano, com Paulo Autran encabeçando Ulysses Cruz surgiu comedido, talvez pela presença do ator consagrado.
Mas o”Hamlet” que se vê no palco do Teatro Sérgio Cardoso, ainda que com solos de guitarra e com a globalizadíssima “As Time Good Bye” equilibra o espírito e a palavra de Shakespeare com este final de século descartável. Mais: não tem vergonha de apontar em meio à tragédia clássica.
O “Hanilet” de Ulysses Cruz indica um momento luminoso na sua carreira. E a maior evidência da maturidade artística, em 12 anos de direção, cristalizando um processo que reconhece a importância do trabalho de ator, mas não ignora o que lhe rodea em cena, a relação espacial, física.
Alguns elementos refletem, aqui, a evolução conceitual do encenador. Os músicos que executam a trilha ao vivo retorna ao mesmo segundo plano, suspenso. O público vê e ouve os músicos. O preenchimento do espaço (plano, lateral e aéreo) se dá pela movimentação dos atores, quer em bloco ou individualmente.
Outro aspecto marcante desta montagem é a possibilidade que o diretor tem de trabalhar com atores já afinados com sua concepção de teatro. Por exemplo: Mariana Muniz, Marcos Daud e Hélio Cícero estavam em “Perícles”; Rubens Caribé e Milhem Cortaz contracenaram em “O Melhor do Homem” – direções do próprio Cruz. Nos papéis principais, tem-se Ernani Moraes (ex-Tapa), de volta à Capital como o Rei Claudius, e o primeiro-ator da montagem, Marco Ricca, na pele de Hamlet.
O perfil do personagem, transitando entre a loucura deliberada e a consciência dilacerante, remonta, de forma impressionante, aos dois últimos papéis que Ricca interpretou no teatro. A visceralidade de Paco em “Dois Perdidos Numa Noite Suja” (Plínio Marcos) e a busca utópica de Treplev em “A Gaivota” (Tchecov) estão embutidas na angústia e no desespero do príncipe da Dinamarca.
Logo na sua primeira entrada, Ricca deixa transparecer no corpo a retidão de hamlet. Seu andar é tenso, passa assim praticamente o tempo todo, como se cobrado pela força divina que vem dos céus e entra em choque com a confusão terrena. O paiem vida assusta, imagine seu fantasma! (A premissa freudiana em Shakespeare é uma leitura bastante interessante).
Uma navalha na carne. É assim quem o Hamlet de Ricca monologa com o “ser ou não ser” contemporâneo. Na boca de cena, rosto espumado, barba para fazer, a vida lhe roga um sentido… Mas, como bem afirma o Rei claudius adiante, em simulacro de comiseração movido pelo chão que lhe engole, “palavra sem pensamento nunca comovem os céus”.
Marco Ricca, 34 anos, vai aos limites que Hamlet impõe. O humor nervoso, a vigília do olhar espantado, a dor que penetra como uma faca, a composição corporal da loucura sã, enfim, as músicas ficam patentes em cada fala, gesto ou movimento.
Não é só Hamlet/Ricca quem quebra o gelo da tragédia, de quando em vez, com humor sutil. Ernani Moraes, um tio Claudius fanfarrão, e principalmente Marcos Daud, um impagável Polonius e um coveiro idem, tê m lá seu quinhão. Daud, aliás, traduziu e adaptou o texto de Shakespeare.
Na linha, pode-se dizer, cômica, destaca-se ainda Hélio Cícero (Fantasma do Pai de Hamlet e o hilário Osric, um cortesão). Plínio Soares, (Horácio, amigo de Hamlet), Rubens Caribé (Laertes, filho de Polonius), Mariana Muniz (Gertrdes, mãe de Hamlet) e Julia Feldens (Oféilia, filha de Polonius, difícil e alentadora performance desta gaúcha de 19 anos) são outros destaques de um elenco coeso.
Esta superprodução prima por uma estrutura gigante de cenário, que representa um castelo medieval mais não “polui”. Ao contrário, Ulysses Cruz e Cyro menna Barreto, responsáveis pela cenografia, atentam para a importância do espaço vazio, o vácuo como força-motriz . A iluminação de Domingos Quintiliano desenha o espaço, o tempo e o ator com uma influência raramente alcançada. Os figurinos de Elena Toscano trazem o estilo étnico-militar em voga na moda européia, sintomaticamente atemporais.
O quarteto musical (guitarra, teclados, sax eletrônico, violoncelo e flauta), sob direção de Eduardo Queiróz, interpreta a trilha sonora ao vivo, dialogando do início ao fim com a movimentação dos personagens. O tom minimal traduz a imperfeição humana em seu estado mais instintivo/primitivo.
É a grande montagem deste ano nos palcos paulistanos, até agora. Em cerca d eduas horas e meia, em dois atos, não há indício de cansaço. Tampouco é fast food, porque a densidade e o impacto não diluem. O espectador vai encontrar um Shakespeare revigorado para o teatro de hoje. “A peça é o meio pelo qual eu apanharei a consciência do rei”, deduz Hamlet, quando pede à trupe de atores recém-chegada ao reino que encene o assassinato do seu pai. É espelho do autor que Cruz, Ricca e cia. fazem refletir em direção aos olhos de uma platéia que, como na história do príncipe, também habita este “lugar cheio de truques” que é o mundo.
Hamlet – De Willian Shakespeare. Direção: Ulysses Cruz. Com Bartho de Haro, Marcelo Decária, Marcos Suchara, Nicolas Trevijano, Plínio Soares e outros. Quarta a sábado, 20h. Domingo, 18h. Teatro Sérgio Cardoso (rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 288-0136). R$ 20,00 (sexta e domingo) e R$ 25,00 (sábado). Duração: 150,00, dois atos com intervalo de 12 minutos. Censura livre. Até 15 de outubro.
Bertazzo democratiza acesso ao palco
17.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 17 de agosto de 1997. Caderno A – 4
Nova coreografia traz grupos de menores carentes da periferia e cidadãos-dançantes
VALMIR SANTOS
São Paulo – Mesmo a abundância de uma Carla Perez não traduz o repertório do corpo brasileiro. A vastidão das possibilidades corporais é maior do que nossa vã imaginação. Ivaldo Bertazzo vem batendo nessa tecla, ou nesse quadril, não é de agora. Suas idéias ganharam maior visibilidade no ano passado, através do projeto “Cidadão Corpo”, espetáculo e livro. A segunda fase vem com “Palco, Academia e Periferia – O Penhor Dessa Igualdade”, também um espetáculo, no Sesc Pompéia.
O que Bertazzo começou a fazer no ano passado, com uma éspécie de “desmontagem” corporal, percorrendo todos os ossinhos com coreografias que privilegiam a movimentação coletiva, desta vez surge ampliado em cena. Num processo que ernerge do particular para o universal, o trabalho vai de encontro à margem.
Além dos bailarinos que desenvolvem um processo mais profundo sob seu comando, e dos cidadãos dançantes, como chamam as pessoas “comuns” (profissionais liberais) que foram incorporados à pesquisa, Bertazzo convoca grupos de percussão que atuam na periferia, vindos de vários pontos do Brasil.
Toda essa reverberação, somada ao gênio musical Naná Vasconcelos, desemboca num espetáculo contagiante. A perspectiva de uma cidadania através da manifestação do corpo coincide com este momento agudo da sociedade brasileira, onde o social se tornou pauta obrigatória, ainda que bastante desprezado.
É assim que “Palco, Academia e Periferia” chama para a cena grupos como Lactomia (Salvador), Banda Bate Lata (Campinas), 16 Meninos da 13 de Maio (bairro paulistano da Penha), Favela Monte Azul (também da Capital) e Funk’n Lata (da Estação Primeira da Mangueira, Rio) – todos formados por crianças carentes que vêem no exercício da arte um alento para a sobrevivência. Cada um se apresentou por dois dias consecutivos dentro do projeto. No domingo passado, O Diário conferiu a performance do Funk’n Lata.
Os meninos da escola de samba carioca estão acostumados a se apresentar para grandes massas, em quadras ou casas noturnas onde são realizados os tradicionais bailes funk. No palco do Sesc Pompéia, o impacto da bateria foi arrebatador. A participação em si – e deve ter acontecido o mesmo com os outros convidados – constitui um capítulo à parte. Quando destoa, complementa pela diversidade verde e amarela.
Antes deste coroamento da noite, acontece propriamente o espetáculo coreografado e dirigido por Bertazzo. Durante 16 músicas interpretadas ao vivo por gente do quilate de Nelson Ayres e Rodolfo Stroeter, mais a magia percussiva de Naná Vasconcellos, e o que se descortina e uma identidade cultural, jeito brasileiro de ser.
O maculelê, a capoeira, o balé clássico, a dança moderna e até um gestual oriental, enfim, o espetáculo é um leque expressivo. Além do estilo, a diversidade é representada ainda pelo perfil corporal. São magros, gordos, baixos, altos, até gente de óculos entra na dança. Essa comum-união é uma das principais virtudes do trabalho de Bertazzo.
Ele descarta uma estética pré-estabelecida, calcada em códigos rígidos, e deixa vir à tona uma espontaneidade que aflora o jogo cênico. Daí o espírito lúdico, a celebração como um rito de festa, de encontro. Como a quadrilha junina afrancesada, um dos melhores momentos. Nada é certinho e o efeito coreográfico nasce disso.
“Palco, Academia e Periferia envolveu cerca de 190 pessoas, entre amadores e profissionais. A harmonia só foi atingida por conta de uma direção aberta e da entrega das pessoas em cena. Democratizar o acesso e desmitificar o estabelecido – as bases do projeto estão bem claras.
Palco, Academia e Periferia – O Penhor dessa igualdade – Coreografia e direção: Ivaldo Bertazzo. Última apresentação hoje, às 19h, com participação especial dos Meninos da Favela Monte Azul (SP) e Lactomia (BA). SESC Pompéia (rua Clélia, 93, Lapa, tel. 872-7700). R$ 20,00 (R$ 10,00 estudantes e comerciários).
|
“Prometeu Engaiolado” é maior que a encomenda |
São Paulo – Voz pausada, andar vagaroso, Jorge Dória se esforça para driblar as limitações da idade – 61 anos – em mais uma comédia da carreira que está completando meio século. A figura carismática do ator é a razão de ser de “Prometeu Engaiolado”, um rasgo de atuação caipira em temporada no Teatro Maria Della Costa. Pena que o tamanho do texto e a duração da montagem, deponham contra o elenco.
Diante das limitações físicas de Dória, o autor Chico de Assis e o diretor João Bethencourt fariam um bem danado se reduzissem o tempo da peça, que se torna arrastada porque todo o ritmo está praticamente nas costas de Mauro de Almeida, o Prometeu, que constrói com talento a figura de um jeca. Mas haja fôlego para carregar um espetáculo!
Eliana Barbosa, a Minervina, não ousa um milímetro além da caricatura fácil da noivinha submisa. Anna Cavazzani, com o papel reduzido da empregada, não tem sequer chance de dizer a que veio. Já Dória, o poderoso Coronel Procusto, uma mistura daqueles personagens pervertidos das histórias de Jorge Amado com o brucutu ACM, o senador, vai de encontro ao desbragado humor popular do qual o público já é conhecedor – quer no palco, quer na televisão.
Jorge Dória traz a virtude de quem domina a cena aberta com muito jogo de cintura. Quando percebe que lhe escapou uma fala ou uma marcação, não titubea em recorrer aos “cacos”, os acréscimos de supetão ao texto original. Mas quando a interpretação exige muito esforço físico, como é o caso aqui, as limitações ficam patentes.
Longe do preconceito à idade, mas quando o trabalho artístico conjuga também o desempenho corporal e espiritual, o resultado é indiscutível.
“Prometeu Engaiolado”, que nada tem que ver com a tragédia seminal de Ésquilo, é uma comédia que exige muito. E, nunca é muito repetir, um remanejamento do autor ou do diretor – ou de ambos – não traria prejuízo algum. Como está, com variações abissais de ritmo, com “brancos” constrangedores para. o potencial de Jorge Dória e Mauro de Almeida, enfim, como está é frustrante. Pelo menos foi assim na estréia.
Prometeu Engaiolado – De Chico de Assis. Direção: João Bethencourt. Com Jorge Dória, Mauro de Almeida e outros. Quinta a sábado, 21h; domingo, 18h. Teatro Maria Della Costa (rua Paim, 72, Bela Vista, tel. 256-9115). R$ 20,00 (quinta e sexta), R$ 25,00 (domingo) e R$ 30,00 (sábado). 120 minutos. Até 21 de dezembro.
Espetáculo se equilibra no caos humano
São Paulo – Depois de Fernando Arrabal, montado há pouco por alunos da Unicamp, na excelente encenação dirigida por Márcio Tadeu, outro autor espanhol filiado ao teatro pânico ganha os palcos paulistanos. É a vez de Fernando Nieva, um dos mais importantes nomes da dramaturgia contemporânea na terra de Gareia Lorca. O resultado alentador está a cargo da Companhia dos Lobos, sob direção de Marcos Azevedo, ex-integrante da Companhia de Opera Seca – leia-se Gerald Thomas.
“Trilogia da Danação”, o espetáculo, reúne três peças curtas de Nieva. São textos que penetram fundo na condição humana. Os personagens transitam sempre no limite da existência, tataendo porões que conduzem à iminência do instinto animal em seu estado mais bruto.
Abre com “Não É Verdade”, uma intrincada história de terror com fortes tintas kafkianas. Uma mulher decide experimentar fortes emoções com um aventureiro que se mete na floresta para se reunir com um grupo de lobos. Em nome da voragem, ela desbanca a ordem da vida cotidiana, deixando perplexos o primo e a empregada que termina assassinada violentamente. “Os bichos, os bichos sãos austeros”, comenta um personagem, imerso na loucura.
Na segunda peça, Nieva faz blague da universal historinha de Chapeuzinho Vermelho. Cansada do marido fleumático demais, a mulher o troca por um sujeito beberrão, com pinta de lobo mau, que a faz experimentar pervertidas taras sexuais.
“Trilogia da Danação” encerra com “Paixão de Cachorro”, a peça mais impactante. Nela, os protagonistas perdem os sentidos e o instinto animal é quem impõe as regras. Em certo dia, uma prostituta amanhece com um rabo peludo que brota do bumbum. A mulher encara o fenômeno com resignação cristã. Subumana frente ao espelho, acredita que o pecado veio a calhar. Mas o “rabo” lhe traz muitas revelações quanto a conceitos como amor e amizade.
Mesclando ingredientes como a antropofagia e a animilização do ser humano, a dramaturgia de Fernando Nieva faz um corte deste fim de século com uma crueza impressionante. Tudo se move a partir da pulsão interior dos personagens.
A montagem dá conta do recado. O elenco tem fôlego para se revezar nas três histórias. Virginia Jancso, Lia Armelin, Antonio Peyri, Melissa Vettore e Cesar Ribeiro fazem interpretações viscerais, desenhando personagens bizarros, como convém ao autor
Marcos Azevedo também não fica atrás na direção. Retrata muito bem a atmosfera dos textos, o estranhamento gestual dos personagens, verdadeiros tipos. Com exceção da voz em off, faz pouca concessão ao tea tro de Gerald Thomas. Este o influencia, sim, mas Azevedo relê a cena a seu modo, num trabalho que reflete um intercâmbio efetivo com o elenco. “Trilogia da Danação” é um espetáculo surpreende por conciliar equilíbrio cênico e interpretativo com demasiado caos humano.
Trilogia da Danação – De Fernando Nieva. Direção: Marcos Azevedo. Com A Companhia dos Lobos. Quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. Teatro João Caetano (rua Borges Lagoa, 650, Vila Mariana, tel. 573-3774). R$ 10,00. 100 minutos. Até 14 de setembro.
“Clarisse” autobiografa arte de Renato Russo
17.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 17 de agosto de 1997. Caderno A – 3
Música do novo CD, “Uma Outra Estação”, sintetiza obra do vocalista da Legião Urbana
VALMIR SANTOS
|
|
São Paulo – Muita gente que nunca discutiu Freud e Jung em mesa de bar acabou se transformando um pouco em psicólogo de Renato Russo. Cantando à frente da Legião Urbana, em 11 anos de estrada, ele exorcizou seus fantasmas – e os nossos. Ao mesmo tempo gozou como intérprete e ícone de uma geração. Assim, seus fãs testemunham, a cada canção, uma cumplicidade acachapante. Era o irmão mais velho da turma, já disse por traduzir inquietação, rebeldia e a centelha amorosa que mobiliza todo ser no curso de uma vida.
Nos shows, na cara a tapa para a multidão incógnita, Renato Russo não poupava adrenalina. Projeto SP, extinta casa noturna, bairro paulistano da Barra Funda, início dos anos 90. Aniversário da revista “Bizz” – hoje – “Showbizz”. Legião Urbana para assoprar velinhas da publi cação. Ele rola pelo palco, se contorce todo, mastiga as folhas verdes espalhadas pelo chão, se embaraça no fio do microfone. No repertório especial daquela noite, só covers. Dá-lhe Smiths, Rolling Stones, Doors, Hendrix.
O fã torcia por baladas de “As Quatro Estações”, então recém-lançado. E o que veio da fumaça de gelo seco era um Renato lisérgico, totalmente tomado por sabe-se-lá-o-quê. Na terra em transe, era embarcar ou largar. Para aquele público pequeno, foi realmente uma viagem e tanto.
Salto para dois anos depois. Ajuventude lota as arquibancadas do Ginásio do Ibirapuera e brinca de “ôla”, levantando o corpo, esticando os braços. A pista também está apinhada. “É Legião/ é Legião/ Olê, olê, olá”, entoa o coro entorpecido como se formado por fiéis à espera do Messias. E ele vem, detonando “Que País é Este”.
Renato nunca se sentiu à vontade com essa coisa de ídolo de porta-bandeira. Mas a aura lhe perseguia o tempo todo, dado o arsenal polêmico que o poeta carregava em suas letras e na vida pessoal. Cantava “Que País É Este”, naquele Ibirapuera sequioso, quando um garoto qualquer mirou e acertou a latinha de cerveja no alvo/ídolo.
“Pára, pára”, ordenou o cantor aos companheiros da banda. Ficou pê da vida. Se sentiu vilipendiado com a agressão e se retirou do palco. O ginásio estremeceu. Mais de 20 mil pessoas não curtiram sequer uma música na íntegra e ia acabar assim o sonho de Legião ao vivo? Nada! Assovios, aplausos e novamente o coro pedia a volta de Renato. Ele esfriou a cabeça, sabia que suspender o show para uma multidão daquelas equivaleria a genocídio. Voltou, deu sermão e converteu fúria e frescura em uma das melhores apresentações da banda.
São lembranças de uma época rememorada com o lançamento de mais um disco da banda, “Uma Outra Estação”. O trabalho que estava praticamente pronto antes da morte de Renato, dez meses atrás, tem a virtude de resumir a trajetória dos rapazes de Brasilia. Ouvindo-se o CD, fica claro que o vocalista tinha “consciência” da sua partida.
É um disco emocionante. Renato surge desafinado, com voz sôfrega. Fala das dores da vida e do tratamento e luta contra a Aids – uma luta, conforme os amigos e familiares, da qual preferiu abandonar as armas.
Mas “Uma Outra Estação” não carrega na morbidez. Tem as palavras em jorro, dispensando o meio-termo,’ tocando direto nas flores e nas feridas. Renato Russo parece estar dizendo assim: “Olha, gente, estou indo embora mas quero deixar essas belas canções para vocês. Foi tudo muito legal, mas a vida éassim mesmo. E vale a pena. Ah, não se esqueçam de mim, tá”…
Para uma geração que atravessou a utopia amorosa e o vazio político das Diretas que não vingaram – e continua nesta vala social comum dos sem-fim -, a Legião Urbana preenchia parte do chão. Renato, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha, a formação inicial, quarteto-dos-sonhos-em-si, traduzia no som básico de voz, baixo, bateria e guitarra a ração/razão de esperança para um cotidiano amargo.
De cantar as mazelas do País e de sobretudo falar aos jovens de sua época com o coração, a banda foi abraçada por meninos e meninas carentes de referências. Tudo isso somado aos conflitos da impossibilidade amorosa, das pequenas imperfeições das amizades, da hipocrisia familiar e religiosa, da barra de exercer a sexualidade com plenitude, do fantasma da Aids.
As letras convergem sempre para um sentido humano. A “seita” Legião Urbana celebra o fim de todo e qualquer preconceito. A premissa de que cada um leva a vida que quer para si, desde que não vaporize o próximo, reluz como ouro no conjunto da obra. Essa mínima noção de humanismo é colírio para a modorrenta rotina moderna.
“Uma Outra Estação” equivale ao disco “Dois” (1986) em termos de poesia bruta. Há uma suavidade nessa despedida, uma melancolia angelical de solos de violão, guitarras e teclados (Carlos Trilha) a contemplar um ciclo que, com a morte do seu protagonista, chega ao fim. Faixas como “La Maison Dieu”, “Comédia Romântica”, “Dado Viciado”, “Antes das Seis”, “Mariane”, “Marcianos Invadem a Terra” e “Travessia do Eixão” são excelências roqueiras da fábrica Legião, como nos bons velhos tempos.
E a canção que melhor define a figura humana de Renato Russo é “Clarisse”. A história dessa menina de 14 anos, o seu desespero diante da vida, sua solidão, suas tentativas de suicídio, sua prisão no quarto onde o álibi dos discos e livros já não funciona mais, sua convalescença, sua tentativa de extrair lá do fundo da alma um resquício de força para tocar o barco nesta tempestade mundana…
Clarisse é Renato. A voz e o violão são autobiográficos nesta canção; um belo depoimento de um artista para seus fãs que continuam perambulando pelas ruas urbanas, já não com todo o tempo do mundo. Quem encontra apenas crepúsculo nas letras da fase terminal de Renato Russo, é porque não o aceitou como e1e era. Há aurora também.
Mesmo dizendo-se preso à gaiola, ele se despede em “Clarisse” – mais de 10 minutos – como um pássaro novo, longe do ninho, a “voar pelo caminho mais bonito”, tocando um violão triste e paradoxalmente sereno, que silencia vagarosamente – infinito enquanto dura, como ensinou Vinicius. Mesmo mergulhado no seu íntimo, carrega o olhar estrangeiro. Homossexual assumido, Renato também denuncia “A violência e a injustiça que existe/ Contra todas as meninas e mulheres”, acentuando outra vez sua perspectiva humanista. Clarisse é representante do Daniel na cova dos leões, do Eduardo e da Mônica, da Andrea Doria, do Maurício, da Natália, da Leila, do Dado viciado, da Mariane e de toda a geração coca-cola…
Conviver com a Legião Urbana e todo seu carisma foi quebrar muitas barreiras. Foi se conscientizar de um mínimo de cidadania. Foi se apaixonar e se deixar levar pelos meandros do túnel do amor que raramente dá em luz. Foi cantar suas músicas com os amigos nas ruas, praças e ônibus. Percorrer o asfalto à noite, numa esforçada perua Kombi azul, com o som no últirno volume – como sempre se recomendou nos encartes dos bolachões e CDs.
Foi ouvir “Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto” pela primeira vez e verter lágrimas. Foi assistir a um segundo show no Ibirapuera e reduzir a percepção para tachar a banda de ultrapassada, dèja-vú, e agora ter a chance da restauração, por mais hipócrita que pareça.
Afinal, quem haveria de rimar romã com travesseiro?
Revista foi a base do teatro popular
3.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 03 de agosto de 1997. Caderno A – 4
Gênero que viveu seu apogeu nos anos 20 e 30 no Brasil ganha livro de Neyde Venziano
VALMIR SANTOS
São Paulo – Uma passagem pelos títulos dos espetáculos apresentados nas décadas de 20 e 30 – – sua época de ouro no Brasil -, dá o tom do que foi o Teatro de Revista entre nós: “Forrobodó, a Capital Federal”, “O Rei do Poleiro”, “Olelê!… Olalá!…”, “Tatu Subiu no Pau”, “Pirão de Areia”, “Bom Que Dói”’, “É da Pontinha”, “Dá no Couro”, “Angu de Caroço”, “Abafa a Banca”, “Em Ponto de Bala”, etc… Importado da França, ganhou urna roupagem que traduziu o espírit:o de um povo como poucas expressões artísticas o fizeram.
Muito do que se vê nos palcos contemporâneos remete ao escracho, ao humor espontâneo, à alegria dos poucos diálogos (esquetes) e de muitos números musicais que representaram o Teatro de Revista. Foi a “concreta tradução teatral” do País, defende a pesquisadora Neyde Veneziano em “Não Adianta Chorar – – Teatro de Revista Brasileiro… Oba!”, livro recém-lançado pela editora Unicamp.
Conhecida pela, sua atuação acadêmica e sobretudo pela direção teatral (“Almanaque Brasil” foi um musical que emplacou em suas mãos), Neyde Veneziano especializou-se no assunto. Seu acalentado estudo vai além do embasamento histórico. Como escreve na sua introdução, a autora quer transcender os estereótipos da vedete, da banana, da tropicália. Tudo bem, são dados concretos. Mas por trás das baianas, das músicas e dos balangandãs existe também o conceito cultural.
“Que venha também a consciência de um teatro que contribui para a nossa formação cultural, que fixou nossos tipos, nossos costumes, nosso modo genuíno de falar “à brasileira”, reivindica Veneziano. As 203 páginas ganham um tratamento que passa longe do meramente acadêmico (exceção feita à não tradução de trechos em francês ou italiano para o português, afunilando o acesso à uma compreensão efetiva). Claro, a autora não fez um texto “metarevista”, com o humor de antanho – e nem seria o caso. O livro é, sim, uma reforço histórico, uma acentuação de um gênero que geralmente é revisitado equivocadamente com pecha de arte inferior. Ledo engano.
Numa época em que não existia o rádio, tampouco a televisão, era na platéia do teatro que o público ia conferir a retrospectiva dos acontecimentos do ano. Daí a re-vista… Imaginem as famosas retrospectivas globais de fim de ano levadas ao palco em números musicais ou esquetes (textos breves, diálogos curtos). As revistas de ano eram uma deliciosa sátira ao País, principalmente aos políticos.
Nem burleta, nem cabaret, nem vaudeville, nem café-concerto, nem music-hall, nem opereta, enfim, Neyde Veneziano toma o cuidado de distinguir as manifestações geralmente associadas à revista. A autora, então, a define assim: “Espetáculo ligeiro, misto de prosa e verso, música e dança, faz, por meio de inúmeros quadros, uma resenha, passando em revista fatos sempre inspirados na atualidade, utilizando jocosas caricaturas, com o objetivo de oferecer ao público uma alegre diversão”.
O livro estabelece ligações com a origem primitiva do teatro popular de cinco, seis séculos atrás – sua veia cômica, bufona, paródica –, para o plataforma ao qual se lançou a revista. Enquanto gênero, segundo o livro, a revista nasceu no século 18, nas ruas da França. Nas barracas das feiras, improvisavam-se históricas ou situações carnavalescas nas quais os protagonistas criavam com um olhar “ao avesso” em relação ao mundo.
Uma revista à brasileira ga nna corpo entre as décadas de 20 e 30. A Semana de Arte Moderna, em 1922, a revista se moderniza com um melhor tratamento cênico, com detalhes da iluminação ao desnudamento das pernas das moças no palco. Carlos Bettencourt, Cardoso de Menezes, Marques Porto e Luiz Peixoto estão entre os melhores revistógrafos da história do Brasil. O Rio de Janeiro, então capital federal, reinou absoluto abrigando a maioria dos espetáculós. Quanto aos intérpretes, destacaram-se Henriqueta Brieba, Alfredo Silva, Áracy Cortes, Pepa Ruiz e Edith Falcão.
Pouca gente sabe, mas a cantora Carmem Miranda tentou pegar carona no movimento teatral popular daquela época, mas chegou tarde. Numa das suas raras apresentações no Brasil, em 1930, com “Vai Dar que Falar”’, de Porto e Peixoto, ela foi vaiada porque era “excessivamente realista” em cena. Depois de evoluir das resenhas anuais para uma posição assumidamente carnavalesca, não dava para ignorar a perspectiva popular.
São informações esclarecedoras como essas que a pesquisadora Neyde Veneziano expõe em “Não Adianta Chorar…”. Se exegese, sem saudosismo barato, contextualizando o leitor em relação à situação política em voga – aliás, a revista constituia caldeirão propício –, o livro resulta num documento valioso para o Teatro Brasileiro. A breve iconografia e a relação dos principais espetáculos complementam esta que pode ser considerada uma incursão afetiva de Veneziano sobre tema apaixonante. Afinal, foi um tempo em que se ria com alusões políticas e sociais de fazer censor corar.
Não Adianta Chorar – Teatro de Revista Brasileiro…Oba! – De Neide Veneziano. Editora Unicamp (Cidade Universitária, Caixa Postal 6074, Campinas-SP, CEP 13083-970, tel. 19 788-2170). R$ 22,00.
“Burguês Ridículo” traz Molière ator
20.7.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 20 de julho de 1997. Caderno A – 4
VALMIR SANTOS
São Paulo – A peça começa simbolicamente com a ‘‘crise do espetáculo”. Em cena aberta, Marco Nanini disponta da platéia encarnando o seu Sr. Jordain, o “burguês ridículo” do título. Dai para frente, o que se tem é uma sincera homenagem ao teatro, à comédia especificamente, representada pela verve de Molière. É o ator Molière, mais do que o dramaturgo francês do século 17, que dá o ar da graça em “O Burguês Ridículo”.
Guel Arraes e João Falcão, vindos de humorísticos da televisão, experimentam a arte da direção e, de quebra, respondem pela adaptação. Tomam como ponto de partida “Burguês Fidalgo” e acrescentam trechos de outras peças de Molière, como “As Sabichonas” e “As Preciosas Ridículas”. Tal cruzamento resulta em um texto que preserva muito da comédia francesa da qual Molière é estrela-mor.
Claro, um texto originário de Molière não pode trair a crítica de fundo social e político. Não é à toa que o autor é levado aos palcos brasileiros com tanta frequência. Ri-se da hipocrisia familiar; ri-se da jogatina política; ri-se da escassez ética. Ri-se, em Molière, com um gostinho amargo de realidade. Como se três séculos não houvessem passado.
Na direção, Arraes e Falcão depositam tudo no ator. Para tanto, têm um elenco afinado com a proposta cênica. Nanini encabeça com sua notável presença de palco, já conhecida de montagens anteriores. Aliás é uma surpresa agradável identificar a coerência do trabalho deste ator. Cita-se a irresistível montagem de “O Mistério de Irma Vap” ou a recente “Kean”. Nanini está sempre metido no teatro dentro do teatro. É uma condição que só a maturidade propicia aos grandes atores.
“O Burguês Ridículo” tem ainda a figura impagável de Ary França como Dorante. O sangüessuga fiel do Sr. Jordain é um dos melhores papéis da carreira deste comediante. Seja no drama “Édipo Rei”, sob o vôo dionisíaco de Renato Borghi, seja na divertida “O Doente Imaginário”, com Cacá Rosset, França domina plenamente as nuanças de cada personagem. Nele, o público sempre vai encontrar o esforço criativo, o empenho pela verdade interpretativa.
Outro destaque é a empregada Nicole de Betty Gofman. A atriz coloca corpo e voz a favor da caricatural. Mas não o faz gratuitamente. Ao contrário, vai no limite de ser ridícula na acepção pejorativa do termo. O trabalho de Betty e a relação entusiasmada do público com sua personagem confere um status merecido para ela que também se entrega com risco e competência.
É um grande espetáculo, com atuações marcantes. Uma noite com os comediantes do rei, com a cenografia majestosa e não-empolada de Fernando Mello da Costa, mais os figurinos clássicos e leves de Emília Duncan, enfim, uma noite com essa trupe resume-se a um encontro com um teatro levado a sério em suas mínimas exigências.
O Burguês Ridículo – Adaptação da obra de Molière. Direção e tradução: Guel Arraes. Tradução: José Almino. Com Bruno Garcia, Dora Pellegrino, Oberdan Junior, Virgínia Cavendish e outros. Sexta e sábado, 21h; domingo, 18h. Teatro Cultura Artística/Sala Esther Mesquita (rua Nestor Pestana, 196, Centro, tel. 258-3616). R$ 25,00.
“As Sereias” mergulha no “telebesteirol”
Mas a atualização aponta para um ratamento interpretativo mais direcionado
São Paulo – Muito do espírito besteirol se perdeu nos últimos tempos. Não se tem mais aquela ingênua irreverência, o susto do improviso, a língua ferina. A despretensão lavada do seminal grupo Asdrúbal Trouxe o Trambone, na carona da abertura política do País, deu o tom do humor nos palcos brasileiros no início dos anos 80. Agora, resta o consolo televisivo de alguns resquícios em “Casseta & Planeta”, por exemplo.
O esforço é grande no teatro, mas parece que tanto a platéia quanto os atores estão sendo tolhidos pela imaginação catódica. Ou seja, o que se vê resvala muito na novela das sete. O que não chega a comprometer o entretenimento, diga-se de passagem. Atende à espectativa do público, ávido por uma deixa, por uma gag que lhe faça cócegas.
Quando ainda não sofria o bombardeio midiático ao qual se submete atualmente, Miguel Falabella chegou a dividir a cena com Guilherme Karam em “As Sereias da Zona Sul”. Era um texto que ele escreveu a quatro mãos com Vicente Pereira, o autor de “Solidão, a Comédia”. Adaptada agora, dez anos depois, para as duas ótimas atrizes Rosi Campos e Zezeh Barbosa, a peça é sintomática da comédia destes anos 90.
Sim, há um pouco do Asdrúbal (Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães). e de Dercy Gonçalves nas interpretações. Mas a atualização aponta para um tratamento interpretativo mais direcionado.
Escolada em humor radical, Rosi Campos é uma “sereia” que não ousa avançar, se atirar ao mar do riso que captura pela essência. Nem no átimo de uma falha, quando a sonoplastia não sintoniza com um gesto seu exagerado. Mesmo o pequeno escorregão não a lança para a formidável contribuição dos erros em se tratanto do exercício de divertir.
Na adaptação do texto que agora dirige, Falabella investe no contraponto entre Rosi e Zezeh Barbosa. Esta é dona de uma atuação histriônica, popular – lembra uma Dercy, um Grande Othelo. Zezeh provoca empatia imediata. Ela se destacou no musical “O Mambembe”, uma incursão pouco convincente de Gabriel Villela pelo gênero. Falabella assistiu à montagem e a escalou para a sua novela “Salsa e Merengue”.
Dificilmente “As Sereias…” funcionaria com outra dupla. Rosi e Zezeh são perfeitas para as quatro esquetes. A melhor, disparada, é aquela na qual interpretam duas socialites em uma sauna. Descascam impropérios contra a ralé, até que as personagens são “castigadas” no desfecho hiláno.
Hildinha ou Ivete, entre outras, as mulheres de Rosi e Zezeh se esmeram na mesquinhez. Elas passam rímel no terceiro olho, resumem suas vidas numa edição de bolso e soltam pérolas como: “Sou uma mulher que só pensa quando está maqueada”. No outro extremo, a peça visita a angústia existencial de uma poeta, que se sai com a espantosa frase-síntese do mundo contemporâneo: “A única porta secreta é a que nos separa de nós próprios”.
A dobradinha Falabella-Vicente Pereira resultou em diálogos ligeiros, como convém à comédia. Falabella trouxe o texto para o presente e contextualizou os papéis femininos, respeitando o entretenimento. O crítico não assistiu à versão masculina de “As Sereias…”, mas suspeita que ambas corresponderam à qualidade cênica de sua época. Hoje, esse que pode ser chamado de “telebesteirol” é mais um dos frutos deste final de século acelerado. Felizmente, a compactação ainda não estancou de vez a arte do ator que Rosi e Zezeh sabem fazer valer em cena. Apesar de tudo.
As Sereias da Zona Sul – De Miguel Falabella e Vicente Pereira. Direção: Falabella. Com Rosi Campos e Zezeh Barbosa. Quinta a sábado, 21h; domingo, 19h. Teatro Hilton (rua Ipiranga, 265, Centro, tel. 259-5508). R$ 20,00 e R$ 25,00 (sábado). 80 minutos. Estacionamento gratuito na rua Epitácio Pessoa, 75.
“Inseparáveis” elogia virada da vida
13.7.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 13 de julho de 1997. Caderno A – 4
VALMIR SANTOS
São Paulo – Maria Adelaide Amaral é a veia feminista da dramaturgia brasileira. Há 20 anos, a autora reflete em seus textos sobre a condição da mulher no mundo: a família, o amor, o preconceito social… São muitos os ângulos. Em “Inseparáveis”, ela volta à carga com um dos espetábulos mais contundentes da carreira.
As personagens Maria Regi-na e Ana estão na faixa dos 40 anos e como que passam a limpo a vida. O reencontro acontece depois de anos sem se verem. Ao rememorar os primeiros momentos daquela amizade, com certa nostalgia, elas acabam também encontrando o chão da realidade em que vivem.
Maria Regina está decidida a romper um casamento de 25 anos. Ana, já divorciada, vem de uma frustração amorosa com homem mais novo. É dessa gangorra paradoxal entre um passarinho nas mãos e muitos voando que se dá os conflitos e as intersecções. A autora de “Inseparáveis” proporciona ao público um mergulho na alma das personagens tão comuns em seus anseios de felicidade, em suas misérias amorosas, em seus apegos à esperança.
“Eu nunca me apaixonei por ninguém, nem pelo meu marido”, garante Maria Regina. Nos últimos anos, o único prazer para ela, na hora do ato sexual, éespremer os cravos nas costas do marido insensível. “Você não imagina o quanto este País é implacável com as mulheres como a gente”, dispara Ana. Se uma moça de 25 anos é considerada “velha” para certas carreiras, o que dirá uma mulher de seus 40 anos. Maturidade e vivência são descartadas por uma regra perversa de mercado.
Mas Maria Adelaide Amaral não se furta ao humor. Por mais que a temática seja dura — mas necessária -, a escritora respinga um senso cômico em suas personagens. Para arrematar, introduz um homem na história. Guto, o marido abandonado por Maria Regina, acumula os chavões machistas, as chantagens de cama, o blablablá comum de quem não é capaz de perceber a infelicidade da companheira.
Casamento, solidão, orgasmo fingido, menopausa – um texto com tal abordagem existencial requer atrizes de peso. Irene Ravache (Maria Regina) e Jussara Freire (Ana) sustentam cerca de duas horas de espetáculo com uma harmonia espantosa. As duas expõem suas personagens com conhecimento de causa. As nuanças das falas, o repertório gestual, a emoção em estado bruto – enfim, trata-se de um casamento orgânico e introspectivo com Maria Regina e Ana.
O contraponto Guto também é encarnado com talento por Eduardo Conde. Sua imagem de canastrão é perfeita. Suas súplicas para ter a mulher de volta são impagáveis. Diz que vai “morrer de tristeza’’; recomenda tratamento contra “frigidez”. Quando se convence de que Maria Regina não voltará atrás, então tira a máscara do ridículo e avisa que vai arranjar uma garota novinha para desfilar por aí.
A direção de José Possi Neto aposta exatamente no potencial de Irene Ravache e Jussara Freire. É um texto que gira em torno da amizade e isso fica muito patente em cena. A cenografia de Felippe Crescenti transcende a sala-de-estar, figurinha carimbada nas montagens das peças da autora.
“Inseparáveis” mostra que a virada na vida independe da idade. Sob a premissa da felicidade, da paz consigo, toda e qualquer movimentação que se faça é sagrada. No texto e na interpretação, paira um sentido de -humanidade que se fixa na mulher pelo enfoque, mas no fundo não tem sexo.
Inseparáveis – De quinta a sábado, 21h; domingo, 19h. Teatro Faap (rua Alagoas, 903, Pacaembu, tel. 824-0104). R$ 20,00 e R$ 30,00 (sábados). 90 minutos. Até setembro.
“Filhas de Janete Clair” faz autocrítica
Homenageando a telenovela, a comédia traz dois atores no papel de comadres hilárias
São Paulo – Telenovela, essa paixão nacional, ganha uma bela homenagem em “As Filhas de Janete Clair”. Trata-se de um projeto antigo do ator Armando Filho, noveleiro confesso que já contabilizou ter assistido a 271 tramas na televisão. Ele convidou Jandira de Souza para desenvolver a pesquisa e finalizar o texto. Em cena, estão o próprio Armando e Fausto Franco nos lpapéis de Corina e Delaide.
As personagens simplesmente acompanham novelas desde a primeira produção brasileira, “2-5499 Ocupado”, exibida pela extinta TV Excelsior, em 1963. Daquela história protagonizada por Tarcísio Meira e Glória Menezes, 34 anos atrás, até os avançados anos 90, a peça conta a trajetória da amizade entre Corina e Delaide.
Elas fizeram das novelas das seis, das sete e das oito a história paralela de suas vidas. Muito se fala do poder encantatório dos folhetins eletrônicos e da iminente solidão que se esconde por trás do fenômeno. A montagem materializa essa constatação no palco, onde o público ri e se emociona com as peripécias daquelas cinqüentonas hilárias.
Os perfis são emblemáticos. Corina não tira Carlão da cabeça desde que assistiu à cena final de “Pecado Capital” (1976). O corpo estendido em plena obra do rnetrô carioca, coberto por jornais, e ainda por cima enlutado pela canção de Paulinho da Viola (“Dinheiro na mão é vendaval/É vendaval/Nas mãos de um sonhador…”) foi transposto da ficção para a realidade da personagem. Desde então, Corina não teve outro homem, amargando uma angústia infinita. Mesmo com o surgimento de outros heróis, de outros galãs, continua infeliz.
Delaide aparenta maior tato com a vida. Assimila modas e trejeitos que de tempos em tempos as novelas soltam. Experimentou o casamento, mas o marido morreu. Viúva, foi à luta, mas só teve decepções.
“As Filhas de Janete Clair” é uma homenagem, sim, como se disse. Mas enseja também uma autocrítica. Não fosse a novela, a que Corina e Delaide poderiam se apegar? Quantas pessoas, Brasil afora, não se alimentam dos mesmos sonhos e padecem dos mesmos sofrimentos? Sonhos e sentimentos alheios, mas tão próximos, tamanha a identificação com os personagens.
De volta à montagem, o que se tem é uma verdadeira antologia televisiva no palco. Corina e Delaide se encontram para assistirem juntas ao último capítulo de “Vale Tudo”. Como todo o Brasil, elas também querem sa ber quem matou Odete Roit-man, a céebre personagem de Beatriz Segall. É nessa noite que se desenrola a história da peça.
Elas têm brincadeiras próprias, voltadas para as novelas. A cada palavra-chave, simulam personagens globais, remetendo a cenas que acompanharam em outras épocas. São citados tipos como Nono Corrêa, Dona Xepa, Perpétua e Viúva Porcina. As falas, as imagens de artistas projetadas em slides e as cenas em que brincam de intérpretes, com direito a figurinos e caracterizações, enfim, tudo soma cerca de150 referências a novelas.
O bombardeio de informações se instala sem enfado. A história flui de forma que mesmo os não-noveleiros acompanhem seu ritmo. Não se descarta a ficção em nenhum momento. A “realidade” das novelas é ínserida sem prejuízo da magia teatral.
As atuações de Armando Filho e Fausto Franco são responsáveis em grande parte por isso. Em especial Armando. Sua Corina é lapidada no tom de voz, no tratamento delicado da emoção. Fausto, como o próprio papel pede, é mais expansivo, exagerado. Ambos têm sua graça e conquistam a empatia do público logo no início, quando surgem metidos em vestidos floridos.
Na direção, Eduardo Silva (atuando em “Os Reis do Improviso”), tomou cuidado em não caracterizá-los como travestis. O que se vê são duas mulheres em cena, com seus cacoetes, suas crisesinhas. Há também alguns números musicais, sob direção de Gustavo Kurlatm acentuando a leveza do espetáculo. A trilha sonora, assinada por Aline Meier, é um capítulo à parte, trazendo temas de novelas. Lembra-se de “Rock’n Roll, Lulaby”, interpretada por B.J. Thomas em “Selva de Pedra”? Está lá…
A cenografia de Marisa Rebollo tipifica milhares de lares dos brasileiros. O sofá a poucos centímetros da televisão, a cozinha, os quadros de artistas nas paredes. O projeto de “As Filhas de Janete Clair” tem o mérito de tratar com inventividade um assunto tão enraizado no imaginário nacional. Não é à toa que na estréia, no final de semana passado, o espetáculo teve sessões extras, por causa da empatia do público. Uma montagem simples e com a força que só o teatro pode emanar.
As Filhas de Janete Clair – De quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. Teatro Brasileiro de ComédiaAssobradado (rua Major Diogo, 315, Bela Vista, tel. 604-5523 e 606-4408). R$ 10,00. 75 minutos. Até 31 de agosto.
Uma relação delicada
1.6.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 01 de junho de 1997. Capa
Paulo Autran está em “Para Sempre “, com sessão única amanhã no Teatro Municipal de Mogi
VALMIR SANTOS
Uma das grandes expectativas quando da estréia de “Para Sempre”, no Festival de Teatro de Curitiba, em março, era quanto ao tema homossexual. Seria uma gay play, nos moldes de “O Melhor do Homem”, dirigida por Ulysses Cruz e atualmente em cartaz no Rio? A diretora Vivien Buckup define melhor o texto de Maria Adelaide Amaral. “E uma relação homossexual, sim, mas a questão é a dimensão humana, as dificuldades, o como as pessoas se afastam”, afirma. A montagem tem única sessão amanhã, no Teatro Municipal de Mogi, e marca o reencontro do público mogiano com um dos maiores atores do País – Paulo Autran apresentou o monólogo “Quadrante” em 1993, na reinauguração do Municipal.
O texto de Adelaide Amaral foi escrito especialmente para Autran. Mas quando ele leu, pensou um pouco antes de montá-lo. Até que aceitou. “Amor é amor, seja hetero ou não”, dispara Autran. Aos 75 anos, ele esbanja maturidade para encarnar um papel polémico. Está pouco preocupado com sua imagem, corroborada sobretudo pela televisão. Veículo, aliás, por qual nutre um desprezo sem meio-tons.
Em “Para Sempre”, Max (Autran) é um professor de Teoria Literária, que está unido há 18 anos com Tony (Celso Frateschi). A peça se passa quando eles enfrentam conflitos mais latentes, que colocam em jogo o futuro da relação. “Max não é uma bicha, com estereótipos; é um homem que tem sensibilidade e pensa muito”, explica o ator.
Na opinião de Autran, o viés da peça é justamente este: mostrar o homossexual com uma perspectiva humana, sem as tintas de aventura e promiscuidade difundidas principalmente pelo cinema. “Como se os casais heterossexuais também não fossem tão promíscuos quanto”, alfineta.
Além da direção, função na qual debutou em “Aguadeira” e ganhou corpo em “Cenas de Um Casamento”, Vivien Buckup desenvolveu um trabalho especial de expressão corporal. O Tony de Frateschi, por exemplo, surge sem afetação, apesar dos gestos delicados. Mas, no fundo, não deixa de expor sua virilidade, tomando a decisão de romper a relação.
Karin Rodrigues, companheira de outras montagens ao lado de Autran, interpreta Eva, o vértice do triângulo. Ela é amiga do casal e divide com eles suas torturas amorosas. Tem tanto carinho por Max, que acabe ficando com ele ao final (leia crítica abaixo).
Ao lado do elenco estelar, estão profissionais renomados da cena teatral brasileira. Gringo Cardia assina a cenografia; Fábio Namatame os figurinos; e Maneco Quinderé a iluminação.
Para Sempre – De Maria Adelaide Amaral. Direção: Vivien Buckup. Com Paulo Autran, Celso Frateschi e Karin Rodrigues. Única sessão amanhã, 21h. Teatro Municipal de Mogi (rua Dr. Corrêa, 515, tel. 460-1747). R$ 50,00. Disk ingresso: 470-9477.
Desfecho tira plenitude de “Para Sempre”
Casal homossexual se separa após 18 anos e um deles fica com outra mulher no final da história
Vindo de uma interpretação marcante em “Rei Lear”, um Shakespeare tão aguardado em sua carreira, era de esperar um Paulo Autran tão intenso quanto, sobretudo em se tratando de um texto assinado pela premiada Mana Adelaide Amaral. Nem uma coisa, nem outra. Há um senão em “Para Sempre” que resulta em uma decepção para o espectador atento. A autora junta duas pessoas do mesmo sexo, por 18 anos, e a separação culmina com uma delas nos braços de alguém do sexo oposto.
Max, o professor universitário pomposo e cheio de si, atravessa uma crise com seu companheiro, Tony, um bancário. A peça gira em torno das dificuldades de ambos em levar a relação adiante. Ficam cada vez mais paten tes as diferenças sociais, culturais. Tudo vai num crescendo coerente, cavucando as vicissitudes hu manas, como Adelaide Amaral sabe fazer tão bem – vide obras anteriores, como “Tão Longe, Tão Perto”, “Bodas de Papel” e“Intensa Magia”.
Mas um senão, enfim, desmonta todo o clima e a densidade que se construíu até ali, no desfecho. Depois de longos 18 anos, uma vida, Max simplesmente abandona Tony e começa uma nova relação, agora heterossexual, com a sua melhor amiga, Eva. E tudo – parece – acaba bem.
A mulher da peça é vivida por Karin Rodrigues, que emana a elegância e a correção da personagem, tão conflituosa quanto o casal homossexual. Ao mesmo tempo que acompanha in loco as desavenças entre Max e Tony, Eva encontra no casal, sobretudo em Max, é claro, um interlocutor para a sua eterna desilusão amorosa.
Paulo Autran vive bons momentos, como na cena em que fica prostrado diante do ser amado, em um jorro emocional, rasgado, expondo o desespero da perda amorosa. É preciso insistir: como pode, diante de dor arrebatadora, ainda assim sair-se com uma opção desconcertante para a história?
Celso Frateschi encontra o meio-termo do seu Tony, dispensando a afetação e assumindo, em alguns momentos, uma postura mais viril e ameaçadora em relação ao seu companheiro. Há pouco tempo, Frateschi interpretou um monólogo marcante, “Do Amor de Dante por Beatriz”, no qual remetia ao sentimento de perda da mulher, a também atriz Edith Siqueira, morta no ano passado.
A direção de Vivien Buckup é tranqüila. Ela deixa os atores bastante à vontade. Fosse outro o final de “Para Sempre”, o drama se tornaria mais pleno no que ele pretende impactar. Maria Adelaide Amaral se equivocou. Max, apesar da couraça, demonstra interiormente um desespero amoroso que não podia ser desprezado tão simplesmente, como o foi.
Dionísio Neto valoriza a palavra e o corpo
1.6.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 01 de junho de 1997. Caderno A – 3
VALMIR SANTOS
São Paulo – São tantas as perplexidades, as alegorias, as indagações em “Opus Profundum” que o crítico achou por bem adiar a abordagem da peça quando da apresentação no Festival de Teatro de Curitiba, em março. Na temporada paulistana, o embate finalmente se deu.
Dionísio Neto é um ensinador provocante. No texto, no palco ou atrás dele dispensa a aura do diretor – figura que roubou a cena durante os anos 80, começo dos 90, e agora vai sendo distituído do trono aos pouco. Invariavelmente vestindo a camiseta estampada com o jogo da banda Smashing Pumpkins, Neto valoriza a interpretação no que ela tem de essencial – a palavra e o corpo, não necessariamente nesta ordem.
Aos 25 anos, umbilicado com o mundo das ruas, da urbanidade, da metrópole em que é célula, ele desssacraliza a ação por expor um realismo vacilante, “meta” isso ou aquilo em que as camadas da personalidade do autor se interpõe com o universo do personagem. A variação da cena em si para uma abertura, em luz geral, por exemplo, não distingue o Dionísio Neto do palco ou aquele fora dele. A compensação de um lado a outro, a retroalimentação, são características possíveis de um teatro que se propõe novo, emergente.
Tendo Gerald Thomas e Antunes Filho como principais referencias, o jovem encenador, ao invés de sucumbir à angústia da influência, faz dela alvo. Sandra Babeto, como Carnavale, personagem mergulhada em parafuso com o ofício da atriz, ganha o palco com o insípedo e hetero de uma Bete Coelho. Não atinge a densidade da primeira-musa de Thomas – e nem seria o caso -, mas Sandra joga com desequilíbrio, com o não-gesto, o não-movimento. A fala é quase um resultado da ação.
Renata Jesion, a primeira-musa de Neto, por assim dizer, é talvez a melhor síntese do que o encenador concebe como nova interpretação. Stanislavsky, Grotowsky e outros métodos não são identificáveis, pelo menos na superfície, na criação, na personificação de Pasquale pela atriz.
Nem a escancaração dionística, nem a sombra da técnica. Renata consegue ser tão intensa e poética que mesmo o bumbum para fora, no gesto obsceno e transgressivo, não retira o encantamento. É o rito sem ornamento, o transe sem reza que ela consegue potencializar, despida de qualquer artifício, tão ela e tão Pasquale – é a melhor tradução, a melhor âncora do que brota da cabeça de Dionínio Neto.
Este, em cena, faz mais juz ao prenome. Seu Natale é visceral, se atira de peito aberto, sem escudo. Como o texto, o tom autobiográfico salta da boca do autor, passa pelo pensamento do autor e surge cristalizado na ousadia do diretor.
Uma mudança sesnsível de Curitiba para São Paulo foi o recolhimento que Dionísio Neto se auto-impôs – ao menos é o que se nota. A visibilidade que ganhou com pecha de vanguarda resultou em uma espécie de reversão do espaço.
Na pré-estréia de “Opus Profundum”, por exemplo, ele dava tanto a cara a tapa, se expunha de tal forma na boca de cena, que isso acabou soando como uma atitude gratuitamente agressiva. Parte do público que se retirou do teatro não fez necessariamente pela falsa hipocrisia, pela lascívia do beijo, mas supostamente também pela ostencividade.
Essas atenuantes foram percebidas na temporada do Sesc Pompéia. Se em Curitiba ou Unidade Móvel ficou em segundo plano, desta vez esteve paripasso.
O equilíbrio do caos sobre a música estridente, de microfone aberto; as interpertações desafiadoras; as imagens do vídeo como testemunhas oculares, in locu; a verborragia passional e desesperada por um alento; tudo isso tornou-se mais homogêneo no espetáculo instigante já pelo desprezo da linearidade.
Houve brecha até para atualizações. A brutalidade de policiais militares em Diadema é referendada por uma coreografia “do pelotão” do Unidade Móvel – silenciosa como luto. E o poço da existência é aprofundado ainda mais, com a criança que veio do morro para a cidade grande, está afins de vender um disquete encontrado na rua e quer vendê-lo em busca de trocados.
E Dionísio Neto atira para todos os lados: “Daqui a pouco estão encenando Olavo Bilac!”, assusta-se Carnavale, atriz e modelo frustrada em si. “Troca o texto; este texto é o fim”, continua, exercendo a autocrítica do autor. “O povo só lê o caderno da TV”, conclui. Quando a personagem diz “Morrerei jovem para conservar o cadáver”, sinaliza a obsessão do encenador pelo novo.
Mas “tudo pode ser mentira, balcla”, repara em seguida Pasquale, o fotógrafo que ganha a fama em cima de modelos que se julgam o máximo e torram grana com books.
Carnavale é o vértice da trama. Um fã enamorado perdido na solidão da metrópole; um Werther ou Tristão dos anos 90, respectivamente atrás da sua Charlote ou Isolda. Com a vantagem de que a tragédia não se abate e Carnavale faz seus os lábios da mulher desejada, num beijo de língua e lascívia que se estende por longos segundos, minutos na tela do cenário, ao final da peça, com o público suspenso em silêncio, incomodado, cúmplice engolido ele também pela cena. Dionísio Neto antropofágico até a medula.
Festival de Cádiz tenta superar crise
1.6.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 01 de junho de 1997. Caderno A – 4
Evento tradicional Ibero-Americano, na Espanha, aperta orçamento para 12ª edição em outubro
VALMIR SANTOS
O Festival Ibero-Americano do Teatro de Cádiz, na Espanha, chega à sua 12ª edição com os cofres em baixa. Para se ter um idéia, a principal porta do teatro latino na Europa tinha, cinco anos atrás, um orçamento de US$ 2 milhões. Para a edição de outubro próximo – entre os dias 16 e 15 -, a organização conta apenas com US$ 350 mil. “O Festival de Cádiz é como a própria arte do teatro, que sempre dizem que está em crise”, raciocina o diretor artístico do evento, o espanhol Pepe Bablé. “Oxalá sempre esteja, porque a vida é crise”. Ele acompanhou o Festival de Teatro de Curitiba, em março, e conversou com O Diário.
Lançado e 1975, o Festival Ibero-Americano de Cádiz nutriu sua importância histórica abrigando os principais grupos da vanguarda de teatro latino. No final dos anos 70, início dos 80, havia uma acentuação política. O engajamento explícito tinha seu espaço de expressão contra os regimes autoritários em voga em muitos países.
“Era uma época áurea, de redescobrimento do teatro, e tínhamos muito apoio”, lembra o organizador. Essa perspectiva de palco militante foi diluída com a queda de todos os muros. A partir dos anos 90, a cidade turística de Cádiz bateu de frente com uma “agonia econômica” que se estende até os dias de hoje.
Se depender deste homem que carrega o teatro na veia – seus descendentes familiares fundaram a companhia de bonecos mais antigos do mundo, a espanhola La Tia Norica (1750), a qual ele segue dirigindo -, o festival vai dar a volta por cima.
“Não vamos jogar a toalha”, promete Bablé. Além da prefeitura de Cádiz, o festival tem apoio do Ministério da Cultura da Espanha, da Junta de Andaluzia e da universidade local, entre outros organismos.
Para a edição deste ano, a intenção é reunir grupos de seis ou sete países (no ano passado, foram nove). Do Brasil, está praticamente fechada a apresentação da peça “Deadly”, com o grupo No Ordinary Angels, encabeçado pelo ator Rodrigo Matheus e por uma atriz da Nova Zelândia. Foi dos espetáculos que Bablé mais admirou em Curitiba – cita também “Tristão e Isolda”, de Enrique Diaz e sua Cia. de Atores do Rio de Janeiro.
A programação inclui ainda o segundo Congresso Ibero-Americano do Teatro, com enfoque para o teatro pedagógico. Serão 12 dias de reflexão, “um escritório vivo e orgânico do teatro latino”, acredita Pepe Bablé. Todo ano, Cádiz realiza uma mostra temática sobre determinado país. A intenção é apresentar um leque cultural e artístico, com exposições, shows, peças, etc. No ano passado, a Colômbia foi contemplada. Neste, quem ganha destaque é o México. Ano que vem, o Brasil deverá ganhar a sua vez – pelo menos é a intenção de Bablé.
Uma característica muito importante do festival é a celebração do encontro entre os grupos. “A gente promove um contato de pele, de união, de troca sobre a arte da representação”, afirma o organizador. Comparado ao aparato empresarial de eventos como o de Curitiba, por exemplo, Cádiz é provavelmente o último dos festivais românticos. Não no sentido depreciativo d termo, caduco mas no que propõe como alicerces básicos; a pesquisa da linguagem cênica, idiomática, um diálogo com todo o continente.
Bablé quer ir mais longe. Sonha com a transcendência da concepção do teatro. Deseja uma “casa do teatro latino-americano”. É uma visão antropológica. “O homem nunca pôde abandonar sua terra; é preciso cultivar Cádiz pelo resto da América”, argumenta Cádiz. De fato, é a mais americanizada das cidades européias. A cidade possui 150 mil habitantes e 30km de praias.
Cabeça e, por extensão, coração do festival Bablé foi autor durante 21 anos. Agora, cuida da direção da La Tia Norica. No ano passado, ele montou “El Montaplatos”, Herold Pinter. Para o próximo, quer levar ao palco uma peça do dramaturgo francês do momento, Berrnad Koltès, que explora a violência urbana deste final de século.
Quando à mostra que conferiu em Curitiba, Bablé identifica um predomínio do papel do diretor. “Desaparece o ator e o público sai prejudicado, porque precisa de uma comunicação mais de pele, direta”, raciona. Para ele, o teatro tem poder de fogo para impactar e comover revelando que o mundo não está tão bem como a mídia anda pintando por aí. “O autor tem esta força da palavra e a gente precisa ir ao teatro escutar a palavra viva e não ser inválido pelas imagens, como acontece atualmente.”
Viotti dramatiza a arte do encontro
O dramaturgo Plínio Marcos comemorou seus 40 anos de teatro com uma conversa-espetáculo. Surgia como ele é, sem qualquer resquício de distanciamento (como maquiagem, figurino ou iluminação estilizada). Não havia personagem que não ele mesmo, em luz geral, texto improvisado. Agora o veterano Sérgio Viotti, 36 anos em cena, vai por um caminho semelhante, no qual o público pode perder um entretenimento convencional, mas ganha na saudável transferência da oralidade que o tempo humano se incumbiu de escantear aos poucos. E, outro detalhe, no mesmo palco da Cultura Artística.
Por mais que se queira acentuar a interpretação, a magia do vão público-espetacular, Sérgio Viotti é um personagem de si mesmo em “Humoresque”, espetáculo que tem um fundo autobiográfico encerra hoje a sua participação na atual temporada teatral paulistana.
Seu diretor, Dorival Carper, o deixa bastante à vontade. Paletó e gravata, em tom formal, um humor quase britânico – aliás, que tem um quê de Hitchcock que deixa um suspense no ar -, Viotti vai citando amigos como Sofia, Luci, Agenor, enfim, personagem das suas reminiscências que se tenta transmitir ao espectador.
Ainda esboça uma nuance de voz, uma expressão corporal, sutil – mas todos os tipos, sem a pretensão do humor rasgado, apresentam poucas variações. “Depois dos 50, sempre a gente acorda com uma coisa doente”, conta Viotti – narrador, com uma pitada de sarcasmo. A intenção é sempre pela via do humor.
Sérgio Viotti é homem de palco, de televisão. Usa toda sua versatilidade, apesar de alguns limites da idade. É um proseador que explora os recursos faciais e gestos pequenos, sempre circunscrito ao miolo do tablado. Ali, em pé ou sentado, ele comanda o bate-papo, relatando seus “causos”.
“Humoresque” celebra o encontro. Um artista veterano que soube lavar o ofício com amor e dedicação. Com coragem e disposição para superar muitas coisas e chegar à condição de criar seu próprio personagem, sem precisar de máscara. Talvez esteja aí o ápice para quem vive do (e para) o teatro.
Humoresque – Texto e interpretação: Sérgio Viotti. Direção: Dorival Carper. Última sessão hoje, 18h. Teatro Cultura Artística (rua Nestor Pestana, 196, Vila Buarque, tel. 258-3616). R$ 20,00. 60 minutos.
Bill T. Jones globaliza os movimentos
Coreógrafo passou por São Paulo na semana e impactou com magia da sua dança universal
Os bailarinos da companhia atingem, durante a apresentação, uma universalidade de gestos e movimentos que não o identificam geograficamente. São bailarinos do mundo. A companhia do coreógrafo norte-americano Bill T. Jones dançou em São Paulo, na semana passada, e deixou seu recado de globalização da dança, capitalizando-a com moeda humana.
A estréia, numa noite tumultuada, marcada por atraso de uma hora, tinha tudo para atrapalhar. A tensão do público foi convertida em energia logo que abriram-se as cortinas do Teatro Sérgio Cardoso, por conta da atuação de Miguel Anaya e Christian Canciani em “Soon” (1988).
Síntese
Na coreografia seguinte, “After Black Room” (1996), a companhia Bill T. Jones/Arnie Zane parece sintetizar seu momento atual. Os corpos mergulhados em penumbras e cores desenham um vocabulário de muita introspecção. É um trabalho que exala a dor no que ela tem de pulsão de vida.
Bill T. Jones, soropositivo, que perdeu o companheiro Arnie Zane, vítima de Aids, sabe como ninguém do que está tratando. Toda a sua dança tem essa perspectiva de urgência, de finitude. O coreógrafo não tem tempo a perder e quer viver até o infinito.
Uma coreografia, “Lisbon” (1977), por conta dos percalços técnicos que impediram a afinação da luz, acabou sendo excluída da programação da primeira noite. O encerramento se deu com “Some Songs”, em que o grupo vai num crescendo, num jogo de luz e música, até provocar a catarse na comunhão com o público.
A essa altura, pouco mais de meia-noite, só restou aplaudir e ovacionar os rapazes e garotas de Bill T. Jones, tão próximos do Brasil quanto da África ou Estados Unidos, o berço deles. O coreógrafo subiu ao palco, juntou-se ao elenco e foi reverenciado de pé pelo público. É um gênio do movimento.