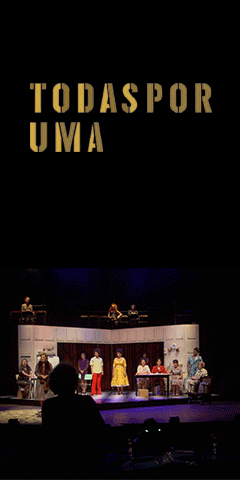O Diário de Mogi
A vida cabe numa rosa
25.5.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 25 de maio de 1997. Capa
Aos 91 anos, Kazuo Ohno volta ao País, pela terceira vez, e emociona com a sua dança butô
VALMIR SANTOS
São Paulo – Ainda com as imagens daquele velhinho bailando no palco, o crítico sai de casa, na manhã seguinte à estréia, quarta-feira passada, de “Caminho no Céu, Caminho na Terra” (Tendoh, Chidoh). Subia uma ladeira, quando deparou com um belo quadro da natureza: um arco-íris çoberto parcialmente por nuvens cinzas. O vento anunciava chuva. Esse contraponto entre as cores primitivas e a escuridão de nimbos acabou revelando, no fundo, um cadinho de compreensão da dança de Kazuo Ohno. Nas trevas e na alma, ele arrebata com seu corpo magro, a pele manchada pela velhice. Aos 91 anos, em sua terceira visita ao Brasil, Ohno continua semeando a palavra e o gesto em prol da ligação umbilical do homem com o universo que o cerca. Por mais que se busque uma teoria, uma nesga de lógica, o que dança e pulsa no butô do mestre japonês é a vida no que ela tem de essência e sublime. O ser e estar como antena do cosmo.
“Caminho no Céu, Caminho na Terra” foi o primeiro dos dois espetáculos que ele dança na Temporada Sesc Outono 97. Acompanhado do filho, Yoshito Ohno, 58 anos, também estava programado para apresentar, ontem e hoje, “Ninféias” (Suiren). As duas coreografias são inspiradas em pintores.
A primeira remete às serigrafias de Shohaku Soga, artista japonês do século 18. A segunda tem como referência a série “Lírios D’Agua” do francês Claude Monet.
Em “Caminho no Céu, Caminho na Terra”, Yoshito Ohno surge na platéia, caminhando em direção ao palco, com um vestido florido, uma plumagem azul despontando na cabeça careca – uma peculiaridade sua.
Fica evidente a presença de Yoshito como um vetor entre os dois caminhos abertos por Kazuo Ohno e Tatsumi Hijikata, os dois mentores da dança surgida no pós-guerra. Yoshito equilibra o Dionísio e o Apolíneo em seu corpo. Seu silêncio gestual transcende a noção de tempo e espaço. Tem o vagar do pai, mas também a visceralidade do pai artístico, Hijikata.
Em seguida, Kazuo entra incorporando um personagem de uma das serigrafias de Shohaku Soga. Com cabelos esvoaçantes, espetados com varinhas de bambu, ele carrega uma vassoura de piaçava. A imagem é primitiva, como convém à perspectiva ancestral que o dançarino imprime em toda a sua obra, dialogando também com os mortos, além dos vivos.
Yoshito volta, agora todo de branco. As frestas do seu canal com o público não chegam às comportas de Kazuo Ohno. O filho dança com uma interiorização sutil, que mais hipnotiza o olhar do que propriamente comove.
Kazuo Ohno agora aparece todo de preto, paletó, calça e um chapéu com rosa vermelha na aba. Seus gestos não são expansivos como se verá logo depois, quando entra de vestido preto, também com chapéu, aludindo à sua personagem-mor, La Argentina. Foi em 1929 que o jovem Kazuo assistiu pela primeira vez à apresentação da bailarina argentina Antonia Marcé, La Argentina, que viveu na Espanha.
É aí, na comunhão do homem, da mulher, da criança e do velho, enfim, que o mestre conduz todos para uma emoção bruta, universal. Kazuo Ohno desconstrói um dos maiores mitos pop, Elvis Presley, dançando uma música romântica. Na hora do aplauso, ganha uma rosa de uma espectadora. Se prosta, se joga no chão, não cabe em si de agradecimento, de doação. Improvisa uma bis com a rosa na mão, trêmulo, vibrante com a troca de energia. E a vida, na síntese do butô, por um momento gira em torno daquela flor. A vida cabe ali como uma mágica.
Amadorismo-chique prejudica ‘Viúva’
11.5.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 11 de maio de 1997. Caderno A – 4
Marco Antônio Braz e seu grupo voltam a Nelson Rodrigues sem a inventividade de “Perdoa-me…”
VALMIR SANTOS
São Paulo – O diretor Marco Antônio Braz começou a dizer a que veio no ano passado, com “Perdoa-me Por Me Traíres”. A peça, montada à margem do circuito, num corredor espremido do Indac, na Capital, aos poucos caiu no boca a boca e ganhou uma temporada de sucesso no Centro Cultural São Paulo. Braz, um dos novos nomes da atual geração, e seu grupo Círculo de Comediantes, também jovens recém-formados, atravessam agora um momento inusitado para quem vive de teatro. Estão em cartaz com três espetáculos:
“Viúva Porém Honesta”, “Arturo Ui – Essa Onda Vai Te Pegar!” e “Antonio Mora Recebe Fernando Pessoa”, este um monólogo.
Inevitável a comparação. “Perdoa-me…” primou pela leitura assumidamente aberta do humor explícito de Nelson Rodrigues, na maioria das vezes relegado ao porão da pornografia. Braz chamou atenção pelo domínio do espaço cênico, horizontalizando a cena e dispondo público na sua lateral. Nada de novo, mas bem feito. Houve um trabalho acurado na preparação dos atores, com uma atuação marcante de Flávia Pucci no papel do tio neurótico apaixonado pela sobrinha sedutora.
Na nova visita a Nelson Rodlrigues, a sensação é de que o Círculo de Comediantes se encontra exatamente num circuito fechado. Ocupando o palco do Teatro Sesc Anchieta, mantém perspectiva de corredor em boa parte do espetáculo, ainda que diante de uma platéia convenc:ional, italianamente falando.
Quando os coros se deslocam alegoricamente, de uma ponta a outra, como que cuspidos pelo gelo seco, o espectador sabe que já viu aquilo em algum lugar, especificamente em “Perdoa-me…”. Foram tantas as montagens neste “boom” de Nelson Rodrigues que mesmo sua “farsa irresponsável em três atos”, na fórmula que Braz e o Círculo repetem, termina entrando num vácuo desalentador.
O diretor se preocupa tanto em solucionar o entra-e-sai nas laterais e centro, em “viajar no túnel do tempo com suas luzinhas, que termina pôr desprezar a potencialidade do elenco. A decepção maior em “Viúva Porém Honesta” é um certo ranço amador-chique que disponta no grupo em certas passagens, a começar pela protagonista, Joana Curvo, a viúva Ivonete. A atriz faz uma colegial bastante superficial. A transição entre a estudante ninfeta e a mulher epicentro da história não seduz. Joana abusa dos trejeitos infantis. Ivonete, a viúva, é muito mais que isso.
Em outro extremo, porém, está o Dr. Lambreta (Claiton Freitas), exemplo de como fazer uso da caricatura sem descaracterizar o personagem; ao contráno, fazê-lo crescer aos olhos do espectador.
Com a montagem mediana, resta contemplar o festival de frases-feitas que Nelson Rodrigues dispara em sua peça raivosa, escrita logo depois da péssima recepção de público e crítica a, justamente, “Perdoa-me…”. “Todas as mulheres sentam, porque não minha filha”, começa o pai da moça, Dr. J.B. (Maurício Marques, esgarçante o tempo todo), poderoso dono de jornal.
E a verve nelsonrodrigueana – não raro machista e preconceituosa -, concentra-se principalmente no trato com a crítica teatral. Criou um personagem-alvo, Dorothy Dalton, gay que é levado à condição de crítico da nova geração, atropelado por um carrinho de sorvete chiquea Bon. Freud, ou “Segismundo”, é espicaçado na pele de um psicanalista. A falsa hipocrisia da família, com seu “pudor bestial”, também não escapa.
Viúva Porém Honesta – De Nelson Rodrigues. Direção: Marco Antônio Braz. Com Círculo de Comediantes. Quarta a sábado, 21h; domingo, 19h. Teatro Sesc Anchieta (rua Dr. Vila Nova, 245, Consolação, tel. 256-2281). R$ 15,00. Até 29 de junho.
“Arturo Ui” perde com seu tom “hiper-realista”
São Paulo – A terceira montagem em cartaz de Braz e do Círculo de Comedian tes é “Arturo Ui – Essa Onda Vai Te Pegar!” É a que dá um passo adiante em relação a “Perdoa- me Por Me Traíres”, marco da emergente trajetória do diretor e grupo. Volta o “corredor” desta vez no histórico Teatro Oficina, de Zé Celso e seu Uzyna Uzona. É ali que Braz e grupo parecem encontrar o seu ideal estético.
“Arturo Ui” busca a consagração do espaço, a veemência do Uzyna Uzona em “Ham-Let” ou “Bacantes”, por exemplo. A angústia da influência de Zé Celso em Braz fica na intenção. O discurso e a prática são outros quinhentos.
O anti-capitalista Brecht faz em seu texto original, “A Resistível Ascenção de Arturo Ui”, mais uma dura crítica ao regime, centrando fogo no embrião autoritário que culminaria com Hitler na Alemanha nazista. Uma máfia do Bronx, bairro norte-americano, corrompe simples plantadores de couve-flor, bem como os comerciantes e o cartel que estão por trás dele.
Tal relação inescrupulosa, uma máquina de moer seres humanos em troca do lucro, serviu de parâmetro para adaptação de Valderez Cardoso Gomes. Por assimilação, portanto, a montagem toca em CPI, nhenhenhén, PM de Diadema e por aí vai. Arturo Ui, o personagem principal, é um gangster nato, um Herodes ou Stálin dos tempos que correm. Movido por ambição desmessurada, domina de grandes comerciantes, como Totó Fidélis, “70 anos de honestidade”, até pobres quitandeiros, reproduzidos aqui como sem-terra.
A atualização-estilização inclui, ainda, a música-tema de Batman, um rap de Thaíde e DJ Hum ou uma abertura de antigo programa de um antigo programa de desenho infantil (“… do que caubói que dá cem tiros de uma vez”).
Estilização talvez não seja bem a palavra, mas o espetáculo, ao final, dá sensação de que denuncia a violência por denunciar. Retrata a realidade com muita intenção de fidelidade, a ponto de exibir trechos da ação de PMs em Diadema. Esse oportunismo instantâneo, de associação imediata com os acontecimentos, têm efeito contrário, tiram impacto.
O que vemos é reproduzido com tamanha riqueza de detalhes que uma arma na cabeça de uma sem-terra, indefesa, não vai além do óbvio; não acrescenta. Predomina essa “hiper-realidade” que apaga o épico brechtiano, mesmo nesta fábula, a favor de uma tradução urbana, aqui-agora à décima potência.
Ainda assim, em “Arturo Ui” vislumbra-se um diretor mais coerente, intérpretes mais entregues. Guilherme Kwasinski, por exemplo, no papel-título, parece buscar inspiração sobretudo na linguagem dos quadrinhos. Chega a ela de forma sutil, sem a fragmentação estanque e com a elegância de um Noel Rosa, por mais que a equação seja absurda.
A cena em que um ator, dentro da peça, ensina gestos e posturas “corretas” ao gangstermor, para melhor se posicionar em público e dominar as massas, acaba se revertendo numa homenagem ao teatro, evocando Shakespeare e seus fundamentais Júlio César e Titus Andronicus.
Na metalinguagem, o vídeo é avassalador. Uma das passagens é de uma brutalidade atroz: Num desses documentários mundo-cão, um homem tem seu braço arrancado à força, puxado por uma corda. O preço, aí, é alto para o teatro: a imagem prende mais atenção do que a personagem ensangüentada que cruza o palco.
Entre o horror e a sabujice política, o submundo do crime e os refestelados da alta sociedade, o Brecht de Braz, Círculo de Comediantes e adaptador demonstra potencial para encantar e espantar muito mais do que os meros 90 minutos em que se esforça para entreter e entreter – dado o acento musical.
E a “fábrica” Braz não pára. Em julho, o diretor estréia no Rio de Janeiro um novo Nelson Rodrigues, “Beijo no Asfalto”, com a excelente Flávia Pucci no elenco.
Arturo UI – Escola Onda Vai Te Pegar! – Adaptação de Valderez Cardoso Gomes para o texto de Bertolt Brecht. Direção: Marco Antônio Braz. Com Círculo de Comediantes. Quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. Teatro Oficina (rua Jaceguai, 520, Bela Vista, tel. 606-2818). R$ 10,00. Até 10 de junho.
Montagem sobre Pessoa é como uma piada mal contada
São Paulo – Fernando Pessoa (1888-1935) é um fenômeno. Os versos do poeta português e seus heterônimos (Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Alvaro de Campos, os principais) continuam, nos dias de hoje, atraindo multidões. Encabeça, por exemplo, a lista dos livros de bolso mais vendidos recentemente, provando veio popular escondido nas entrelinhas do nacionalismo místico e do sebastianismo que povoam sua obra.
Para espantar ainda mais o desassossego, o diretor Marco Antônio Braz e o ator Maurício Marques escreveram um monólogo que “brinca”, como eles dizem, com o poeta.
De fato, “Antonio Mora Recebe Fernando Pessoa”, o texto, é direcionado para a comédia. Médium português quer “incorporar” o poeta, mas só consegue trazer à tona os seus heterônirnos. A história, em si, é engraçada mas a montagem carece de apelo. Como uma piada mal contada.Também no elenco de “Viúva Porém Honesta”, com o mesmo grupo Círculo de Comediantes, Márcio Marques não está à vontade em cena. Talvez seguindo concepção de Braz, cria uma dependência demasiaia da resposta do público. Antes espera do que oferece.
Essa relação ficou evidente na sessão para menos de dez pessoas. Com a platéia vazia, Marques se vê encurralado com seus personagens. A cabana do médiun (personificado pelo heterônimo Antonio Mora, o “filósofo” dentre os pessoanos), que deveria ser a “caixa mágica hermética”, não reflete nenhum encantamento. Ao contrário, serve simbolicamente de esconderijo.
Com uma interpretação contida – tipos que às vezes lembram espasmo do fantasma de Collor ou desses pastores televangélicos -, enfim, Marques não sustenta o vôo para fazer o público decolar.
Falta-lhe, quem sabe, um encontro efetivo com os papéis que vão se sucedendo no palco espaçoso.
Curiosamente, na cena final, em que se desloca da intenção cômica para aflorar o drama, na interpretação/declamação de um poema de Pessoa, uma ode à fé crista, Marques atinge essa relação de completude. Emociona, sim, mas já cruelmente tarde.
Antonio Mora Recebe Fernando Pessoa – De Marco Antônio Braz e Maurício Marques. Direção: Braz. Com Marques. Quinta a sábado, 18h30. Teatro Sesc Anchieta (rua Dr. Vila Nova, 245, Consolação, tel. 256-2281). R$ 10,00. Até 28 de junho.
Salomé” seduz pela interpretação
13.4.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 13 de abril de 1997. Caderno A – 4
Atores Luis Meio e Christiane Torioni compõem papéis tocantes na versão de Oscar Wilde
VALMIR SANTOS
Tua boca é mais
vermelha do que os pés dos
que machucam as uvas
nos lagares –
É mais vermelha do
que os pés dos pombos
que habitam os Templós
Tua boca é como
um ramo de coral trazido
do crepúsculo do mar,
é como a púrpura dos reis
Nada no mundo é tão
vermelho, como o
vermeho da tua boca
Deixe-me beijar a tua
boca, Iokanaan (Oscar Wilde)
|
|
São Paulo – Oscar Wilde faz da metáfora uma figura de linguagem marcante na sua “Salomé”. Lua, mulher, estrela — fenômenos naturais e humanos são citados no texto que tem como eixo a religião e a interferência do humano no destino. “Não se pode achar símbolo em tudo que se vê (…), fica um horror”, sentencia Herodes, o pai da princesa protagonista. A frase, dentro da peça, revela a nuvem de paralelos que termina por roubar muito da ação na montagem em cartaz no Teatro Faap até hoje – a partir da próxima sexta muda para o Arthur Rubinstein, no clube A Hebraica, também na Capital.
Diante das metáforas, resta a contemplação. O diretor José Possi Neto se sai bem na resolução da cena. Aprofunda o tom místico da história bíblica que vem através de séculos. A lenta movimentação dos atores, a indefinição de espaço e tempo (vagamente sugerido no figurino) compõem um quadro de tintas orientais.
Água e fogo são elementos evocados. O cénário de Felipe Crescenti traz um lago artificial e cordas que ascendem ao céu, permitindo a exploração dos planos superior e inferior.
A “Salomé” vertida por Wilde, no final do século passado, equilibra a exposição da filha protagonista e dedica atenção também ao pai, Herodes. Aqui, são interpretados por Christiane Torloni e Luis Melo. A parceria recente na televisão não depõe contra – o que se esperava em se tratando do talento de Melo e da presença marcante de Christiane.
Melo catalisa com seu Herodes, por vezes remetendo à fúria de um Macbeth ou de um camponês messiânico, como respectivamente em “Trono de Sangue” e “Vereda da Salvação”, ambas dirigidas por Antunes Filho.
Ele capta cada filigrama, desenha o personagem com profundidade; beira o transe aos olhos do público.
“Pode transformar água em vinho (…), mas não permito que ressuscite mortos”, pondera Herodes quando ouve o paradeiro de Cristo. É dos momentos em que o ator esbugalha a loucura.
Christiane Torloni abraça a sensualidade. Corresponde à beleza e perversão de Salomé, “filha de Sodoma, do adultério”, que pede a cabeça de lokanaan, ou São João Batista. Seduz o padastro com sua dança e, em contrapartida, exige a cabeça daquele que lhe recusou a boca. Iokanaan, papel de Tuca Andrada, é o profeta em oposição ao mal. Não sucumbe à princesa e, para tanto, paga com a vida.
Herodias, mãe de Salomé, surge na interpretação desconcertante de Cláudia Schapira. Depois da dobradinha com Lu Grimaldi em espetáculos como “Violeta Vita”, eia volta à cena encarnando uma verdadeira megera. Herodias abandona o marido, irmão de Herodes, para ficar com este. E alavanca da roda da fortuna que prega suas armadilhas. E sucumbe também.
Em pouco mais de uma hora, “Salomé” condensa o mito, impõe um ritmo cadente, mas consistente, e projeta bons atores para conduzir o público em uma viagem pontuada pelo conflito entre desejo e poder.
Salomé – De Oscar Wilde. Direção: José Possi Neto. Com Luis Melo, Christiane Torloni, Caco Ciocler, Luis Miranda, Lais Galvão, Augusto Vieira, Jorge Penha, Beto Sodré e outros. Última apresentação hoje, 19 horas. Teatro Faap (rua Augusta, 903, Higienópolis, tel. 824-0104). R$ 25,00. A partir da próxima sexta-feira (18), a montagem muda de endereço e passa a ser apresentada no Teatro Arthur Rubinstein/A Hebraica (rua Hungria, 1.000, Jardim Paulistano, tel. 818-8827). Preço e horário não divulgados. Duração: 75 minutos.
“Dama do Cerrado” não garante gargalhada
|
São Paulo – Brasilia já frequentou os palcos com mais humor e picardia. “Capital Estrangeiro”, com Edson Celulari, foi das últimas tentativas, cerca de dois anos atrás – pouco feliz diga-se de passagem. O alvo amainou em tempos de Real. Mas as moscas continuam lá. Quem agora volta à “lama”, ainda que com um pé no passado, é o espetáculo “A Dama do Cerrado”, mais um texto de Mauro Rasi, o mesmo do sucesso “Pérola”, da temporada passada. |
Rasi não atualiza, mas remete ao escroque político da “abertura”. ACM, Maluf, Roseana, Aecinho… Eles continuam na ativa. Verão de 85, véspera da posse de Tancredo Neves, eleito pelo Congresso Constituinte. As eleições diretas não vingam e o País consola-se com seu primeiro presidente civil depois do período militar.
Mas veio mais uma daquelas intervenções históricas, sabe-se lá se destino, que deixam todo mundo de boca aberta de quando em vez: a supreendente internação e, dias depois de tanta agonia, o anúncio da morte de Tancredo pelo porta-voz Antonio Britto.
É sobre este fundo sócio-político que o autor solta um humor que só não é mais rasgado por causa da contenção do texto e pela própria característica da dupla principal, Otávio Augusto e Suzana Vieira.
Não há uma tirada, uma frase de efeito cortante. “Inocente não sobrevive em Brasilia”, dispara em tom quase formal Leda Florim (Suzana) – socialite de meia-tigela que envolve-se com um deputado da corja para tirar, ela também, proveito próprio.
A atriz vai ao que parece ser seu limite na comédia, sem acrescer ao que o público já conhece da televisão. A perua Leda, comedida, desata a sua bancarrota para o cabeleireiro que não vê há duas décadas. É nessa retrospectiva que se tem notícia do jogo de bastidores, com fofocas pinçadas aqui e ali.
Quem serve de “parede”, mas vai muito além, é o cabeleireiro Fúlvio, na pele de Otávio Augusto. O “gueixa” (um trocadilho para gay?) surge com o quimono e vive entrando em viagens com maconha, cocaína, haxixe, LSD. Um figurino de cores berrantes, um cenário igualmente digno de filme de Almodóvar, de salão de beleza, uma iluminação espalhafatosa, enfim, ainda assim a piada está nos trejeitos de Otávio Augusto.
Ele consegue se utilizar do estereótipo sem exceder, com timining até para cenas abertas. Quando surge vestido em preto, sadomasoquista, já tem o público nas mãos.
Despretensiosa, “A Dama do Cerrado” dá conta do recado mas não assegura gargalhada deliberada, franca.
A Dama do Cerrado – De Mauro Rasi. Com Suzana Vieira, Otávio Augusto, Beatriz Lyra e Luciano Mallman. Quinta e sexta, 21h; sábado, 20h e 22h; domingo, 19h. Teatro Jardel Filho (avenida Brigadeiro Luís Antônio, 884, Bela Vista, tel. 605-8433). R$ 28 a R$ 32. 90 minutos.
Um Villela moderno e tradicional em ‘Ventania’
|
São Paulo – “Ventania” expõe um Gabriel Villela afeito a experimentar outros caminhos. A peça de autoria de Alcides Nogueira pincela a autobiografia do dramaturgo José Vicente e volta à casa noturna Tom Brasil para três sessões no próximo fim de semana. |
Oposição bem e mal, sol e lua; a dicotomia de Zé e Vicente, dois personagens fundidos em um só; enfim, flancos explorados em meio à linguagem pop da peça que remete aos anos 70. Assim, canções lúdicas dividem espaço com Elvis Presley, The Doors, George Michel.
Villela transita com tranquilidade entre a tradição e a modernidade. Não abre mão das luzinhas, do Cristo, da rusticidade do cenário, do seu teatro como ele é. Contudo, incorpora-se à atemporalidade musical sem soar datado. Não se trata de um “Hear” saudosista, por exemplo.
“A Vida é dia útil; a vida não é domingo”, propaga Vicente, tentando instigar Zé, o poeta, o sonhador. As palavras têm seu peso medido em “Ventania”.
A alma da mãe de Zé e Vicente, morta, trava um embate com sua mãe, avó dos rapazes, que também têm que lidar com a irmã Luiza.
Mas um dos problemas recorrentes de Villela está na direção de ator. Ela sucumbiu em “O Sonho”, por exemplo, com o elenco despreparado do Teatro Castro Alves, da Bahia. Em “Ventania”, os irmãos interpretados por Davi Taiu (Zé) e Eriberto Leão (Vicente) ficam aquém da loucura ou santidade.
Malu Valle, no papel da mãe morta; Sílvia Buarque, a irmã, e sobretudo Lorival Prudêncio, como avó, eles sim, dão conta da interpretação e sustentam a montagem – todos coadjuvantes.
Ventana – Mais três sessões: sexta (18), 22h; sábado, 22h; e domingo, 20h). Tom Brasil (rua olimpíadas, 66, Vila Olímpia, tel. 820-2326). R$ 15 a R$ 40.
Mogi das cruzes “sai do armário” aos poucos
13.4.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 13 de abril de 1997. Caderno A – 3
VALMIR SANTOS
Não foi uó. Elas deram o ar da graça para uma platéia seleta, sim, e empolgada, que atirou pérolas do mundinho para a passarela – tipo “É Tudo!”, “Abalou”, “Dá valor, meu bem!”, As “monas”, como elas se tratam, esquentaram a lanchonete Zero Grau na noite de quinta-feira. O I Concurso de Beleza Mogi Gay 97 confirma que, aos poucos, a cidade vai saindo do armário – já tem sex shop, pois não? A manifestação da sexualidade, ainda que em conta-gotas, ganha visibilidade muito além dos “personagens” temporões. É o movimento GLS, sigla para gays, lésbicas e simpatizantes. No capitalismo da lei do lucro sem preconceito, descobriram o filão da vez. “Viado”, expressão pejorativa fora de moda, é consumidor exigente e“está podendo”. Abaixou a onda clubber, que na entrada dos anos 90 debutou no Massivo, casa noturna dos Jardins, na Capital. Agora quem manda em tudo é o mercado. Ou melhor, o também fundamental Mercado Mundo Mix, guarda-chuva que abriga todas as tendências.
A mesma Mogi que boicotou preconceituosamente, cerca de dois anos atrás, a versão local do evento em César de Souza, iniciativa de Leandro Silva, da Laser Vídeo, desta vez foi mais receptiva. Claro que a estudantada que entupia a lanchonete evaporou ao toque de recolher das 22 horas. A resistência ainda é grande, mas os heróis, ou heroínas como as organizadoras Mary e Silvana de Andrade, “simpatizante” e “militantes”, estão aí para derrubar tijolinhos.
Quem não foi, perdeu oportunidade para rir à toa com a cicerone Silvete Montilla, 29 anos, 10 de noite. Auxiliar da Promotoria Pública de dia, ela se transforma com a chegada da lua para assumir sua veia artística.
Silvete é uma verdadeira comediante com domínio de palco-passarela de causar inveja em muitas que fazem das tripas coração para ganhar o público. Ela não. E escorregadia, maliciosa, de uma comicidade espontânea capaz de arrancar gargalhadas até dos mais sérios.
“Ê aííííí?! não cansa de repetir o grito de guerra do dicionário GLS – para perguntar como vai -, que ela jura ter batizado. São anos de shows em boates, de “bas fond”.
Atacada pelo “Exu Petinha”, desencana com o sorteio de uma passagem para “Paris.. .Cida do Norte”; admite que “nome de gay é uma floresta que sai da boca”, diante de tanto anglicismo das dondocas (Stephane, Kelly, Natash etc); dá uma colher de chá para o “patrocinador”, “Tubaína Pitu, aquela que você toma pela boca e sai… por aquela linha”; berado para a participação especial do evento em Mogi…
“Mas nada disso importa”, conclui a própria Silvete, perguntando se alguém da platéia “catou”. Divertir é o que há. Parecem deslocadas de tempo e espaço, como um sonho. Todas já foram miss isso, miss aquilo, como se coubessem no trono de rainha.
Mas afinal, a vida longe dos holofotes segue seu curso. Silvete, por exemplo, não se conforma com a desculpa de não ter camisinha na hora “h” – “usa papel Melita”, apela. Participou do “Alerta CaridAids”, que reuniu 15 mil em São Paulo, ano passado. “O gay tem emoção de rir e chorar como qualquer outro ser humano”, explica. Preconceito, como não bastasse a carga, continua sendo, para muitos, mera desinformação à beira do próximo milênio.
E histórias humanas, aliás, não faltam. Natasha Dushesi, 25 anos, uma das candidatas revela com naturalidade que sua primeira transa foi aos sete anos, com um primo. “Sempre acontece dentro da família”, aposta. O primeiro vestido, ela nunca esquece, usou aos 12 anos, para ir à escola. “A maioria dos gays só ri para não chorar”. Natasha diz cursar o primeiro ano de Moda numa faculdade do Rio de Janeiro. Confessa que só entrou porque “comprou” o diploma do segundo grau (“Como toda escola pública de lá, você precisa ter dinheiro”). É a vida sem maquiagem, como ela é.
Nelson de Sá faz crítica da diversidade
6.4.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 06 de abril de 1997. Caderno A – 4
VALMIR SANTOS
CURITIBA – Nelson de Sá aproveitou a última edição do Festival de Teatro de Curitiba, mês passado, para distribuir um catálogo do seu primeiro livro, a sair nos próximos dias pela editora Hucitec. Com fotos de Lenise Pinheiro, “Divers/Idade – Um Guia de Teatro dos Anos 90” é uma coletânea de textos publicados na ‘Folha de S. Paulo”, onde trabalha há oito anos. São críticas e reportagens que refletem tendências da década, até aqui. Da renovação dramatúrgica encabeçada, acredita, pelo americano Tony Kushner (“Angels in America”) ao rito cênico católico do pernambucano Romero de Andrade Lima (“Auto da Paixão”), Sá resume o que sua parabólica captou até agora. Tem carinho especial por Zé Celso (autor da “orelha” do livro), de quem chegou a ser assistente. “Não sou niilista, tenho esperança”, afirma o paulista de Andradina. Paralelamente, assina coluna de análise do telejornalismo brasileiro, invariavelmente alfinetando. Na conversa com O Diário, em Curitiba, Sá falou de sua formação, influência de Francis, retratações, espetáculos preferidos, fio que separa a atuação de crítico e de artista, enfim, de “Divers/Idade”.
O Diário – Como foi a pesquisa?
Nelson de Sá – Eu fui lá no cadernão da “Folha”. Fiquei lá pesquisando. Depois da quarta hora, você nem sabe mais o que está vendo. Não só as críticas, mas textos de tendências, de panoramas do teatro brasileiro, como a reafirmação da dramaturgia, do teatro ritual, com abertura maior para presença do ritual religioso, de uma cultura popular. Enfim, tem entrevistas também.
O Diário – E essa volta ao começo, essa retrospectiva dos anos 90 até aqui? Houve surpresas, mudanças significativas nos trabalhos dos grupos, diretores ou autores?
Sá – Fiquei surpeendido com alguns artistas… Havia uma certa unidade geracional, que começou na virada dos anos 90 e estabelecia o que eu imagino ser um novo momento no teatro brasileiro.
O Diário – O que você identifica de mndança dos anos 80 para os 90?
Sá – Os anos 80 foram do diretor e do trabalho visual, tanto Antunes Filho como Gerald. A dramaturgia não era o centro. Em dezembro de 90, acho interessante, morrei Tadeuz Kantor, o “pai” do teatro visual. Gerald Thomas, que era o nosso paradigma do teatro visual, escreveu M.O.R.T.E.”. A partir daí o teatro estilhaçou, o teatro foi para todos os cantos imagináveis. Tem outros aspectos que a gente pode colocar aí: a queda do Muro de Berlim, em 89, que abalou a cabeça de todo mundo, trouxe um novo momento não só para o teatro, mas para a sociedade em geral. Com o fim da “velha ordem”, tudo era possível. O teatro refletiu isso. Foi muito bonito acompnahar esse momento, e continuar acompanhando, porque a coisa continua. Daí o título do livro, “Divers/Idade”, a idéia de uma idade da diversidade, de uma idade que não existe mais, sem programa comum. É até engraçado…
Entrevistei o Décio de Almeida Prado – e ele autorizou colocar como citação no abre do livro -, ele disse que na época dele, por mais que as pessoas fizessem coisas diferentes, havia uma linha comum que unia, de certa maneira, as coisas mais aparentemente díspares. TBC e Arena tinham pelo menos um eixo. Hoje em dia não tem mais isso.
O Diário – Que pessoas, espetáculos-chave, aspectos da atuação e dramaturgia que o livro destaca?
Sá – Em termos de espetáculos, no Brasil e no exterior, a grande peça da primeira metade dos anos 90 foi “Angels in America”. É inquestionável. Deu a possibilidade de poder retornar a dramaturgia no mundo, com temas da realidade contemporânea. Abriu caminhos. Ela foi escrita em 90, eu a vi em 92 ou 93, em Londres. O texto mais longo do livro, inclusive, é uma entrevista com Tony Kushner, o autor.
No Brasil destaco “Romeu e Julieta” do Galpão, dirigido por Gabriel Villela. Teve “Auto da Paixão”, de Romero de Andrade Lima, com As Pastorinhas, um rito católico muito significativo. Teve “M.OR.T.E.” e “Fim de Jogo”, duas peças com títulos interessantes, fim de um tempo mesmo. A primeira do Gerald e a segunda de Beckett. Tem ainda “O Livro de Jó”, dirigida por Marco Antônio Araújo, e “A Bao Qu”, de Enrique Diaz. E mais recentemente está começando a entrar finalmente a segunda metade dos anos 90, que pretendo retratar posteriormente. São peças de dramaturgos que a gente pode caracterizar mais claramente como um movimento. A expressão é horrível, eles odeiam, acham que não é um movimento em si, no que eles estão certos, mas de qualquer maneira. nós como jornalistas e tutores, podemos reduzi-lo a um movimento nessa altura. Tem vários autores, como Dionísio Neto, Fernando Bonassi, Patrícia Melo, Bôsco Brasil. O diferencial dramatúrgico é que são realistas, de certa maneira, porque tentam retratar a realidade cotidiana, urbana que as pessoas vivem, espelho da vida.
Espetáculos como “Banheiro” e “Opus Profundum”, mais do que tentar revolucionar o mundo, falam de si mesmos. “Eu vivo isso e olha aqui”, é mais ou menos essa idéia.
O Diário – E aí o Antunes ficou fora?
Sá – Não, ele é um grande diretor. O problema é que o livro tenta identificar a nova leva de autores, diretores e atores… Aliás, deixei de falar de Antunes. Ele teve atores geniais neste período. O trabalho do Eduardo Moreira no Galpão, de Marcelo Drummond no Oficina… É sempre complicado citar nomes.
O Diário – Dá para apontar esteticamente as tendências nos primeiros anos da década?
Sá – Houve uma revalorização muito grande da cultura popular, do teatro de rito, onde a figura de Deus é mais presente. Como em “Auto da Paixão”, “As Suplicantes”, “A Rua da Amargura” de Villela, o trabalh do Antonio Nóbrega; “O Livro de Jó”, baseado na bíblia etc. É mais uma tendência do que movimento. Se falar assim os caras têm ataque…
Outra coisa foi a retomada da palavra na dramaturgia. São duas vertentes conflitantes, o ritual e a palavra. Mas ao mesmo tempo é um mundo em que a gente vive, um mundo da diversidade.
Houve também uma ruptura no eixo Rio-São Paulo, com grupos de Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, festivais de Londrina, de Curitiba, uma explosão de cultura que reflete o momento que estamos vivendo. As culturas regionais estão ganhando mais força do que antes.
O Diário – Você chegou a trabalhar com Zé Celso…
Sá – …Eu fui assitente de direção em “As Boas”, adaptação de “As Criadas”, de Jean Genet. E traduzi “Ham-Let”. “As Boas” foi um trabalho muito problemático. A “Folha” é um jornal que joga pesado com essa questão de distanciamento. Eu estava fazendo uma coisa que achava ao mesmo tempo certo e errado. Eu mesmo me questionei. E botei na minha cabeça que não podia escrever sobre nenhuma das duas pecas. Esse foi meu limite na “Folha”.
O Diário – Existe algum tipo de cerceamento às suas críticas?
Sá – Tem assim uma ou outra restrição… Pode-se fazer então…Mas censura não, nenhuma, zsero. Na estréia do primeiro espetáculo de Otávio Frias Filho (“Típico Romântico”), por exemplo, fiz uma crítica negativa do espetáculo e criou uma polêmica muito grande com o diretor da peça (Maurício Paroni de Castro) e nada foi questionado ou limitado.
O Diário – Como lida com as críticas ao seu trabalho? Tem muitos inimigos?
Sá – Inimigos também não né (ri). Tem problemas, sim… Bom, ninguém gosta de não ser gostado. Só mesmo diretor de teatro para achar que vaia é a glória… Não existe carinho na vaia. Eu procuro me agarrar às regras do jornalismo.
O Diário – Já teve críticas que retratou?
Sá – Teve milhares… Milhares não (ri). Eu não consigo lembrar aqui… Teve coisas que eu poderia ser menos agressivo. O difícil é quando você cai no tom pessoal. Uma vez o Décio, quando soube que eu estava trabalhando com Zé Celso, ele disse que crítico não pde. Na época eu achava que era uma experiência para completar um ciclo e me tornar um crítico de fato. Ele falou que crítico de teatro não vai na coxia, não vai no bastidor, não vai em festas da classe. Enfim, crítico tem que ficar fora. Acho importante o crítico saber que ele não tem partido.
Eu aprendi isso. Saí da companhia do Zé Celso por causa disso. Cria-se uma situação que prejudica o seu trabalho jornalístico depois. Tem que ser de uma frieza jornalística, um distanciamento, mesmo com os amigos. É como você ficar amigo da fonte e privilegiá-la. Uma vez escrevi uma crítica do Zé Celso {“Mistérios Gozozos” } e ele me disse que chorou. O próprio Zé Celso e as pessoas da classe em geral criticam esse distanciamento, acham bobagem. Mas eu não acho.
O Diário – Para você, a crítica é antes uma atitude jornalística?
Sá – É jornalismo sim. Isso não é novo. O Décio, teve momentos em que ele se disse da classe teatral e outros em que disse exatamente o contrário. O Brasil teve um momento em que o jornalismo tinha uma configuração ideológica maior. Eu só faço refletir no trabalho de crítica uma coisa que é do próprio jornal hoje… Da mesma maneira que tem uma diversidade de teatro existe uma diversidade de críticas.
O Diário – Qual a função da crítica hoje no Brasil?
Sá – O papel da crítica em geral… Assim como no teatro, você tem várias vertentes. Não existe uma crítica só, e isso não é so no Brasil. Questões básicas para mim são: eu faço uma crítica para o leitor, não para o espetáculo. Obviamente existem várias coisas próprias do teatro. Tem peças que você considera boa mas, enfim, você vive num mundo que tem milhares de referências na televisão, no rádio. Outra questão importante, que não está nem na minha boca, foi dita pelo Otácio Frias Filho, diretor de redação do meu jornal, por acaso também um dramaturgo… Por acaso não, também um dramaturgo. O jornalismo hoje é mais massificado do que era 40, 50 anos atrás. As tiragens dos jornais são milhares. Para esse público, o “leitorado”, como a gente costuma dizer, por mais que a gente tenha um carinho muito grande pelo teatro, um carinho que eu tenho, para esse público o teatro não é prioridade.
Cinema, televisão e música popular são prioridades básicas hoje na cobertura de cultura de qualquer jornal. Isso tem várias implicaçõe em relação à crítica. Uma delas é o espaço menor. A gente tem que se adaptar e é a realidade. E isso não é só no Brasil. Crítica em Nova Iorque, em Paris também tem espaço menor. Paulo Francis escrevia uns 50 centímetros. A minha média hoje é de 35 centímetros.
O Diário – O que você busca no exercício da crítica?
Sá – Existe uma discussão antiquérrima se a crítica é técnica ou subjetiva. Eu não acredito em crítica técnica, acho impossível. Pessoas com as quais me formei não acreditavam nisso, não têm isso como base. A idéia da crítica técnica, imparcial, isso é uma fantasia, não acho viável. Quem gostaria de uma crítica técnica, com critérios técnicos, com padrões técnicos é a própria classe teatral. Isso é normal no Brasil e no exterior.
O Diário – Não dá medo que a crítica acabe diante da falta de espaço nos jornais? Você, por exemplo, divide a função com uma coluna diária que analisa o noticiário da televisão.
Sá – Acho que é uma função necessária para o Jornalismo, para o 1eitor. Acredito que ainda é necessário, mas não tenho certeza se ela vai acabar. A crítica não existe há muito tempo. Aliás, como direção de teatro, um pouco mais de 100 anos.
O Diário – Fale um pouco da sua formação.
Sá – No final do livro, readaptei uma palestra que fiz para o Festival Internacional de Teatro de Londrina, onde exponho mais a minha formação… eu sou um jornalista formado, não tenho formação específica de teatro. Fiz peças amadoras, cursos de ator. De dramaturgia, mas meu trabalho é jornalístico… Não sou da classe teatral… Mas a formação verdadeira, nesse sentido, teve vários fatores, professores neste caminho. Na faculdade de Jornalismo tinha um professor, Péricles Eugênio da Silva Ramos, que fez a tradução de “Hamlet” para o Sérgio Cardoso, nos anos 50. Era um senhor maravilhoso, poeta que tinha uma paixão muito grande pelo romantismo. Eu me sinto de certa maneira influenciado por ele porque também tenho um gosto pelo romantismo, pelos espetáculos que tragam uma carga, que buscam uma certa verdade anti-formal, que era o que os românticos traziam. O crítico da “Folha” nos anos 50, Miroel Silveira, que adorava, era amigo pessoal, também me influenciou.
Mas o que moveu realmente a atuar na crítica foi o trabalho com o Francis. Fui enviado pela “Folha” em 87/88 para trabalhar em Nova Iorque com Paulo Francis, que foi crítico nos anos 50, começo dos 60, no Rio. E veio dali a vontade mesmo de ser crítico. A influência do Francis sobre mim foi avassaladora. Todo o meu trabalho posterior foi de certa maneira em função do que ele me ensinou. Naquela época, eu era correspondente bolsista da “Folha”. Era um pouco assim um lugar-tenente ou garoto de recados do Francis.
Eu lembro de uma frase formal, uma recomendação do Caio Túlio Costa, se não me engano, para quem ía trabalhat com o Francis lá: “Aprender com Paulo Francis sem copiar o seu estilo” (ri). Eu aprendi com ele, copiei o seu estilo, enfim… (ri). Mas é a influência básica que eu tomo como formação no meu teatro. Mas com o tempo eu rompi com ele como crítico, como jornalista, com relação ao trabalho dele, com os comentários como o de que o Vicentinho merecia chibatadas…
Uma série de coisas assim impublicáveis. Eu adoro o Francis, tenho paixão veneração, mas não pode. Chegou um momento em que acreditava naquilo, e hoje não mais.
Colaborou Ivana Moura, do “Diário de Pernambuco”, especial para “O Diário”
“Arrogância” do texto não confere com lado pessoal
Texto enxuto, por vezes cruel, isento. A pena de crítico tem pouco a ver com o perfil pessoal de Nelson de Sá. Onde a “arrogância” apontada, por exemplo, pelo diretor Maurício Paroni de Castro (“Típico Romântico”), dos seus piores desafetos em oito anos de cobertura teatral na “Folha”? Nada – pelo menos fora do papel. Pinta de moleque, invariavelmente tênis e calça jeans, não aparenta os 36 anos. A polêmica o persegue (ou ele a atrai?) sistematicamente desde o início, em 1989. Numa das três primeiras críticas que publicou no caderno “Ilustrada”, certo diretor – prefere não revelar o nome – foi tirar-lhe satisfação em plena redação. O jornalista correu entre cadeiras e só não foi agredido por causa dos seguranças. Assustado com o episódio, se eximiu de escrever por um tempo. Retomou no ano seguinte, mais seguro. Desde então, lida sem complacência com a “classe teatral” (“Eu não faço parte dela”, faz questão de dizer). Não poupou sequer o patrão, Otavio Frias Filho, autor da mesma “Típico Romântico” (1992). Como o colega Alberto Guzik, do “Jornal da Tarde”, autor do romance “Risco de Vida” e da peça “Um Deus Cruel” – estréia em maio -, Nelson de Sá também se aventura na dramaturgia. Mas por enquanto prefere manter seus textos na gaveta.
Thomas tenta se livrar da camisa de força
25.3.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 25 de março de 1997. Caderno A
VALMIR SANTOS
Curitiba – Poucas vezes Gerald Thomas pôs tão a nu seu processo artístico como em “Os Reis do Iê-Iê-Iê”, o “evento” (sabe-se lá o que é isso, mas está mais para instalação ou happening) apresentado no Festival de Curitiba, no fim da semana. A volta de Bete Coelho ajuda a expor a crise dos últimos espetáculos, espécie de revisão dos 11 anos da Companhia de Ópera Seca. Agora já não importa entender o não seu teatro. O público encontra mais elementos para construir o “fio”, via verbo, imagens. Thomas equilibra a erudição, a “masturbação”, com enxertos narrativos, com transparência nos signos visuais, com uma fragilidade desesperadora e urgente que parece acenar para o espectador e dizer algo como: “Olha, eu estou aqui, vagando neste vazio de poucas certezas”.
É o “eu como recurso artístico” no “laboratório pessoal” montado em menos de 15 dias, com dificuldades técnicas de toda ordem, adiamento da estréia. Uma tensão que o encenador preferiu citar e diluir dentro do próprio “evento”.
“O que é fazer teatro?”, se pergunta o manjado off de Thomas, projetando a angústia do presente para a situação ficcional de seis horas depois da apresentação de estréia. Enquanto isso, a cena mostra o Thomas-ator-ele-mesmo (John Lennon por acaso) prostado na cadeira. Usa o “atraso” que vê no teatro brasileiro.
Crítico do horizontalismo cristão, Thomas encarna ele mesmo a imagem do crucificado (mãos abertas, pés cruzados). Ao contrário dos Beatles, não pretende ser mais famoso que Jesus Cristo.
Luiz Damasceno (Ringo Star), único remanescente do embrião da Ópera Seca, tenta “atirar a primeira pedra”. Na sua fidelidade de 11 anos, Damasceno sempre foi a pedra no sapato de Thomas. Ator e encenador se correspondem por oposição. É o que estimula. Bete Coelho (Paul McCartney), por sua vez, é a complementariedade, tábua de salvação para os riscos e vôos de Thomas.
É intérprete maior (deu saudade do seu brilho, desde “Pentesiléias”, há dois anos. O quanto o teatro perde, e provavelmente muito mais ela em sua insistência com a televisão).
Damasceno/Star não agüenta mais a relação. “Até quando você vai fazer trocadinho com tudo que é básico?”, questiona. “Foram 11 anos de respostas enigmáticas”. O primeiro-ator reivindica a concretude do palco, das roupas, dos prédios, das pontes erguidas pelo Homem. Mas “a única coisa de concreto aqui é o verbo”, retruca Bete/McCartney.
Domingos Varella, que fecha quarteto incidental da companhia, assume o silêncio “zen” do papel, se é que se pode dizer assim, que lhe cabe, o de George Harrison.
Muito mais do que paralelo com as divergências dos rapazes de Liverpool, pinceladas levemente, e a corrosão do pop, são conflitos da Ópera Seca com seu criador que sustentam o roteiro. “Os Reis do Iê-Iê-Iê”, em se tratando de Geraldo Thomas, surpreende por escancarar a emoção. Quer – e consegue – tocar, dispensando a inteligência “hermética” de praxe.
Canções menos concessivas dos Beatles pontuam o “evento”, revezando com os Rolling Stones – dois caminhos distintos do mesmo mercado, Lennon e Jagger. Vertendo para o rock nacional, surge “Será”, de Renato Russo, líder messiânico do Legião Urbana morto no ano passado, com voz e violão de Luiz Frias, namorado de Bete Coelho – e clonando-o na execução ao vivo do convidado.
O cenário espaçoso e “hospitaleiro”, sugestão de um manicômio, com camas e cadeiras brancas, abriga outros desgarrados da Ópera Seca, como Marcos Azevedo e os recentes César Almeida e Raquel Rizzo. Tem o desembestado Dionísio Neto, como o assassino Mark Chapman, que chamou a atenção do mundo numa esquina de Nova York, em 1980, e Renata Jesion (ambos de “Perpétua” e “Opus Profundum”). Foram “convidados” quatro atores de Curitiba.
Gerald Thomas tem vontade de largar da camisa-de-força criada por ele. Termina por reinventar a si, uma necessidade coerente para o exercício de teatro nesse tempo veloz, à beira do milênio. Polemizar e contemplar são conjugações possíveis.
O jornalista Valmir Santos viaja a convite do FTC.
O “enfant terrible” da cena brasileira
23.3.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 23 de março de 1997. Caderno A – 3
VALMIR SANTOS
Guzik declara seu amor ao teatro
23.3.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 23 de março de 1997. Caderno A – 4
VALMIR SANTOS
Curitiba – Aos 52 anos, 47 de teatro, 26 de crí¬tica, o jornalista Alberto Guzik experimenta uma situação nova em sua carreira. Às vésperas da estréia de “Um Deus Cruel”, no 60 Festival de Teatro de Curitiba, prevista para ontem, ele confes¬sou o “frio na barriga” característico dos atores. Trata-se da sua primeira peça levada ao palco. “Acho que consegui fazer uma coisa que queria há muito tempo: uma grande declaração de amor ao teatro”, define seu texto. Não é exatamente novidade para quem debutou no romance ano passado, com “Risco de Vida”, também uma futura adaptação de Gerald Thomas – até 98. Dos mais influentes da cena brasileira contemporânea, o crítico do “Jornal da Tarde”, que antes passou pelo “Última Hora”, de Samuel Werner, é ator formado pela atual Escola de Artes Dramáticas da USP, antes Alfredo Mesquita; pós-graduado pela ECA-USP com tese sobre o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). A seguir, Guzik fala das suas expectativas e perspectivas de autor.
O Diário – Do que trata “Um Deus Cruel”? Tem fundo autobiográfico?
Alberto Guzik – Não tem nada de autobiográfico, é um exercício de ficção. Tem a ver com minha vida no teatro. Comecei a fazer teatro com 5 anos, não parei mais. Primeiro como ator amador, depois como estudante de teatro, depois como professor, jornalista, crítico. Quer dizer, efetivamente tenho uma vida no teatro e escrevo obsessivamente sobre teatro. Então não há como não fazer essa experiência derivar quando ponho a escrever sobre teatro, em ficção. Agora, a peça não tem nada que eu pessoalmente tenha vivido. Acontece como em “Risco de Vida”, que tem uma base autobiográfica maior do que a peça, mas mesmo assim acabou sendo pequena, porque acabou uma coisa onde a ficção acabou dominando muito mais amplamente do que qualquer idéia autobiográfica ou coisa parecida. A ficção está na ponta, a ficção invade. É muito poderosa e isso que é legal, é isso que é divertido.
O Diário – Como foi a transição do crítico para a dramaturgia?
Guzik – Não é uma passagem, é uma soma, um acréscimo; eu continuo crítico, continuo escrevendo crítica e continuarei fazendo isso enquanto eu achar que estou podendo manter a minha isenção e a minha neu¬tralidade em relação aos espetáculos que vejo. O fato de estar me aproximando cada vez mais da prática do teatro não está afe tando esse outro lado. No dia que sentir que ele está sendo afetado eu paro. Acho que dei a minha contribuição para a críti¬ca brasileira, tenho 26 anos de função e acho que já foi um bom exercício. Eu gos¬to do que eu faço não pretendo pa¬rar, mas se um dia sentir que o traba¬lho está sendo afe¬tado pelo exercício da ficção, aí eu vou me afastar, é isso que tem que ser feito. Na verdade, eu acho que o grande salto eu dei quando escrevi o ro¬mance “Risco de Vida”. Desta¬pei um alçapão e deixei sair um ficcionista que estava latente lá dentro, há muitos anos. E a peça é um desdobramento do romance¬, na medida em que nasceu do interesse do Alexandre Stockler do meu romance. Ele ficou mu¬ito interessado pelo livro. Quis fazer uma adaptação teatral, mas ficou sabendo que o Gerald Thomas já estava interessado, que eu já tinha dado os direitos, e é uma adaptação que vai sair, que vai ser realizada, já estamos ¬conversando sobre isso.
O Diário – Como nasceu “Um Deus Cruel”?
Guzik – O projeto nasceu ano passado, a partir do segundo romance que estou escrevendo, que se chama “Era um palco iluminado”, a história de uma companhia de teatro São Paulo, dos anos 60 aos anos 90 – acho que um período deslumbrante e é a história da minha geração no teatro, acompanha a trajetória de uma companhia ao longo de 30 anos, com saltos no tempo, é claro, senão vai ficar do tamanho do “Em Busca do Tempo Perdido”, do Proust, como oito volumes. Vou ¬fazer um volume só, do tamanho do “Risco de Vida”; umas 500 páginas, e já estou mais ou menos na metade. Quando o Alexandre começou a me sondar para escrever um texto para ele, tinha gostado muito do risco, achei que só ia escrever a peça em 98, quando terminasse o romance, porque tinha material que podia usar, que estava sobrando, algumas variantes de personagens. E daí a coisa cami¬nhou. Houve uma série de coincidências para que a peça surgisse. Tive um computador quebra¬do em Avignon (cidade francesa que abriga um grande festival) no passado, o romance estava no computador, escrevia todo dia. Tentei recuperar o romance – num caderno escrito, mas não consegui lembrar exatamente onde tinha parado, resolvi não arriscar. Então, ficção é feito dança, é uma coisa que requer uma disciplina, você tem que se dedicar àquilo todo dia num determinado horário ou dança. Lembrei-me então de uma conversa com o Alexandre, de que se fossa escrever a peça iria começar com a frase “Como assim”, e alguém respondendo “Como assim?”. Estava na praça de Avignon, num café, e aí abri o caderno e as anotações imediatamente se tornaram falas, personagens ganharam nomes, uma situação de ensaio, um di¬retor brigando com um ator, o a¬tor não entendendo direito o que é que ele faz e a peça começou a nascer, e em dois meses estava pronta a primeira versão.
O Diário – Fale um pouco sobre a história da peça?
Guzik – Uma companhia de teatro, uma garotada que sai da universidade, de uma cidade que presume-se que seja São Paulo. Ao contrário da minha ficção, esta peça não está situa¬da em nenhum momento historicamente muito preciso, mas a problemática dela data dos anos 80 para cá. É uma época sem censura, mas com censura eco¬nômica cada vez maior e que fa¬la das atividades, das dificulda¬des e das maravilhas, de fazer teatro. São cinco atores e um di¬retor que vivem o dia-a-dia de uma companhia. Então, o que o público vai ver são pedaços de ensaios, a mecânica dos ensai¬os, os bastidores, as brigas, os e¬gos, os delírios, as vaidades, as exacerbações, a generosidade, as maravilhas, as derrotas. E a¬cho que consegui fazer uma coi¬sa que queria há muito tempo: uma grande declaração de amor ao teatro.
O Diário – Como é sua relação com a classe artística?
Guzik – Na verdade, não te¬nho amigos íntimos no teatro. Conheço todo mundo, me dou com todo mundo, mas não sou um crítico de fequentar casa. Vou a um jantar quando sou convidado, mas não sou famili¬ar das pessoas do teatro. Não é porque não gosto. Falta tempo. Em geral tendo a dormir mais cedo. Já fui muito de badalação. Tenho que escrever minha fic¬ção, trabalhar no jornal e isso toma muito tempo. Uma boa noite de sono, para ter uma boa manhã de trabalho antes de ir para a redação, porque eu escrevo de manhã antes de sair de casa, não tem o que pague. E muito mais importante que jogar conversa fora num boteco. Adoro atores, adoro diretores, adoro estar no meio deles, não tenho rigorosamente nada contra, ao contrário, mas não sou íntimo das pessoas. Nunca tive um caso de amizade tão grande com um artista que me impedisse de refletir sobre a obra dele. Quer dizer, até hoje tenho conseguido efetivamente manter essa isenção com muita tranquilidade. A crítica é um exercício de poder muito fugaz e a gente tem que saber disso com muita destrez e muita consciência do processo.
O Diário – Você chegou a viver um pouco da fase, pode-se dizer, romântica da crítica, com espaço maior nos jornais em relação ao que vemos hoje. Esse “aperto” não angustia um pouco?
Guzik – Na verdade, a gente aprende a fazer o que tem que fazer. A crítica sempre fez isso, você tem que aprender a se adaptar, o jornalismo mudou, a crítica tem que mudar. Nem eu tenho mais paciência de ficar lendo…Confesso que fiz grandes digressões sobre coisas… Era lindo, era maravilhoso, era o máximo. Você lê as críticas do Décio de Almeida Prado com um prazer extraordinário, o ho¬mem é um dos maiores estilis tas da língua, entre os autores contemporâneos. È admirável a maneira como ele escreve, in¬dependentemente de qualquer outra coisa. O único jeito de vo¬cê fazer crítica é saber que você está lá, para dar a cara pra bater e pra errar. Você erra o tempo todo, é um exercício de erro. A crítica detém um poder completamente ilusório, que é poder nenhum, na verdade você é es pancado de um lado e do outro não tem nehuma regalia, na verdade, com o fato de ser crítico. As pessoas podem achar que tem, mas não há glamour nenhum. E uma responsabilidade do tamanho de um bonde, porque o que você fala pode não levar público nenhum ao teatro, mas mexe pra danar na cabeça do artista. Então você tem que saber muito bem o que você está falando porque não é brincadeira. Acho que minha vantagem nessa passagem, se existe alguma, é que sei como a crítica é feita. Então sei como receber crítica. Já soube como receber crítica, até bordoada no romance “Risco de Vida”, espe¬ro que em “Um Deus Cruel” continue sabendo receber por que vai ser necessário. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai odiar, vai ter gente que não vai com minha cara, então vai ter o maior prazer em revidar. Vai ter de tudo isso. A vida é isso e a gente tem que estar preparado.
O Diário – E como você es¬tá encarando a estréia?
Guzik – Estou nervoso e muito curioso. Torço muito, a cho que tem uma turma jovem, talentosa. Aposto neles. Eles estão apostando na peça. Acho este encontro de gerações maravilhoso. O Alexandre tem 23 anos, eu tenho 52. Acho o máxi¬mo isso que está acontecendo.A gente está dando uma lição de cooperação porque no Brasil as gerações são tão comportamentadas e o trabalho entre elas tornou-se tão raro que acho que isso pode acontecer, com lucros pa¬ra ambas as partes.
Colaborou Ivana Moura, do “Diário de Pernambuco”, especial para “O Diário de Mogi”. O jornalista Valmir Santos viaja a convite do 6º FTC.
Gerald reencontra Bete Coelho em “evento”
Curitiba – Todo ano é sem¬pre igual. Foi assim, por e¬xemplo, em “Império das Meias-Verdades”, em “Nowhe¬re Man”. Gerald Thomas cercou “Os Reis do lê-lê-lê” de segre¬dinhos. Às 2 horas da madruga¬da da última sexta-feira, dia da estréia, ligou para a assessora de Imprensa do Festival de Teatro de Curitiba comunicando o adi¬amento para ontem.
Na entrevista coletiva, na tarde de quinta, já adiantava problemas com a preparação do palco e outros detalhes técnicos. “Mas o evento está pronto”, ga¬rantia após 12 dias de ensaios. “Com 53 espetáculos nas cos¬tas, 20 anos de teatro, é preciso muita razão para tomar a decisão de estrear num palco que a organização prometeu entregar na terça-feira e já está atrasado em pelo menos 36 horas”, se queixava Thomas, justificando com antecedência o adiamento.
É “evento” e não peça que marca o reencontro, cerca de seis anos depois, de Thomas com Bete Coelho, ex-primeira-atriz da Companhia de Ópera Seca. Nos últimos anos ela seguiu carreira paralela, atuando em “Rancor” e “Pentesiléias” – esta há dois anos, dividindo a direção com Daniela Thomas.
Também estão no elenco Lu¬iz Damasceno, na Ópera Seca desde o início, 11 anos atrás, e Domingos Varella; Raquel Riz¬zo, curitibana que vem desde “Unglauber”; mais o polêmico diretor e ator Dionísio Neto (“Opus Profundum” e “Perpé¬tua”) e sua primeira-atriz Rena¬ta Jesion.
Ao contrário das aparições em espetáculos anteriores, desta vez Thomas veste efetivamente a camisa de ator. “Não sou ator, mas faço papel do Gerald Thomas”, ironiza. Ele define seu “evento” – que além das duas apresentações no festival deve ter somente mais uma em São Paulo – como um “laboratório de clonagem”.
“Não simplesmente genéti¬ca, como no caso da ovelhinha, mas clonagem semântica”, tenta explicar.
Para Thomas, a contracultu¬ra pós-anos 60, que contestava o behaviorismo, o comportamen¬to diante da sociedade, desembocou “nesta ignorância, boba¬geira que começou com ‘she’s love yeah, yeah”’, na sua opinião “o mais imbecil de todos os refrões”.
“Os Reis do lê-lê-lê” é uma crítica ao mundo pop, do qual os Beatles foram ícone? Sim e não. Em princípio, o “evento” não pretende dizer muito sobre os rapazes de Liverpool. Apropria-se dos nomes – Thomas é Len¬non, Bete Coelho, McCartney – e de algumas canções na trilha. Mas o encenador, que diz ter le¬vado “porrada” em Londres por não gostar do Beatles e amar os Rolling Stones, no tempo em que morou por lá, prefere desta¬car mais o “prazer do reencon¬tro” com a atriz com quem vi¬veu um affaire de quatro anos.
Em tese, não existe um fio. A sinopse que entregou para di¬vulgação, o próprio diretor con¬fessa, tem pouco ou nada a ver com o que será visto no palco. A mutação é uma das característi¬cas deste “obcecado pela forma”. Thomas adora as coisas feitas pelo Homem, a beleza concreta das cidades, e dispensa as providências da natureza. Venera o asfalto, o pneu e está pre¬ocupado com quem dirige o carro.
Sobre desperdiçar um bom elenco para apenas duas ou três apresentações, Thomas aponta a “efemeridade” do teatro. “Tanto faz dias ou meses”. O próximo trabalho no Brasil será em agosto, com a companhia de dança Primeiro Ato, de Belo Horizonte. Depois da experiência – e das divergências – com o bailarmno e coreógrafo Ivaldo Bertazzo, pa¬rece ter tomado gosto pelo movimento.
Aperfeiçoar a perfeição
18.3.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Terça-feira, 18 de março de 1997. Capa
Grupo Ponto de Partida se destaca em Curitiba pela coerência dos seus 16 anos de trabalho
VALMIR SANTOS
Curitiba – A história do Ponto de Partida, da cidade mineira Barbacena, ilustra a importância da estabilidade de um grupo para se fazer teatro neste País. “Sou viciada em grupo”, confessa a diretora Regina Bertola, 41 anos, uma das fundadoras. “Um trabalho permanente facilita a pesquisa, a continuidade, o rumo, o repertório, além disso os melhores momentos do teatro brasileiro foram sempre aqueles em que atuavam bons grupos”.
No último fim de semana, o Ponto de Partida encenou no Festival de Teatro de Curitiba a sua nova montagem, “Viva o Povo Brasileiro”, inspirada na obra de mesmo nome do escritor João Ubaldo Ribeiro (leia crítica abaixo).
Lá se vão 16 anos de coerência de um processo que expandiu a partir da própria relação com a comunidade. Barbacena, como acontece com boa parte das cidades do interior, carecia de atividades culturais. Não acontecia nada.
Foi então que jovens da cidade se reuniram para deslanchar o movimento cultural que tem hoje no teatro do Ponto de Partida o seu principal símbolo popular de resistência.
Levou-se para Barbacena “eventos de qualidade”, no dizer de Regina, nos campos da música, literatura e teatro. Foi este último o “veículo” escolhido para embrião. Bia Lessa deu oficina sobre expressão gestual; Sérgio Brito introduziu a preparação vocal e Cacá de Carvalho injetou a disciplina na técnica.
“Ao invés de irmos para onde estão as vitrines, trouxemos elas para o interior”, conta a diretora.
Entender a função social do artista é outro viés presente na formação. “O grande investimento nosso foi gente”, destaca o diretor de produção Ivanée Bertola, também um dos fundadores. Outro destaque da trajetória do grupo é a sobrevivência básica através da bilheteria. O Clube dos Amigos do Ponto de Partida (CAPP) soma atualmente mais de 2 mil sócios.
Se no início pedia-se uma colaboração aqui e ali, de porta em porta, agora o apoio financeiro do clube vem na aquisição de bônus ou de brindes como uma escultura do oratório em um CD independente com canções dos principais espetáculos – “Estação XV”, lançado no ano passado, ocasião dos 15 anos da trupe.
Aos poucos, a iniciativa privada também abriu as portas. “Grandes Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa, penúltima montagem, foi patrocinada pelo Governo Cultural do Banco do Brasil. “Viva o Povo Brasileiro” tem a Federação das Indústrias (Fiemg) e o Sesi por trás.
Com uma linguagem cênica definida, rigorosa, que faz tudo para fugir do regionalismo, o Ponto de Partida acumula 100 apresentações no exterior (da África a Paris). O elenco de 12 atores (ex-psicóloga, ex-assistente social, ex-estudantes etc) dedica-se exclusivamente ao teatro.
*O jornalista Valmir Santos viaja a convite do Festival de Teatro de Curitiba.
Musical encanta com a brasilidade
Definir a alma brasileira é empreitada difícil. São tantos meandros, veredas, que chegar a um determinado comum talvez seja impossível. O escritor João Ubaldo Ribeiro faz uma leitura alegórica em seu “Viva o Povo Brasileiro”, livro que o Ponto de Partida escolheu para montar e aprofundar sua identificação com uma linguagem que leva em conta a brasilidade inerente.
O espetáculo encontrou na MPB a sua melhor tradução. É na essência, um musical. Chico Buarque, Caetano Veloso, Ivan Lins, marchinhas e enredos de carnaval, enfim, a música faz o texto. No “puleiro das almas”, o enfoque vai para a Alminha Brasileira, praticamente o tempo todo em cena, como a procurar um norte, um alento.
Desde os primeiros habitantes, os índios, passando pela condição do “herói improvisado”, macunaímico por excelência, até o velho e gasto jeitinho, o espelho está lá.
Como a colcha de retalhos é vasta, não falta o futebol e a novela, objetos de culto e alienação; amor e ódio. Tem ainda o sincretismo religioso. Antropologia de palco.
Regina Bertola recorre a uma movimentação contínua dos 12 atores, ocupando planos variados do palco, com destaque para o espaço aéreo. Eles se dependuram em tubos de aço e cordas que compõem o cenário. Quando “escalam” as cordas, o quadro lembra uma partitura.
Há menos de quatro meses de estréia, “Viva o Povo Brasileiro” peca ainda pelo excesso. O gigantismo do tema, que resultou acertadamente na expansão do espaço cênico, afeta inversamente o roteiro. Quedas no ritmo e finais insinuados que nunca vêm, merecem atenção.
Mas o encanto está preservado na harmonia epifânica do elenco, nas belas vozes do Cláudia Valle e João Mello e na leveza de ser de Alminha interpretada por Lourdes Araújo. No violão e na direção musical de Gilvan de Oliveira. Na iluminação de Jorginho de Carvalho e César Ramires. Na preparação vocal e pesquisa de timbre de Babaya. No belo exercício de aperfeiçoar a perfeição do Ponto de Partida.
Grupo Galpão “ressuscita” Molière
Com 15 anos de estrada, o Galpão desenvolveu uma linguagem cênica própria que tem na rua o seu principal elemento de pesquisa. O grupo mineiro agrega ainda à interpretação o circo, a dança, a música, enfim, preenche o espaço com totalidade. A parceria com o diretor Gabriel Villela em “Romeu e Julieta” projetou com força o Galpão na cena nacional, numa leitura popular e brasileira do clássico de Shakespeare (não dá para esquecer a tragédia do par romântico sobre a Veraneio). Com o mesmo Villela, foi montada na seqüência “A Rua da Amargura”, o calvário de Cristo sob perspectiva da religiosidade popular, em particular a mineira e barroca.
Na abertura da 6ª edição do Festival de Teatro de Curitiba, na quinta-feira passada, o Galpão mostrou seu novo trabalho, “Um Molière Imaginário”. Mais uma vez, prevalece aqui o espírito da festa, do encontro. O ator Eduardo Moreira troca o palco pela direção e adora uma estética paripasso com a de Villela.
O detalhismo do cenário, emoldurado por um fio de pequenas lâmpadas; o colorido dos figurinos e adereços; o ritual do canto e da música tocada ao vivo, com o elenco carregando seus instrumentos; enfim, o espectador identifica de imediato a coerência e a identidade do Galpão.
“Um Molière Imaginário”, contudo, perde muito do impacto no palco italiano, no edifício convencional. O teatro de rua pede um cara-a-cara com o público, uma proximidade com a roda. Na fria e distante Ópera de Arame, com toda a dificuldade acústica que se sabe, a interação perde muito.
Descontado isso, sobra o talento dos atores e o respectivo esforço em atingir a platéia. O recurso do microfone – um filtro que retém um pouco da magia, diga-se de passagem – atenuou o problema de audição na gigante estrutura de ferro erguido próxima a uma pedreira em Curitiba.
O recurso visual, a movimentação e principalmente a música – trata-se de um espetáculo musical, na essência – sustentam a história que “ressuscita” Molière da sua morte súbita no palco, na vida real, e o traz para o universo imaginário, com suas alegorias e evoluções de raízes populares. O autor francês do século 17, pai da farsa, é reverenciado sem pompa e muita circunstância brasileira. E tudo fluiria muito melhor na rua.
Falta atuação no “Sonho” de Villela
2.3.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 02 de março de 1997. Caderno A – 4
Exímio nos detalhes visuais, diretor não preparou o elenco para atingir lirismo de Strindberg
VALMIR SANTOS
São Paulo – O escritor sueco August Strindberg (1849-1912) teve uma vida pessoal bastante atormentada. De formação puritana, emplacou pelo menos três divórcios. E desde cedo “aprendeu” a conviver com ataques de esquizofrenia. Em contrapartida, foi essa vivência que terminou por alimentar uma obra literária marcada pelo simbolismo e por uma cortante inquietação da alma humana em textos como “Inferno”, “A Defesa de Um Louco” e “O Sonho”, este montado agora pelo diretor Gabriel Villela, com elenco do Teatro Castro Alves, de Salvador (BA).
“O Sonho” também chegou ao palco, há cerca de dois anos, pelas mãos do diretor carioca Moacyr Góes. Na tradução da irmã, Clara Góes, o texto foi rebatizado como “Epifanias”, perfeita conjunção com o universo onírico de Strindberg.
É possível traçar um paralelo entre Villela e Góes. O trabalho do mineiro é marcado pela cenografia barroca, detalhista, como pede a influência popular e religiosa da sua terra natal, Minas Gerais. Foi assim em “A Vida É Sonho”, “A Guerra Santa”, “Rua da Amargura” etc, como uma marca registrada.
Já Góes procurou repercutir a cultura nordestina e a condição de miséria dos migrantes. Sua direção acentuou belas imagens, espelhando o devaneio dos personagens.
“Epifanias” tinha também um elenco bem preparado, diferente de “O Sonho” que, depois de sessões gratuitas no Teatro Popular do Sesi, na Capital, semana passada, agora vai participar do 6° Festival de Teatro de Curitiba.
Ainda que esforçado, o elenco de jovens baianos do Teatro Castro Alves não dimensiona as belas palavras de Strindberg. Villela deposita mais na encenação do que propriamente na interpretação.
E espantosamente um texto do início do século mantém-se com poder de sedução junto ao público. São questionamentos que dizem respeito à humanidade de ontem, de hoje e de sempre.
Agnes, a filha do deus Indra, desce para a Terra, “o terceiro universo, uma esfera de cinza e pó girando no universo, o que provoca de vez em quando tonturas”. Aqui, em carne e osso, entra em contato com os seres humanos e desvenda a dor e a angústia da existência.
Strindberg parece definir a felicidade como uma miragem, sempre inalcançável. “Os seres humanos são dignos de lástima” – é o bordão que Agnes, a “filha dos céus”, repete em várias passagens.
Para o autor sueco, “ser mortal não é fácil”. “O Sonho” pesca uma rede de conflitos para justificar sua tese. O amor, sublime amor, “é o mais doce e também o mais amargo”. Agnes, na pele da mulher que se casa com um advogado, desabafa: “Como é terrível estar casada. Viver a dois é coexistir no sofrimento”.
Nesse martírio todo, em que a platéia é o “paraíso” e o palco, “inferno”, o porvir não é demasiado caótico. Strindberg não aponta culpados. “Como pode a estátua condenar o escultor?”, indaga. Ainda que o barco da justiça afunde, depois das citações aos pacientes mortos em Caruaru, à chacina dos sem-terra no Pará, enfim, Villela reproduz essa esperança com anjos e uma sereia-iemanjá. É uma bela montagem para um belo texto que não ganhou, na preparação dos atores, a correspondência lírica e densa do autor.