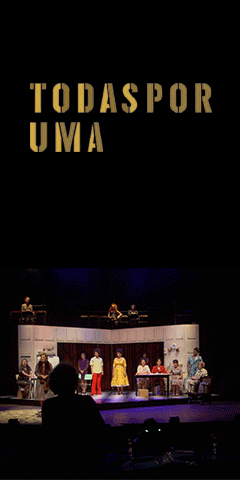O Diário de Mogi
“Omstrab” faz do corpo percussão
23.2.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 23 de fevereiro de 1997. Caderno A – 4
Com trabalhadores da construção como tema, espetáculo tem energia para se indignar e encantar
VALMIR SANTOS
São Paulo – A dança brasileira vive um momento de resgate da brasilidade. Do grupo Corpo ao ator Antonio Nóbrega, as investigações passam pelo movimento da nossa gente. Não é exatamente uma novidade: nos anos 70, por exemplo, o Stagium se apresenta em pleno Xingu. Uma síntese da fusão do brasileiro do Nordeste com aquele da “cidade grande” de São Paulo é alcançado com vigor no espetáculo “Omstrab”, que cumpre temporada até o próximo Domingo no Teatro Sérgio Cardoso, Capital.
O ambiente dos trabalhadores em obras urbanas é o principal mote da coreografia. Por trás dos tapumes das construções existe toda uma linguagem própria, edulcorada, sobretudo pelos descendentes nordestinos que acabam inserindo sua cultura na cidade de concreto.
Fernando Lee concebeu um espetáculo que capta toda essa realidade com extremo lirismo e emoção. Para início de conversa, ele classifica seu trabalho como dança-teatro. Mas “Omstrab” acaba transcendendo: os cinco dançarinos, incluindo Lee, passam todo o espetáculo explorando uma sonoridade percussiva em seis próprios corpos.
Não há trilha sonora. São os atores-bailarinos que “tocam” seu corpo e colocam a voz em cena. Quem viu a apresentação do grupo inglês Stomp, no ano passado, tem noção do que os brasileiros podem fazer no palco.
Carlinhos Brown, Mestre Ambrósio, Chico Sciense & Nação Zumbi, mestres de maracatu rural, grupos de capoeira, enfim, as referências são inúmeras no País rio em ritmo. “Omstrab” se permite absorver toda a “salada” para incorporá-la em gestos, movimentos, voz e instrumentos como balde, serrote, toalha, berimbau, sanfona e outros.
Um número de sapateado de chinelo, um “duelo” de personagem com serrotes em punho, o recurso da mímica de HQ, enfim, são exemplos de cenas em que a entrega e a inventividade dos rapazes impressionam. Suam e parecem brincar ou jogar o tempo todo com o público na mão.
Tudo está impregnado de ritual, de passagem. A imagem de um dançarino empurrando um balde no chão com a cabeça, e suas “ancas da tradição” desenhadas na penumbra da iluminação, é representativa da intensidade que “Omstrab” alcança em alguns momentos.
Dá vontade de seguir a procissão de Nosso Senhor do Bonfim, com a sanfona lacrimejante, como nas peregrinações religiosas de populares. O espaço é ocupado com tanta magia que ultrapassa os limites do palco. Aliás, tudo começa lá fora, no saguão, com os rapazes de capacete, chinelo e batucando em baldes de plástico, cantando um “Carnaval em Sampa”.
Alex Martins, Luis Ferron, Paulo Bordhin, Sérgio Rocha e o próprio Lee demonstram um preparo físico de fôlego. Estão o tempo todo em cena, bem entrosados. “Omstrab” é um momento de agia na dança-teatro brasileira, com energia para se indignar e encantar.
Omstrab – Concepção e direção: Fernando Lee. Com o Núcleo Omstrab. De quinta a sábado, 21h; domingo, 19h. Teatro Sérgio Cardoso (rua Rui Barbosa, 136, Bela Vista, tel. 288-3611). R$ 15, 00. Até 3 de março.
“Lulu” estiliza ideais expressionistas
De Sérgio Ferrara, o diretor passando por Walter Portella, o ator veterano, não dá para negar a influência do Centro de Pesquisa Teatral, o CPT de Antunes Filho, na montagem de “Lulu, a Caixa de Pandora”. Ferrara estudou no CPT e Portella atuou em várias peças, como “Vereda da Salvação”. Antes do início do espetáculo, o tablado vermelho, como em “Macbeth – Trono de Sangue”, já é um forte indício.
Aos poucos, as interpretações densas, a boa projeção de voz do elenco e principalmente o deslocamento harmonioso do “coro” confirmam uma concepção de espetáculo com a verve antuniana.
Isso não depõe contra o trabalho. Ao contrário, “Lulu” mostra uma direção atenta, buscando caminhos próprios. Ferrara e sua Companhia de Arte Degenerada centra o trabalho no movimento Expressionista, que estabeleceu uma nova visão da vida e do fazer artístico a partir da Alemanha, na década de 30.
Transfigurar a consciência, cria um novo contexto de compreensão, na qual a condição humana possa ser examinada à luz da paixão, são metas do diretor.
Sob o ponto de vista estético, “Lulu” é afinada. O vazio cenográfico (Luis Rossi), o equilíbrio das cores no figurino e iluminação compõem um visual introspectivo e atemporal.
Mas há desequilíbrio nas atuações. A força de Portella, assumindo os papéis de pai e amante da protagonista da história, é um contraponto à esforçada Deborah Lobo. Sua Lulu não projeta com intensidade a lascívia e a volúpia que se espera de personagem tão controversa e demasiadamente humana.
O autor alemão Frank Wedekind (1864-1918) construiu um mito feminino digno de tragédia grega. Lulu espelha a dubiedade entre desejo e razão.
Ainda assim, os demais integrantes da montagem, Dênis Goyos, Annette Najman, Klaus Novais, Eduardo Semerjian, Doroty Rojas e Luiz Galasso têm presença e correspondem à concepção de Ferrara.
Lulu – A Caixa de Pandora – Com Débora Ferruço etc. Quinta a sábado, 21h30; domingo 20h30. Centro Cultural São Paulo (rua Vergueiro, 1.000, Paraíso, tel. 277-3611). R$ 8,00. 80 minutos. Até 2 de março.
“Pequeno Mago” faz ritual de passagem
Em 12 anos de palco, o grupo XPTO consolidou um dos processos mais criativos da cena teatral brasileira. São trabalhos memoráveis, em que o espírito lúdico, a plasticidade de seus bonecos e a agilidade dos seus atores sempre marcaram presença, como em “Coquetel Clown”.
O ano passado foi muito especial para o diretor Osvaldo Gabrielli e sua trupe. O espetáculo “O Pequeno Mago” faturou os principais prêmios infantis. Essa, que pode ser considerada uma superprodução, reestreou para mais uma temporada gratuita no Teatro Popular do Sesi, em São Paulo.
Antes de mais nada, Gabrielli escreveu a peça com um profundo sentimento de esperança. Influenciado pelo tarô, compõe o ritual de passagem de uma criança para a adolescência como metáfora do ingresso da humanidade no terceiro milênio – estamos a quatro anos dele.
Essa nova era, a Era de Aquário, não é tratada com tinta futurista. Ela está mais próxima do que se pensa. Os vários e belos efeitos especiais utilizados em “O Pequeno Mago” não soam artificiais, como ficção científica a la “Jornada Nas Estrelas”.
Felizmente, o tratamento é bem outro. O XPTO prima pelo respeito ao público mirim e seus pais. Os mecanismos da montagem são transparentes. Duendes surgem por trás das árvores gigantes, um dragão enorme rompe no centro do palco, balangante feito um animal de verdade, e o Pequeno Mago, ao final, mergulhado em muita fumaça, de fato voa numa engenhoca que felizmente nada tem que ver com naves espaciais.
Essa cumplicidade imaginária com o espectador – nada é dado pronto, acabado – é uma virtude e tanta. Crianças e adultos são guindados a acompanhar uma viagem difusa no tempo e espaço, seguindo os passos de personagens fantásticos.
Não há propriamente uma interpretação na concepção da palavra. O aparato cenotécnico e a imperiosa marcação impedem um trabalho de ator mais verticalizado. É um preço a ser considerado.
A direção musical de Roberto Firmino, com execução ao vivo, responde pelo impacto do som dentro da montagem, oscilando o fundo e os picos com precisão. “O Pequeno Mago” converge a atenção de uma platéia sempre lotada porque lhe permite um estado onírico perseguido por muitos no teatro – e atingidos por poucos.
O Pequeno Mago – Sábado e domingo, 14h. Teatro Popular do Sesi (avenida Paulista, 1.313, metrô Trianon, tel. 284-9787). Entrada franca (retirar ingresso grátis com uma hora de antecedência).
“Baal” disseca paixão e crueldade humana
26.1.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 26 de janeiro de 1997. Caderno A – 4
Montagem da Cia. Teatroasotragos, direção de Fonseca, atualiza primeira peça de Brecht
VALMIR SANTOS
São Paulo – Quando escreveu a sua primeira peça, Bertolt Brecht (1898-1956) tinha 20 anos. Seminal, “Baal” traz o dramaturgo ainda distante do tom épico que marcaria boa parte da sua obra. No entanto, o texto já espelhava a sua voracidade transformadora. É um Brecht jovem, poeta vigoroso, comprando brida com o movimento expressionista alemão da época. O tom ideológico fica em segundo plano para florescer o indivíduo. Baal, cantando seus poemas, desafia a ordem das coisas; mama o seio da natureza animal humana para dissecá-la sem concessões.
A viagem pela “floresta negra” na montagem de ‘Baal’ – O Mito da Carne” é um constante embate entre libido e razão; dor e prazer; vida e morte. Enfim, a dualidade caleidoscópica na qual as certezas se diluem e tudo transita pelo plano do experimental , do novo, do jogo sem regras. O espetáculo da Cia. Teatroaostragos, em cartaz no Teatro Oficina, na Capital, atualiza Brecht com a energia correspondente ao espírito do dramaturgo.
Há algo de rebeldia, de James Dean em “Juventude Transviada”, de marginalidade na concepção. Não à toa, cita-se uma frase do filme “O Bandido da Luz Vermelha”, de Rogério Sganzerla (“O terceiro mundo vai explodir e quem tiver de sapato não sobra”!). A adaptação, assinada pelo diretor Marcelo Marcus Fonseca, ao lado de Zeno Wilde, contextualiza “Baal” para o final do milênio sem comprometimento da palavra brechtiana.
Com sua projeção anárquica do espaço cênico, idealizada pela arquiteta Lina Bo Bardi, o Oficina do dionisíaco José Celso Martinez Corrêa é a casa ideal para Fonseca e sua trupe de jovens atores, como ele, alçar vôo. A montagem estreou ano passado no Espaço Equilíbrio (um pecadilho?), em Pinheiros, e enfrentou problemas de toda ordem (natural, com uma tempestade que destruiu parcialmente cenários e figurinos, e humana, por assim dizer, com o roubo de equipamentos). Ressuscita agora na temporada do Oficina, com um elenco praticamente novo.
Fonseca também é o protagonista. Encarna Baal com um alheamento (não exatamente distanciamento), uma leveza desconcertante. O corpo esguio, o figurino de paletó com babados, uma boneca de pano pendurada como bolsa são detalhes de um desenho de ingenuidade que lembra um Pequeno Príncipe. Perfeito para o paradoxo que se enseja: a crueldade guiada pela paixão.
Baal ama o amigo Ekart (Élcio Nogueira, mogiano que vem amadurecendo e conquistando seu espaço no teatro paulistano), mas entre eles corre um rio de mulheres. Joana (Bel Kutner) e Sophie (Carolina Gonzalez) representam o universo feminino que o autor sabe poderoso, tanto que deu para uma das personagens o nome de sua mãe (Sophie). O desejo – e suas variantes – rege tudo. Baal se lincha para aqueles que têm como “gênio” poeta. É o caso de Mech (Ariel Borghi), o negociante inescrupuloso que propõe editar um livro.
O escritor, cheio de si, visionário que é, devora Joana e Sophie, ambas virgens. A primeira, namora Johannes, jovem que vê seus ideais caírem por terra depois da traição. A Segunda, fica grávida e se envolve com Ekart. A busca do outro através de uma “ética” muito pessoal acaba movendo os corações no tabuleiro de Brecht.
“A carne se desfaz, o espírito também”; “O que existe de mais bonito é o nada”; “O melhor lugar do mundo é mesmo a privada”; “O amor é um ato entre o céu e o chão” – são lampejos assim que brindam o espectador. “Fumando, bebendo, o desregrado Baal prefere a reza sem pureza, sem a “missa” de Ekart, que confessa: “Você corrompe a minha alma como corrompe a tudo que toca.”
“FAQUIR DA DOR”
Para a saga do “faquir da dor”, pétalas vermelhas e brancas; a tradicional queda d’água do Oficina, a iluminação igualmente visceral de David de Brito; a música ao vivo do trio David Prieto, Paulo Lowenthal e Johny. “Baal – O Mito da Carne” ocupa o “corredor” do teatro com dinâmica na movimentação do elenco, muitas vezes recorrendo ao coro grego. Os “números musicais” são bastante despojados, com vozes regulares – Fonseca se sai bem nas suas performances, com pinta de roqueiro.
O diretor, aos 25 anos, emana carisma no palco, demonstra conhecê-lo, e desponta como um dos criadores mais importantes no momento em São Paulo. Anuncia, para este ano, a montagem de “O Balcão”, de Jean Genet, com arrebatamento digno da histórica versão do argentino Victor Garcia, nos anos 70, quando o encenador levou o Teatro Ruth Escobar literalmente para o buraco.
Baal – O mito da Carne – De Bertolt Brecht. Adaptação: Marcelo Marcus Fonseca e Zeno Wilde. Direção: Marcelo Marcus Fonseca. Com o grupo Teatroaostragos (Laudo Olavo Dalri, Plínio Marcos Rodrigues, Paula di Paula, Caco Mattos, Eduardo Santana, Juliana Monjardim, Nancy Rosa, Nicolas Trevijano, Rita Alves, Evandro Rhodem, Karine Carvalho e outros). Sexta e sábado, 21h; domingo, 20h. Teatro Oficina (rua Jaceguai, Bela Vista, tel. 604-0678). R$ 20,00.
“Bar, Doce Bar” vai ao fundo do copo no divã
São Paulo – Afinal, o que querem os homens? A pergunta é a melhor tradução da comédia musical “Bar, Doce Bar”, mais um texto de Luís Alberto de Abreu, em outra dobradinha com o diretor Ednaldo Freire – eles respondem pelo projeto de comédia popular da Fraterna Cia. de Artes e Malas Artes (“O Anel de Magalão”, “O Parturião” e “Burundangas”). Agora, o elenco é do grupo Zambelê, que há 15 anos prioriza musicais.
Responsável por trabalhos marcantes nos últimos anos (é de sua autoria “Bela Ciao”, “A Guerra Santa” e adaptação de “O Livro de Jó”, além das comédias populares com a Fraternal), Abreu vem demonstrando uma habilidade bastante eclética no trato com a dramaturgia. Em “Bar, Doce Bar”, ele visita o universo masculino, ‘o clube do bolinha” que adota o boteco como divã.
É ali, na mesa de bar, tomando umas cervejas e outras, de quando em vez um rabo-de-galo sem hemorróidas”, que um grupo de seis “machos” expõe a face que dificilmente revela na intimidade do verdadeiro lar, quer para a família. “É no bar, de homem para homem, que finalmente os homens conseguem se mostrar, revelando suas expectativas frente à mulher e ao mundo”, argumenta o diretor Freire.
Abreu se apropria de todos os chavões possíveis para tratá-los de forma poética, com um viés psicológico que, em muitas passagens, faz da comédia musical um drama. A peça percorre a amizade do grupo desde a adolescência até a “idade do lobo”.
A turma da escola, que cultua as pernas da professora; o pileque na comemoração da formatura; a despedida de solteiro do primeiro a colocar uma aliança; as inevitáveis crises conjugais; os encontros esparsos da vida adulta regrada pelo trabalho que consome tudo; enfim, os seis representam, por assim dizer, um pacto de fidelidade ao longo da vida. “Os homens são animais gregários por natureza”, filósofa um do bando, a certa altura.
Para demonstrar essa evolução, “Bar, Doce Bar” conta com um elenco preciso. Os seis rapazes do grupo Zambelê dominam a técnica do canto e da interpretação (assumidamente naturalista, sem virtuosismos). A ocupação do palco, colaborada pela coreografia de Augusto Pompeo, é bem-feita. A música, executada ao vivo por três instrumentistas, dialoga coerentemente com as atuações.
Há um sétimo personagem em cena, o garçon Alfredo (Clóvis Gonçalves), o “ombro” que conhece seus fregueses-de-carteirinha como ninguém e surge também como narrador-introdutor das situações do espetáculo. “Minha função aqui é servir e saber”, assume.
“Bar, Doce Bar” não tem a presunção de “Os Cafajestes”, por exemplo, musical escrachado da companhia baiana Los Catedráticos. Naquele, predomina o ideal fálico, machista, numa verdadeira sátira ao típico brasileiro. Já na história de Luís Alberto de Abreu, há espaço para a mulher.
Mesmo sem um papel sequer, é em torno dela que predominam as conversas. “O homem é emocionalmente dependente da mulher, mas não minha geração e da do Abreu, que está hoje na faixa dos 40 anos”, acredita o diretor.
“O bar é a trincheira dos homens”, conclui o garçon-narrador, ele mesmo também expondo a sua solidão; cúmplice dos fregueses. Em certos momentos, a montagem perde o ritmo; talvez pela reiteração de enfoques. Mas são breves instantes, não suficientes para emperrar o texto, a direção e a entrega dos atores Aldo Avilez, Fausto Maule, Fernando Petelinkar, Flávio Quental, Tico d’Godoy Jonathas Joba e Clóvis Gonçalves.
Com o novo espetáculo, o grupo Zambelê amadurece seu processo de pesquisa musical – sobretudo a comédia -, como o público já teve oportunidade de acompanhar em “Sexo, Chocolate e Zambelê” (1992) e no infantil “Chimbirins e Chimbirons” (1994). E o gênero musical está cada vez mais afinado, com fôlego para entreter sem padecer da síndrome de inferioridade.
Bar Doce Bar – De Luís Alberto de Abreu, mesmo autor de “Bela Ciao”, “A Guerra Santa” e adaptação de “O Livro de Jó”. Direção: Ednaldo Freire. Com grupo paulistano Zambelê. Quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. Música composta por Marcos Arthur. Músicos: Giancarlo Gerbelli (teclado), João Adriano (violão), Fernando El Barracón (percussão) e Cássio Neves (baixo). Iluminação: Newton Saiki. Coreografia: Augusto Pompeo. Cenário, figurino, adereços: Luís Augusto dos Santos. Teatro Ruth Escobar (rua dos Ingleses, 209, tel. 289-2358). R$ 20,00. 95 minutos. Até 4 de maio.
Quinteto faz ‘auto de fé’ pela música de raiz
26.1.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 26 de janeiro de 1997. Caderno A – 3
VALMIR SANTOS
São Paulo – Marcelo Melo entrecruza as mãos, como se estivesse rezando diante do microfone. O grandalhão Toinho Alves, por sua vez, toca e canta abraçado ao baixo acústico, um instrumento maior que ele.
São imagens epifânicas dos dois remanescentes da formação original do Quinteto Violado, num “auto de fé” pelas raízes da música nordestina, que levam adiante com seus outros companheiros de palco, celebrando 25 anos de estrada.
E “25 anos Não São 25 Dias” é o nome do show e CD recém-lançado. O espetáculo foi apresentado semana passada, em São Paulo, na Sala Funarte, e agora está em cartaz no Rio.
O 28° disco do grupo foi gravado ao vivo, com participações especiais de Elba Ramalho e Alceu Valença. Mas acompanhá-lo ao vivo é sempre mais emocionante. O Quinteto surgiu em 1971. Desde sua gênese, está filiado aos artistas que têm a cultura popular como principal bandeira.
A mixórdia rítmica dá conta de baiões, cirandas, frevos e outros balangandãs que traduzem uma brasilidade inerente.
O instrumento, a letra e a presença dos músicos do Violado lembram outro Quinteto, o Armorial, que também surgiu em Recife (PE), na década de 70, capitaneado por Ariano Suassuna (“Auto da Compadecida”), e então com um moço baixinho e magrinho na sua formação: o instrumentista, ator e dançarino Antonio Nóbrega, o mesmo que anos depois se tornaria um dos símbolos da resistência cultural com seu Espaço Brincante.
O show de bodas de prata faz um apanhado da carreira. Assim como o CD, abre com “Tô Chegando”, composição de 25 anos atrás, de Duda Alves e Toinho Alves, cujos versos dizem “Do forró ao arrasta-pé/Nunca estou indo embora”. Não mesmo.
Especial
E tem “Bodas de Frevo”, poema de Aldir Blanc, musicado especialmente para a data (“Eu vi, olá/Um quinteto violando/Violalirando/Esse Brasil patife”). Tem “Águas de Março”, do maestro Tom Jobim, em versão embolada.
Tem homenagem a Luiz Gonzaga, com “Sabiá”, “Cintura Fina” e “Riacho do Navio”, todas em parceria com Zé Dantas.
Da passagem do grupo pela Ilha de Cabo Verde resultou a contagiante “Mulato”, letra e interpretação de Toinho Alves. E teve ainda leituras para “Tenho Sede”, de Dominguinhos e Anastácia, e “Pingos de Amor”, de Paulo Diniz e Odibar.
Melo, Toinho, Dudu Alves (teclados), Ciano Alves (flauta), Roberto Medeiros (percussão), mais o músico convidado Kiko (bateria) promovem um verdadeiro encontro com o outro Brasil, aquele além e acima do eixo Rio-São Paulo – espontâneo, criativo e vivo no que ele tem de mais belo na arte transformadora que é a música.
O Quinteto Violado, que neste ano ganha uma biografia, cravou com honra, coerência e sobretudo matutice o seu nome na história da MPB.
“Baciada” teatral a R$ 1,00 vai até Domingo
26.1.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 26 de janeiro de 1997. Caderno A – 3
VALMIR SANTOS
São Paulo – Segue a “baciada” do “Mês Teatral” em São Paulo. O público tem oportunidade de assistir às melhores montagens da temporada passada, com ingressos ao preço simbólico de R$1,00. E ainda melhor para quem mora na região de Mogi: as bilheterias e quatro teatros da Capital, que fazem parte do evento, só vão vender os ingresso no dia do respectivo espetáculo.
Hoje serão apresentadas quatro peças. “O Professor”, escrita pelo argentino Roberto Cossa, tem sessão no Teatro Municipal. Celebrando 45 anos de palco, Antonio Abujamra dirige em parceria com Bette Dorgan e contracena com Petronio Gontijo e Leila Garcia. No Arthur Azevedo, a comédia “Uma Coisa Muito Louca” fala das complexidades de uma relação entre um homem e uma mulher, através da interferência constante de suas respectivas consciências – que viram personagens.
É o último dia também para ver “Intensa Magia”, no Paulo Eiró, drama encabeçado por Mauro Mendonça e Rosamaria Murtinho. A história escrita por Maria Adelaide Amaral enfoca uma reunião de família com sua cota de ressentimentos, gratidão, generosidade e amargura. Celso Frateschi, que perdeu sua mulher e atriz Edith Siqueira no ano passado, rende uma bela homenagem à companheira em “Do Amor de Dante Por Beatriz”, texto de Elias Andreato baseado em poemas de Dante Alighieri.
Na terça e quarta-feira, é a vez de conferir um dos melhores espetáculos de 96, “Melodrama”, que acaba de receber quatro indicações para o Prêmio Mambembe – sessões no Municipal. Em tom que oscila do reverente ao irônico e farsesco, resgata o mundo das relações familiares conturbadas, dos segredos guardados durante décadas, das identidades trocadas, das revelações fulminantes típicas do melodrama, gênero nascido na França em fins do século 18. Com a carioca Cia. de Atores, dirigida por Enrique Dias.
De quinta a Domingo, o “Mês Teatral” reserva sete montagens: “O Pequeno Mago”, com o grupo XPTO; “Viúva Porém Honesta”, de Nelson Rodrigues, com o Círculo dos Comediantes; “No Alvo”, de Thomas Bernhard. Protagonizada por Maria Alice Vergueiro; “Ubu Rei”, de Alfred Jarry, com o Ornitorrinco; “Sonata Kreutzer”, de Eduardo Wotzik, com Luis Melo (ex-Antunes Filho); “Fim de Jogo”, de Beckett, com Lineu Dias; e “Ensaio Para Danton”, de Georg Büchner, sob direção de Sérgio Carvalho.
Mês Teatral – Até o próximo domingo. Teatro Municipal (Praça Ramos de Azevedo, s/nº, tel. 222-8698). Arthur Azevedo (Avenida Paes de Barros, 955, tel. 292-8007). Paulo Eiró (Avenida Adolfo Pinheiro, 765, tel. 564-4449). João Caetano (rua Borges Lagoa, 650, 573-3774).
“Ratto, quixotesco na vida e no palco
12.1.1997 | por Valmir Santos
Diário de Mogi – Domingo, 12 de janeiro de 1997. Caderno A – 4
Cenógrafo e diretor conta histórias e dá verdadeira aula de teatro em “A Mochila do Mascate”
VALMIR SANTOS
São Paulo – Quem assistiu ao filme “Sábado”, de Ugo Giorgetti, lembra do defunto que dividia o elevador enguiçado com os tipos hilários de Tom Zé, André Abujamra e Otávio Augusto. Gianni Ratto amou o papel do velhinho nazista, cujo corpo era equilibrado de mão em mão no espaço exíguo. Ele confessa que prefere ficar “do lado de cá”. Detesta atuar diante das câmeras ou no palco porque não consegue decorar. Santo paradoxo! O homem de “A Mochila do Mascate” não tem nada de pálido e mudo. O livro de memórias revela a atitude quixotesca adotada na vida e no teatro, desde os tempos da Itália, onde nasceu, até sua chegada ao Brasil, em 1954.
Gianni Ratto viajou de Gênova ao Rio de Janeiro, 14 dias de navio. Veio a convite da companhia de Maria Della Costa e seu marido Sandro Polloni. Já trazia consigo a caixa de papelão forrada de lona marrom: a mochila, hoje bastante surrada, na qual guardaria tudo que pudesse materializar suas lembranças.
A bagagem da experiência também era invejável. Na formação de Ratto, constava encontros com verdadeiros monstros sagrados da história do teatro Ocidental, como os cenógrafos Gordon Craig e Josef Svoboda, o ator Jean-Louis Barrault e a soprano Maria Callas, sem contar o casal Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir.
Depois de trabalhar com Maria Della Costa, foi para o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), também em São Paulo, integrando o time de diretores italianos que se revezaram na casa (Adolfo Celi, Ruggero Jaccobi etc). Dirigiu verdadeiras divas, como Cacilda Becker, Bibi Ferreira e Dercy Gonçalves, a cada qual dedica um trecho em seu livro.
Muitos o consideram ranzinza, conservador. Mas quem disse que a condição de artista maior é lá muito confortável? Gianni Ratto é um intransigente, sim. Desde que abraçado à ética humana, fazendo-a transitar dentro e fora do palco, não arreda pé. Ao abrir sua “mochila”, não faz concessões. Do pai que trata como “canalha” (abandonou a mãe quando ele era criança) até a cutucada em atores e público em geral – um caça e outro adora aplaudir (“ninguém mais vaia”, lamenta), a postura crítica é uma constante.
Aos 80 anos, o próprio não compactua com o incenso comum de jovens diante dos mais velhos. Acredita que o acúmulo de experiências ajuda, mas a efervescência criativa em moços e moças constitui fato relevante – para alegria dos detratores. Não concebe um espetáculo sem “beleza formal” – atenção maior ao espaço cênico e à interpretação que reverencie a palavra, a poesia.
O que se depreende de “A Mochila do Mascate” é a força e o esmero com que Gianni Ratto lida com a chamada carpintaria teatral. Em certa passagem, diz que se reunisse todas as madeiras dos cenários que já criou, daria para montar uma cidade. Além da visão excepcional de cenógrafo, tem o privilégio de dirigir. O domínio total lhe permite flutuações como a comédia ligeira “As Bruxas” e o recente drama “Morus e o Carrasco”. Naquela comandou atrizes globais, em montagem convencional, enquanto nesta acentuou sua preocupação estética com o espaço cênico.
Entre os principais trabalhos de Ratto, alguns integrando a parte iconográfica do livro de memórias, estão: “A Tempestade”, de Shakespeare; “A Moratória”, de Jorge Andrade; “O Santo e a Porca”, de Ariano Suassuna; e “O Mambembe”, de Álvares Azevedo.
Relatos pessoais, centrados principalmente na delicada relação com a mãe e na marcante passagem de sete anos pelo exército italiano (herdou daí o rigor pela disciplina), tendo deserdado na Grécia (coincidentemente (?) o berço da arte de representar) vão se misturando ao teatro do passado, do presente e do futuro. “Às vezes dá-se uma certa confusão em minha cabeça e o que mais lúcido, mais claro revela-se aos olhos e ao pensamento é o que mais longe no tempo está”, afirma.
E as suas histórias são costuradas assim, sem uma evolução cronológica. Como nua conversa de roda, onde o mais velho ganha voz. Tem-se o perfil humano e o artístico, numa verdadeira aula magna de teatro. O texto, escrito sem intervenção de um “ghost writer”, é cruel e denso.
Em alguns momentos, carece de menos rebuscagem. Mas até aí, ao lidar com a palavra escrita, Gianni Ratto é transparente demais. Enquanto empunhar sua espada, a vida (“Não tenho, nem nunca tiver medo da mortem, da minha morte”), esse Dom Quixote do teatro brasileiro não desistirá da batalha no mercado de sonhos, pois sua mercadoria é de primeira.
Ziembinski foi o último dos românticos
22.12.1996 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 22 de dezembro de 1996. Caderno A – 4
Biografia escrita por Yan Michalski, recém-lançada, conta trajetória do diretor e ator polonês que marcou o início da modernidade no teatro brasileiro
VALMIR SANTOS
São Paulo – O nome de Ziembinski foi definitivamente cravado na história do teatro brasileiro em 1943, quando montou “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues. Os palcos brasileiros finalmente ingressariam na fase moderna. Era o marco inicial da convivência deste polonês com artistas que aprenderiam tudo com ele, da técnica de interpretação à concepção do espetáculo. Atingiu maior popularidade justamente nos últimos anos de vida, quando trabalhou na Globo, dirigindo e atuando em novelas e casos especiais. Este personagem maior ganha uma biografia antológica em “Ziembinski e o Teatro Brasileiro”, originalmente escrita pelo conterrâneo Yan Michalski, crítico do “Jornal do Brasil”, morto em 1990, e com organização final do estudioso Fernando Peixoto (leia texto abaixo).
Lançamento da Editora de Humanismo, Ciência e Tecnologia (Hucitec) – responsável por importantes títulos na área teatral -, com apoio do Ministério da Cultura (Funarte), o livro, um catatau de 507 páginas, preenche um vácuo na memória contemporânea. Não bastasse o resgate de Ziembinski, alijado pelos “novos” que roubaram a cena a partir dos anos 60 e 70, classificando-o de ultrapassado, a pesquisa minuciosa de Michalski faz uma apanhado da trajetória do teatro nacional. Na evolução dos 37 anos em que Ziembinski viveu no país, tem-se concomitantemente o nascimento dos primeiros núcleos de produção, como Os Comediantes, no Rio, e o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) em São Paulo. Os depoimentos de quem conheceu o exigente encenador polonês, e sobretudo a reunião das críticas da maioria dos seus espetáculos, são informações que revelam o homem por trás do artista, muitas vezes confundindo-se com este. Pois Ziembinski, depreende-se, foi o primeiro e, pode-se dizer, último romântico dos nossos palcos.
Atores como Procópio Ferreira e João Caetano, lá nos anos 30, já se esforçavam heroicamente, diga-se de passagem, para construir um modelo de espetáculo a partir das parcas notícias que chegavam da Europa. Mas a cultura teatral, como a que vemos hoje, de um público cativo aos vários gêneros, só começou de fato quando o jovem Ziembinski, então com 33 anos, deixou seu país de origem depois da invasão alemã, em 1941. Por essas maquinações do destino, não fosse o nazismo, o mestre da cena não teria descido abaixo do Equador e a modernidade teatral poderia ter atrasado ainda mais.
Quando ele chegou, havia não só um público por formar, mas atores, diretores, cenógrafos, iluminadores… Ziembinski encontrou um campo fértil para a catequização. O expressionismo alemão de Reinhardt, a biomecânica de Meyerhold, o “método” de preparação do ator de Stanislaviski, enfim, se alguém tinha ouvido falar desses teóricos, provavelmente não passou da pronuncia complicada. E foi o “Zimba”, como era conhecido entre os amigos, o introdutor da noção de unidade do espetáculo. Até então, as peças se resumiam a uma “estrela” razoável e vários “satélites” que serviam de “escada”. “
Vestido de Noiva”, com Os Comediantes – grupo carioca que protagonizou o “vestígio visível do primeiro grande movimento teatral” -, chocou em todos os sentidos. Há 53 anos, o texto de Nelson Rodrigues fazia uma divisão em três planos (da memória, da realidade e da alucinação). O diretor polonês aproveitou a deixa para “viajar” sobretudo na concepção plástica da montagem, dando as diretrizes para o cenógrafo Santa Rosa e assumindo o desenho da luz, com mais de uma centena de mudanças – um verdadeiro show de efeito para a época. Aliás, Ziembinski também sugeriu algumas mudanças no texto de Nelson Rodrigues.
E era assim, injetando novidade estética num primeiro momento, e aos poucos implantando sua filosofia de trabalho (foi com ele que os atores começaram a ensaiar antes de pisar no palco), Ziembinski acabou consolidando a transferência da sua formação européia. De quebra, deu asas à figura do diretor como epicentro do fazer teatral. Antunes Filho, um possível paradigma ziembinskiano para os dias de hoje, foi assistente dele durante um tempo e aprendeu tudo sobre o rigor.
De 1941, quando desembarcou no Rio, até o final da década de 50, Ziembinski catalisa atenção pelo seu conhecimento da encenação. Sem dúvida, a parceria com Os Comediantes (Maria Della Costa encabeçava o elenco) foi a mais frutífera. Comandando o grupo carioca, ele era literalmente o mestre-de-cena: nos ensaios, assumiu uma pedagogia na qual acabava reproduzindo para os atores os gestos e inflexões de voz que desejava em cada personagem. No afã de ensinar, servia de modelo.
Seu universo era vasto justamente porque conhecia o palco como ninguém. Além de dirigir, Ziembinski também atuava. Desde sua cidade natal, Wieliczka, a poucos quilômetros da antiga capital polonesa, Cracóvia, costumava encarar os desafios dentro e fora do palco. Nunca se incomodava em trabalhar 15 horas e depois continuar conversando sobre teatro, noite adentro. Essa entrega total colaborou para a aura mística que carregava.
Assediado pelo empresário Franco Zampari, criador do TBC, Ziembinski acabou cedendo ao convite e mudou-se para a rua Major Diogo, em São Paulo. Dava início, na década de 50, à fase mais “comercial”, querendo sintonizar o público elitista com as peças em voga na Europa. Mas a convivência com o TBC da turma de diretores italianos como Adolfo Celi, Ruggero Jacobbi e Gianni Ratto, fez com que ele conhecesse melhor a realidade brasileira.
Quando Ziembinski chegou ao país, não sabia bulhufas de português. O domínio da língua e a descoberta da gente local foram obstáculos que venceu “vestindo” a camisa brasileira: naturalizou-se 13 anos e meio depois. Defendia a idéia de que tanto o texto como a concepção dos espetáculos têm que embutir uma realidade do público que está na platéia. Ou seja, preocupava-se em adaptar textos estrangeiros levando em consideração o tom verde-e-amarelo.
Mesmo vindo de um país onde o teatro já tinha uma história e na posição de professor-sabe-tudo, o encenador não se acomodou. Seria muito fácil impor, mas ele preferiu a troca. Quando descobriu o Brasil, se permitiu aprender tudo de novo.
Depois do TBC, passou pelo Teatro Cacilda Becker (TCB). Mais do que um trocadilho, que gerou muita confusão, trata-se de um “casamento” dos mais felizes. Cacilda criou sua companhia, junto com o marido Walmor Chagas, numa espécie de dissidência do TBC de Franco Zampari, cujo caráter empresarial nem sempre coadunava com a proposta artística. Cacilda já havia trabalhado com Ziembinski em montagens anteriores, como “Pega-Fogo” e “Arsênico e Alfazema”. Portanto, ficou vislumbrada com o mestre.
Nos anos 60, Ziembinski atravessou um dos períodos mais difíceis. Contrário à politização do teatro e à demasiada carga ideológica que tomava conta dos novos grupos, como Arena e Oficina, posicionados à esquerda e mobilizados pela iminência da ditadura militar, Zimba se viu isolado. Uma situação parecida com a de Nelson Rodrigues, patrulhando por causa da simpatia com a direita.
Se hoje boa parte dos artistas do teatro vêem a televisão como um mal, “necessário” para alguns, foi justamente o veículo que abriu as portas para um Ziembinski que perdeu a pungência criativa nos palcos. Nos anos 70, ele chegou a dirigir o departamento de casos especiais da Globo, paralelamente ao trabalho teatral em algumas novelas.
Nessa fase, o teste já ocupava menos espaço. Abriu sua janela inspiradora para a pintura, que adorava desde criança, e para a fotografia. Até que a morte veio em 1978, um câncer no intestino. Tinha 70 anos (47 de teatro, 32 de Brasil).
Dias antes, declarava, como que premonitoriamente: “A minha maior alegria, minha grande força, é sentir-me vivo. Isso não tem nome, pode ser teatro, cinema, pintura, canto, poesia, qualquer coisa. Daí que não me preocupo com o tempo que me resta, a cidade, a velhice, a morte que me ameaça.
” Nostálgico, sem abrir mão do distanciamneto crítico, “Ziembinski e o Teatro Brasileiro” é um documento precioso. São vários os depoimentos que discordam quer do homem “ditatorial”, quer do evento artístico. Sobressai, contudo, o conteúdo humano daquele que abandonou a pátria e adotou outra sem diminuir sua paixão por uma arte que sabia superior.
Ziembinski e o Teatro Brasileiro – De Yan Michalski. Organização final: Fernando Peixoto. Editora Hucitec (rua Gil Eanes, 713, São Paulo, tel. 530-9208). 517 páginas. Preço médio: R$ 50,00.
Yan Michalski fez trabalho de fôlego
Yan Michalski chegou ao Brasil sete anos depois de Ziembinski, em 1948. Também como o célebre diretor e ator, veio em conseqüência da perseguição nazista. Quando morreu em 1990, aos 58 anos, deixou concluído sua pesquisa sobre a vida do conterrâneo e, conseqüentemente, sobre a história do teatro brasileiro. Foram cinco anos colhendo depoimentos e buscando toda a documentação necessária, inclusive no levantamento da vida do artista na Polônia. Ziembinski tinha um filho e chegou a visitá-lo quando, morando no Brasil, passou seis meses na terra natal, onde montou algumas peças com atores locais.
Formado em artes cênicas (direção) e atuando também no jornalismo, Michalski foi um dos maiores críticos do país, trabalhando no “Jornal do Brasil” (Rio), à altura de um Décio de Almeida Prado (“Estadão”).
A viúva Maria José Michalski convidou o estudioso Fernando Peixoto para a redação final das cerca de mil páginas que o crítico havia registrado na pesquisa de campo. Colaborou com Peixoto a jovem diretora Johana Albuquerque. Em “Ziembinski e o Teatro Brasileiro”, Yan Michalski apresenta um trabalho de fôlego, com destaque para a cobertura da crítica teatral ao longo da carreira do biografado.
Festival traz Nóbrega e Stoklos
8.12.1996 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 08 de dezembro de 1996. Caderno A – 3
VALMIR SANTOS
Antonio Nóbrega, Denise Stoklos e a Cia. Parlapatões, Patifes e Paspalhões são convidados do 6° Festival de Teatro Universitário da USP, que começou sexta-feira e prossegue até dia 15, no Centro Cultural Maria Antonia, em São Paulo.
Com espetáculos convidados, Nóbrega apresentará “Figural” (dança) e “Na Pancada do Ganzá” (show musical), enquanto Stoklos mostrou “Des-Medéia”, um monólogo. A trupe Parlapatões, de Hugo Possolo e Alexandre Roit, se incumbirá de realizar uma oficina. Tanto as apresentações como os eventos paralelos (palestras, oficinas) têm entrada franca.
Nesta sexta edição, o Festival de Teatro Universitário, iniciado em 1991 em São Paulo, volta à Capital depois de percorrer várias cidades do Estado. A intenção é firmar-se como referência cultural e artística de novos expoentes nos campos da atuação, direção e dramaturgia.
Originalmente voltado apenas para alunos, professores e funcionários da USP, o festival inova e passa a considerar, a partir deste ano, as várias experimentações teatrais produzidas em outras instituições acadêmicas, como Mackenzie, PUC, Unesp, universidades federais de Mato Grosso, Paraíba, Piauí etc.
Das 53 inscrições de várias cidades do Brasil (Fortaleza, Florianópolis, Campinas, Piracicaba, São Carlos, Pirassununga, Bauru e São Paulo), foram selecionados 11 espetáculos.
ABERTURA
“Des-Medéia” abriu sexta o evento. O monólogo, uma desconstrução do mito Medéia, fala do abandono de seu país por causa de Jasão, o abandono por ele, sua vingança em seus filhos. Denise Stoklos trata ainda da desumanização no cotidiano, ausência de vínculos políticos e ideológicos, diferenças sociais, miséria e violência.
Figuras arquetípicas da cultura popular brasileira são decodificadas por Antonio Nóbrega no encerramento do evento em “Figural” (dia 14), onde passeia por raízes nordestinas e traz à tona, pela primeira vez, o seu personagem Tonheta, que ganharia vida própria em espetáculos posteriores, “Brincante” e “Segundas Estórias”. “Na Pancada do Ganzá” (dia 15), show onde toca acompanhado de um quinteto, é baseado na pesquisa de Mário de Andrade, que percorreu o Norte e Nordeste do País no final da década de 20, em busca da sonoridade peculiar do povo local.
Até o dia 13, é a vez dos universitários. Os espetáculos: “A Destruição de Numância”, de Cervantes, com Universidade Estadual de Santa Catarina; “D. Juan”, de Molière, adaptação de Brecht, com Esalq da USP de Piracicaba; “O Sonho”, de Strindberg, Escola de Engenharia da USP São Carlos; “Vaso Ruim Não Quebra”, de Cássio Pires de Freitas, Filosofia da USP São Paulo; “Revólver – O Novo Testamento Segundo a Morfina”, de Antonio Rogério Toscano, Instituto de Artes Unicamp; “O Marinheiro – Uma Aventura Interior”, de Fernando Pessoa, adaptação de Ueliton Rocha, Estadual do Ceará; “O Tempo e a Gente”, baseado no conto “O Muro”, de Sartre, adaptação de Wilson Boneto; e finalmente “Artaud no Brasil – Uma Odisséia Latino-Americana”, de José Roberto Aguilar, Odontologia da USP Bauru.
Festival de Teatro Universitário da USP – Espetáculos universitários até dia 13, sempre às 21h. Os espetáculos “Figural”, dia 14, 21h, e “Na Pancada do Ganzá”, dia 15, 20h, ambos com Antonio Nóbrega, encerram o evento. Centro Cultural Maria Antonia (rua Maria Antonia, 294, Consolação, Capital, tel. 255-2092 e 255-6842). Ingressos gratuitos devem ser retirados na bilheteria a partir das 18h do dia de cada apresentação. Inscrições para as palestras e oficinas são gratuitas e devem ser feitas com antecedência.
Maria Alice rouba cena em “No Alvo”
Pensamento, voz e silêncio. São Prerrogativas fundamentais para quem vive da arte de atuar. Quando bem aplicados, constituem instrumentos para ganhar o público; conduzi-lo à emoção que só o teatro, na sua verdade e superior dimensão, pode proporcionar. Maria Alice Vergueiro, que tranqüilamente figura no pódio das grandes damas do teatro brasileiro, é uma exímia dominadora da cena.
Em “No Alvo”, vivendo a protagonista, ela mostra o quanto sabe explorar a maturidade dos anos em que se entregou de corpo e alma a vários personagens (foi uma das fundadoras do Ornitorrinco, ao lado de Cacá Rosset, há duas décadas).
Todas as potencialidades da mãe obsessiva traçada pelo australiano Thomas Bernhard (1931-1989), o autor, são exploradas com maestria.
Megera, inteligente, filósofa por compulsão, poeta iminente, criança e mulher, enfim, as contradições desenham uma presença impactante.
Maria Alice, que sempre pautou sua carreira pela ousadia, pela busca da experiência cênica, consegue captar a difícil e introspecta história de Bernhard, de um existencialismo profundo, projetando o caráter monstruoso e a pequenez sentimental da protagonista.
Em suma, o texto diz respeito à relação de poder entre mãe e filha; o perverso jogo marcado pela submissão e a ditadura de regras. A interdependência – filha escrava precisa de mãe castradora, e vice-versa – é um aspecto intrigante.
O universo pendular das aulas é invadido pelo jovem dramaturgo, um naco de razão como contraponto à mulher etérea e dona-da-verdade.
Num passeio em casa de praia, o trio vivencia questionamento até à medula. Do campo da teoria literária (a matriarca coloca em xeque o talento do jovem escritor) até o massacre existencial, no qual expõem seus vícios e virtudes, “No Alvo” é um texto que atrai o espectador para um exercício de reflexão sobre a condição filosófica de ser e estar.
Seus personagens são radicais. A mãe excede, a filha se submete e o dramaturgo perde o chão.
Quando estreou no Fiac, em agosto, a peça tinha direção de Annette Ramershoven. Na temporada atual, quem assina é Luciano Chirolli, que mantém o impacto da palavra em Thomas Bernhard e, ao mesmo tempo, investe no trabalho de ator, atingindo o equilíbrio.
Agnes Zuliani, que vem de uma interpretação emocionante em “Boa Noite Mamãe”, montagem na qual recebeu indicação para o Prêmio Shell, corresponde à presença limitada e ofuscada da filha.
João Carlos Andreazza, da comédia “A Bilha Quebrada”, também transmite a insegurança do seu escritor dramático, inclusive na movimentação dentro do espaço não-convencional do Instituto Goethe – uma sala.
Mas a montagem é, antes de tudo, uma oportunidade para reverenciar a grandiosidade e o talento de Maria Alice Vergueiro, por irradiar tanta intensidade e lirismo.
No Alvo – De Thomas Bernhard. Tradução: Wolfgang Pannek. Dramaturgia: Barbara Mundel. Direção: Luciano Chirolli. Com Marinez Lima e outros. Sexta e sábado, 21h; domingo, 19h. Instituto Goethe (rua Lisboa, 974, Pinheiros, tel. 280-4288). R$ 15,00. Até dia 15.
Suassuna é baluarte da cultura popular
8.12.1996 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 08 de dezembro de 1996. Caderno A – 4
Dramaturgo pernambucano voltou a São Paulo esta semana com aula-espetáculo e anunciou adaptação de um das suas obras para Antunes Filho
VALMIR SANTOS
São Paulo – O próprio autor de “O Auto da Compadecida” costuma caçoar da piadinha que alguns dos seus detratores espalham pelo Recife, terra natal, dando conta de que o último nordestino brasileiro que falta morrer, depois de Antonio Conselheiro, Lampião e Padim Ciço, é Ariano Suassuna. “Me sinto até lisonjeado”, brinca. Aos 70 anos, dono de uma memória ferrenha e sempre empunhando a bandeira da valorização da arte popular brasileira, sobretudo a nordestina, o dramaturgo voltou a São Paulo esta semana para protagonizar mais duas aulas-espetáculo e, ao mesmo tempo, lançar o grupo instrumental Romançal, retomando o projeto do Movimento Armorial idealizado por ele nos anos 70.
Um bate-papo com Suassuna é como resgatar o prazer da oralidade perdida na modernidade que engole a todos. Bem-humorado, com paciência de Jó para esmiuçar suas idéias a jornalistas com pouca noção da aventura artística o povo nordestino, o atual secretário estadual de Cultura em Pernambuco, cargo que ocupa há dois anos, a convite do governador Miguel Arraes, revela, entre outras novidades, que pretende adaptar uma das suas peças para Antunes Filho. Trata-se de encomenda antiga do diretor do CPT.
Para a empreitada, ainda sem previsão de data, Suassuna vai fundir a história da sua primeira peça, “Uma mulher Vestida de Sol”, escrita quando tinha 20 anos, reescrita uma década depois (e nunca montada), com a versão de folheto de cordel para “Romeu e Julieta”, de um poeta nordestino anônimo. “Não se trata de uma relação textual, mas encaixaria minha história na linhagem da de Shakespeare”, explica, justificando o encontro do rapaz e da moça enamorados cujas famílias se odeiam.
Há duas semanas, estreou em Recife uma adaptação sua para o “Romeu e Julieta” do cordel, com a Trupe Romançal de Teatro, sob direção do sobrinho Romero de Andrade Lima (“Auto da Paixão”). Diz que a montagem não vem para São Paulo justamente para não “atrapalhar” o projeto que vai fazer para Antunes.
Apesar da parceria iminente, o escritor confessa nunca ter assistido à alguma peça do mentor do CPT. Viu a shakespeariana “Megera Domada”, décadas atrás, quando o diretor ainda não desenvolvia um trabalho com profundidade experimental. Inicialmente, segundo Suassuna, Antunes desejava a adaptação do romance “A Pedra do Reino”, mas foi demovido da idéia pelo autor: são 630 páginas e o tempo anda escasso no dia-a-dia desse pernambucano arretado, vestido elegantemente em calça e camisa de linho branco, bastante à vontade no espaço do Teatro Brincante, comandado por Antonio Nóbrega, ex-Quinteto Armorial e fiel seguidor do cruzamento do popular e do erudito na sua concepção de arte.
É a partir dessa perspectiva que Ariano Suassuna reflete, com muita entrega e conhecimento de causa, sobre o processo de consumo e descaracterização das obras por conta da massificação. Mas quem pensa que o discurso bate com o exercício do artista, está enganado. “Eu não faço arte popular”, surpreende. “Tenho uma formação universitária, sou professor e se fosse assumir o rótulo de artista popular estaria sendo falso.”. A autocrítica é uma característica do homem que vive de buscar a arte erudita na raiz popular brasileira.
Essa ideologia cultural, costuma lembrar o dramaturgo, formava a base de criação de dois grandes artistas de todos os tempos: o compositor brasileiro Villa Lobos e o escritor espanhol Federico Garcia Lorca. Aliás, a cultura ibérica, com destaque para a do século 19, serve de inspiração para Suassuna.
Teatro, romance e poesia – nesta ordem – são os gêneros mais identificados na obra de Ariano Suassuna. Contudo, ele disse a O Diário que todas as peças e romances têm na poesia a sua sustentação. Não fosse poesia, dificilmente haveria outras veredas. “Ela é a fonte de tudo”, declama.
Poucos, no entanto, conhecem seus versos ou prosas. Uma aqui, outro ali chegaram a ser publicados em jornais. “É culpa minha e dos editores”, admite. Sua vontade, no fundo, é ver os poemas publicados em único volume, – mas não necessariamente neste formato. A intenção é costurar um romance com as folhas, algumas amarelecidas, que trazem seus poemas desde a adolescência. Já está trabalhando nele, tampouco com previsão para trazê-lo à tona. Mas a resistência não é tanta assim: no ano que vem, a editora portuguesa Átrio vai lançar 20 sonetos do autor.
Empolgado com a conversa, Ariano Suassuna dá de lambuja alguns versos de um dos seus poemas que pretende verter para o futuro romance: “Por isso não vou nunca envelhecer: Com meu cantar supero o desrespeito/ Sou contra a morte e nunca hei de morre”.
Lidar com finanças e outros qüiproquós administrativos não é a praia de Suassuna. Na sua secretaria, em Recife, responde sobretudo pela criação de atividades que sejam coerentes com propostas do “Projeto Cultural Pernambuco-Brasil”, elaborado para ser cumprido nos da gestão Arraes.
Apesar de se declarar um cultivador de raízes populares, verdadeiro baluarte de uma identidade em tempos de globalização, a oposição não lhe sai dos calcanhares. “Muitos acham que sou radical, arcaico; eu às vezes sou mesmo”, garante. Dia desses, recebeu um recado de um dos seus desafetos do meio artístico pernambucano: “Diz para o Suassuna que eu também gosto de raízes brasileiras: inhame, batata-doce…”, ironizou o fulano.
Outra pendenga recente sobre artigo do jornalista Paulo Francis, que costuma tratar a América Latina” (“tenho uma raiva danada dele”) acabou estimulando os neurônios de um recém-formado grupo de rock de Recife, batizado como Paulo Francis Vai Para o Céu. Na capa do primeiro disco, numa paródia ao filme “Na Cama com Madona”, aparece Suassuna e Paulo Francis, lado a lado, sob a frase: “Friends Forever”.
Polemista de bandeira branca (“A única distinção de valor é entre obra boa e ruim”; “Gosto se discute, sim, como se discute muito sobre futebol, religião e outras coisas que dizem que não se discute”), Ariano Suassuna é, ele mesmo, um personagem. Tem muita história para contar e um sonho por ver concretizado: um dia, o nacionalismo cultural será disseminado como principal fundamento de uma sociedade que se pretenda humana e justa – a brasileira.
Romançal consolida Quinteto Armorial
O conjunto Romançal, que se apresentou ontem pela primeira vez em São Paulo, no Teatro Brincante, surgiu em novembro deste ano, quase 15 anos depois do fim do Quinteto Armorial, menina-dos-olhos de Ariano Suassuna no Movimento Armorial que liderou em Recife nos anos 70.
Se o experimental Quinteto introduziu instrumentos populares (rabeca, viola, marimbau, pífano) na música erudita (flauta, violino), para alcançar uma estrutura musical brasileira, menos européia, o Romançal atinge agora uma espécie de síntese da proposta original.
Estão lá o violino, a flauta, o violino e o violoncelo obrigatórios na composição clássica. “A fase de experiências já passou e temos uma musicalidade própria”, explica Suassuna.
A consolidação se dá principalmente pela presença do músico e compositor Antônio José Madureira no quarteto Romançal. Ele participou do Quinteto da década de 70.
Madureira se inspirou em obras da literatura, das artes plásticas, da música e da dança dos séculos 18, 19 e 20 para compor um repertório erudito que reúne os mais diversos gêneros musicais, como valsa, baixão, toada e música de carnaval.
Aproveita para uma releitura de algumas criações suas no Quinteto Armorial, como as peças “Aralume” e “Rugendas”. Em “Suíte Retreta”, traça um perfil popular semi-erudito, abordando cinco danças do universo brasileiro: maxixe, valsa, poca, mazurca e dobrado.
O quarteto Romançal, além do diretor artístico Madureira no violão e viola brasileira, conta com Aglaia Costa Ferreira no violino e rabeca; Sérgio Accioly Campelo na flauta e pífano; e João Carlos dos Santos e Araújo no violoncelo e marimbau. O conjunto, mantido pela Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco e encerrou na Capital sua primeira turnê pelo País.
Sobre a escolha dos nomes Armorial e Romançal, Suassuna “adjetivou” o primeiro, uma substantivo que designa livro aonde vem registrado os brasões, porque vê na heráldica uma manifestação de raiz popular; e fez uma homenagem ao romance, originalmente o dialeto, o latim vulgar falado pelo povo pobre na Idade Média, em oposição às classes cultas.
“Espetáculo” domina a “aula” do autor
Ariano Suassuna diz que “inventou essa história” de aula-espetáculo para mostrar a cultura do Brasil real (qualquer semelhança com o plano de FHC é mera coincidência), em detrimento daquela propaganda pelo Brasil oficial. Mas o que se vê no palco, antes de mais nada, é um homem de seus 70 anos com a plena energia do ator que acabou frustrando em favor da veia de escritor a dramaturgo.
Na aula de quinta-feira, a primeira das duas que programou para sua volta à Capital, um ano depois, Suassuna mais uma vez imprimiu sua pedagogia do sertanejo nordestino que é, fazendo o público, que lotou o Teatro Brincante, rir à beça dos “causos” sacados da memória – é capaz de entrar noite adentro lembrando tipos engraçadíssimos.
Desta vez, porém, não se fez de rogado. Além do “espetáculo” – sua presença e a boa conversa já roubam a atenção -, decidiu partir para a “aula” propriamente dita.
As “aulas” trataram de dois campos definidos pelo autor como o doloroso (trágico e dramático) e o risível (cômico e humorístico). Na primeira noite, acompanhada por O Diário, ele distinguiu o texto trágico do dramático.
“Para que aconteça o trágico, é necessário a presença de um personagem acima do comum, excepcional num grau elevado, o que não ocorre com o drama”, explica. A vida de Getúlio Vargas, por exemplo, segundo o dramaturgo, não caberia numa tragédia, porque o conflito se deu no campo político. Seria um drama. “A tragédia só se dá quando o personagem apresenta um fundo filosófico ou religioso”.
Não há hierarquia entre o trágico e o dramático. Molière não é melhor que Shakespeare, e vice-versa. Antigamente, a comédia era considerada inferior. Hoje não. Para ilustrar sua tese de que o trágico aristocrático, que teóricos contemporâneos sustentam que não têm vez e estão condenados ao passado grego. Suassuna fez questão de ler a adaptação do cordel “O Romance de Romeu e Julieta”, de um poeta sertanejo anônimo, encontrado por ele em 1957.
Ao final da aula-espetáculo, fazendo o público cantar também o enredo que o compositor Capiba escreveu para um bloco carnavalesco rebaixado injustamente (“Queiram ou não queiram os juízes / O nosso bloco é de fato campeão”). Ariano Suassuna vibra como um menino diante da vitória do seu time. Mesmo estranhando a concretude das cidades grandes (passou por Rio, Belo Horizonte, Curitiba), faz questão de transmitir a fibra de quem cultiva a raiz do Brasil nos cantões do Nordeste, celebrando o encontro da identidade perdida.
Gianni Ratto faz da convenção uma arte
3.11.1996 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 03 de novembro de 1996. Caderno A – 4
Aos 80 anos, ele domina o teatro com maestria, sem ser vanguardista
VALMIR SANTOS
Aos 80 anos, Gianni Ratto domina o teatro com maestria. A direção e cenografia de “Morus e seu Carrasco”, montagem que marca meio século de dedicação ao palco, é um exemplo do respeito com que encara o seu ofício. “Esse é um espetáculo ‘convencional’”, logo adianta no programa da peça. “Não sou homem de revoluções ou vanguardismos.” Pois o que se vê é a convenção em seu estado lapidar, sem gratuidades do teatro comercial.
Começando pelo texto, Renato Gabrielli, o autor, concebeu uma história épica, opondo Igreja e um rei, duas poderosas instituições, para trazer à tona a discussão sobre a ética do homem comum em meio ao jogo maquiavélico. Ao invés de cenários “faustosos” com castelos exuberantes, figurinos nobres e todo aquele visual pomposo das cortes, Gianni Ratto se limita ao essencial.
Do formato circular do palco, remetendo a uma arena, à iluminação econômica, o diretor evidencia o texto e a interpretação. Autor e atores são privilegiados de forma a estabelecer um diálogo sem rodeios com o espectador. Olho no olho, palavra no ouvido. “Morus e seu Carrasco”, neste sentido, tem algo de nostálgico; de um teatro no qual o diretor não rouba a cena.
Drama com breves concessões para a comédia (um dos personagens chega a afirmar que não se trata de um tragédia), trata-se da história do escritor Thomas More, representante da Igreja na Inglaterra de séculos atrás e assessor de confiança do rei Henrique 8°. Este lhe roga consentimento ara divorciar-se, driblando a autoridade máxima, o Papa.
Intelectual de perspectiva humanista, Morus se nega a compactuar do plano, abdica do cargo de confiança e, logicamente, ganha a ira do rei. Com a manipulação das leis em suas mãos, o todo-poderoso imediatamente condena o escritor à morte.
Paralelamente ao embate, Renato Gabrielli empreende um cruzamento poético entre o velho Morus a caminho do cadafalso e o jovem idealista. São dois Morus em cena: o sonhador de utopias possíveis e aquele que descobriu a podridão da superestrutura e, ainda assim, não demove a fé.
Momento marcante
Um dos melhores momentos do espetáculo se dá na passagem em que o velho Morus (Jorge Cerruti) e o jovem (Ronaldo Artnic) se encontram: o passado e o presente como inconsciente e consciente. Um canal de espaço e tempo que a magia do teatro proporciona quando bem feita. A interpretação de Cerruti é mais intensa e transmite a introspecção de texto com segurança, enquanto Artnic é um tanto declamativo nas suas falas.
O Carrasco de Ariel Moshe é um personagem-chave: ao mesmo tempo que surge como algoz (ele decepou a cabeça de Morus), se revela fascinado pelos gansos de um lago que, invariavelmente, manda para a panela. É delicado e assassino. O bufão Patenson (Octávio Mendes) e sua esposa, cozinheira e aspirante a atriz Sara (Soraia Saide) respondem por alguma comicidade – mas breves.
Pela experiência e honestidade de Gianni Ratto, pela dramaturgia labiríntica de Gabrielli, pela sobreposição do elenco ao visual, pela emoção iminente, “Morus e seu Carrasco” é uma prova de que nem sempre a convenção é sinônimo de preguiça. Aqui, os elementos do teatro são usados (não usurpados) em benefício de uma história que se quer bem contada – o que, de antemão, constitui um alento para o espectador.
Morus e seu Carrasco – De Renato Gabrielli. Direção: Gianni Ratto. Com Lara Córdula, Gerson Steves, Blota Filho e outros. Quinta a sábado, 21h; domingo, 19h. Teatro Ruth Escobar (rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 289-2358). R$ 20,00 e R$ 25,00 (sábado).
Teatro jovem uruguaio não teme a ousadia
27.10.1996 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 27 de outubro de 1996. Caderno A – 4
Mostra encerrada na semana passada revela potencial criativo de estudantes do país vizinho
VALMIR SANTOS
A distância geográfica não é inversamente proporcional ao intercâmbio cultural entre os países da América do Sul. Existe um fosso abissal, mesmo em tempos de Mercosul. Foi o que O Diário constatou em Montevidéu, “Capital Ibero-Americana da Cultura”, durante a 2ª Mostra Internacional de Teatro Jovem, encerrada domingo passado.
Grupos do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Peru se reuniram na capital do Uruguai de 11 a 20 de outubro. Organizada pela prefeitura do local, a mostra constitui verdadeira vitrine do teatro escolar no país vizinho. E aí a primeira surpresa: os jovens uruguaios nutrem uma paixão pelo palco tão imensa quanto a dos brasileiros pela telenovela. Não precisa muito esforço para saber quem leva vantagem na balança da formação cultural e, por extensão, da perspectiva humana.
Entre nós, quando se fala em teatro escolar, logo vem a imagem daquelas “montagens” fáceis, invariavelmente infantis, no pior sentido da palavra. Professores que nunca assistiram a uma peça, de repente são içados a juntar crianças e adolescentes para ler “Alice no País das Maravilhas”, por exemplo, com um tratamento de deixar Lewis Carroll em polvorosa no túmulo.
Amadorismo tacanho, mediocridade, ignorância da inteligência alheia, descaso com elementos básicos da arte da representação, enfim, fantasmas como esses são raros no jovem teatro uruguaio. Ao contrário, os grupos emergentes não se abstêm do exercício elementar da criatividade. Há ousadia na concepção do texto (geralmente um fruto coletivo), na interpretação, na cenografia. O terreno é propício à intervenção do novo. No Uruguai, os jovens têm gana de mudanças. Não se acomodam sob a hoste da estética cênica.
Pesquisam e experimentam formas; reinventam sem medo, mas com fundamento. A gratuidade passa longe. A ressalva no movimento atual fica por conta do que parece ser uma ausência de direção, de norte para os processos em andamento. Ou seja, existem ótimas idéias que às vezes não são bem trabalhadas. O amadurecimento é um ponto-chave.
Maratona
A 2ª Mostra Internacional de Teatro Jovem teve 95 grupo inscritos (de escolas, de bairros, de centros comunitários). Da maratona cênica, um júri selecionou oito peças, apresentadas ao lado de companhias estrangeiras.
O grupo Pombas Urbanas, de São Paulo, representou o Brasil com “os Tronconenses”, já encenada no Teatro Municipal de Mogi, há cerca de três anos. Os nove atores, dirigidos por Lino Rojas, encontraram nos colegas do Uruguai uma referência importante. Afinal, os projetos têm pontos em comum: jovens sem “vícios”, em busca de um teatro de menos casca e mais essência. (A essa altura, reconheça-se , nem as palavras conseguem traduzir tal instância de força e energia de palco).
Da Argentina, se apresentaram Agrupación Folidramática Te Quisimos Con Locura (“Adiós y Buena Suerte”, com direção de Cristian Marchesi); e La Mixta (“Woyzec”, de Büchner, direção de Javier Rama). Do Chile, o grupo Teatro Cancerbero (“Carícias”, de Sergi Belber, direção Andrés Céspedes). Do Paraguai, Equino Teatro (“Yepetto”). E do Peru, “La Mujer Sola”, de Dario Fo, monólogo representado por Maribel Alarcón, direção de Jean Cottos.
O Diário destaca três espetáculos uruguaios selecionados. Em “Reptar es Sólo un Mérito”, monólogo escrito, dirigido e interpretado por Nicolás Becerra, o público acompanha esquetes sobre situações tragicômicas extraídas do cotidiano. Becerra tem presença de palco suficiente para garantir o ritmo. Uma das passagens mais irônicas e contundentes se dá quando encarna uma noiva desesperada pelo companheiro que não chega à igreja porque está preso. Motivo: fumou marijuana na esquina.
Em “Crímenes y Resfríos” (Crimes e Resfriados), o grupo Acapara el 522, dirigido por Daniel Hendler, mostra um trabalho onde as imagens são fundamentais. A iluminação, marcada principalmente pelo projetor de slides, delimita tempo e espaço de histórias simultâneas. A exposição da fragilidade humana, da capacidade de conspiração contra o outro – a ponto de lhe ceifar a vida – é uma das maiores virtudes do espetáculo.
Um mergulho na estética, vertendo mais para uma instalação ou performance, foi a opção de outro grupo de Montevidéu cujo nome, define bem sua proposta: Imágenes de la Mente. Com “Esto no es una Vaca 2”, criação e direção coletivas, rompe-se a relação palco-platéia. A ação se passa justamente no vão que os separa, com o público sentado no chão.
Fechado em uma cabine plástica, transparente, o personagem enigmático (um açougue, talvez) extrai filetes de carne da cabeça ensangüentada de uma vaca. Ao lado, monitores de TV exibem vídeo de animais no curral, no corredor do abate. Lembra a letra de Zé Ramalho: “Vida de gado/Povo marcado/Povo feliz”. Aos poucos, o “açougueiro” tira o avental e se revela um executivo engravatado. Cobre a cabeça da vaca com a bandeira do Uruguai, ao som do hino nacional.
Para uma mostra escolar, “Esto no es una Vaca 2”, num contexto brasileiro, remete aos festivais universitários de música dos anos 60 e 70, nos quais os compositores faziam críticas ao regime militar. Não é o caso do Uruguai, mas nem por isso a juventude se esquiva do contexto social e político.
Atualmente, o país discute um reforma educacional que, no esboço, traz mais complicações do que benefícios. Mote suficiente para uma passeata pelas ruas de Montevidéu e respectiva ocupação de alguns colégios em protesto contra a imposição do projeto. Resultado: o governo inclui representantes dos alunos no conselho que discute as mudanças.
É assim, teatro e vida associados. Consciência social e autoconhecimento. O contato com o Uruguai neste final de milênio, um dos berços da consolidação do teatro latino-americano nos anos 50 – o Galpão e o Circular são grupos históricos, hoje com salas próprias e verdadeiras instituições do país – evidencia o potencial dos jovens para transformar a arte do ator, através de muito suor e honestidade.