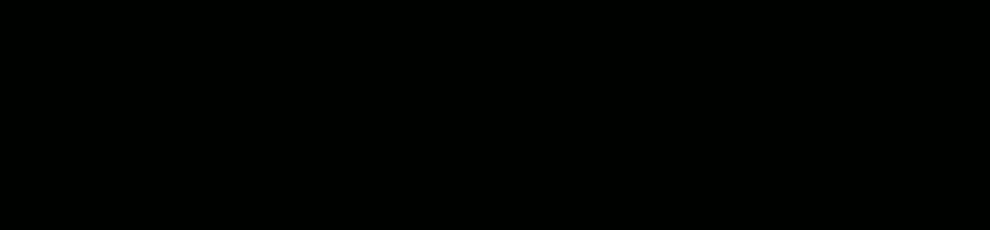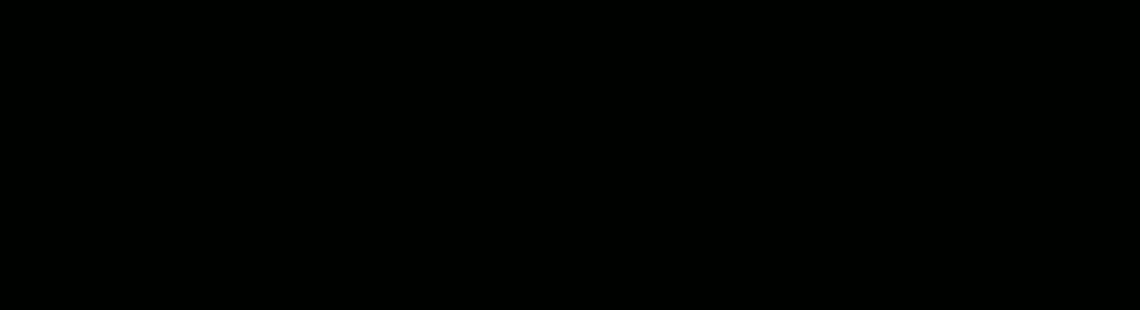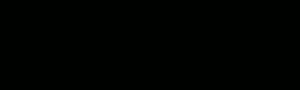Crítica
Em Brasília
O espectador brasileiro que conheceu a arte do malinês Sotigui Koyuaté ao longo da década passada, integrado aos espetáculos do inglês Peter Brook (Le costume, Hamlet, Tierno Bokar), notou como a oralidade é primordial aos caminhos do ator e da cena.Trata-se de compreendê-la enquanto linguagem, sua inscrição na respiração e no ritmo do corpo, sua capacidade de transcendência simbólica, em vez de tão somente instrumentalizar a voz. Antes de ator, Koyuaté era um griô, como são conhecidos os “homens da palavra” na África Ocidental, conforme a hereditariedade dos contadores de história que poetizam, tocam e cantam. Quando não souber aonde ir, lembre-se de onde veio, costumava repetir o ensinamento do avô.
Às vésperas de sua morte, em abril de 2010, aos 73 anos, Koyuaté debruçava-se sobre a peça Salina (2003), do romancista e dramaturgo francês Laurent Gaudé. Ele desejava montá-la, mas não chegou a fazê-lo, vítima de uma infecção pulmonar aguda. Quem levou o projeto adiante foi a viúva, Esther, estreando cinco meses depois em Burkina Faso, país onde viveram por um bom tempo.
O preâmbulo é endereçado à memória do mestre griô porque a montagem da Amok Teatro para o mesmo texto – acrescido o nome de uma das suas três partes, em parênteses, (A última vértebra) – absorve traços poéticos e antropológicos da oralidade enquanto organizadora da presença, da narrativa e do espaço. A companhia carioca alcança paisagens épicas e concisões de escuta conexas à transmissão dos saberes ancestrais em sociedades africanas identificadas com raízes afro-brasileiras culturais, artísticas e religiosas.
Há muita energia nos movimentos e no vocabulário gestual que detalha as mãos ora com suavidade ora cravadas pelo sentimento de ódio, central no enredo
Os corpos de cinco mulheres e de cinco homens modulam a saga da personagem-título e os episódios que vão singrando uma história pessoal violentada por sistemas social e político arcaicos, na acepção negativa, tradições familiares idem, demolidoras de direitos humanos, em especial os femininos – panorama muitas vezes replicado no século atual, independente do grau de civilidade dos países.
Acolhidos pela companhia em audição e posteriormente mergulhados em processo formativo voltado às especificidades da obra e às perspectivas estéticas da Amok, os atores evidenciam trajetórias biográficas afeitas às expressões africanas, como a fluência para o canto e a dança.
A espacialização de uma arena, incluindo atores sentados de costas para o público, complementando o círculo sagrado das ações, confirma a naturalidade da exposição na lida com os objetos e instrumentos. Há muita energia nos movimentos e no vocabulário gestual que detalha as mãos ora com suavidade ora cravadas pelo sentimento de ódio, central no enredo (coreografia assinada por Tatiana Tibúrcio, que também atua).
 Liliana Horacio
Liliana Horacio Um dos atores no chão cenográfico do espetáculo da Amok
Outra preciosidade é a música percussiva de Fábio Simões Soares. Ele é a primeira pessoa a pisar e a última a deixar o chão da cena. Em seu set de instrumentos afro-brasileiros e afins, centralizado ao fundo, Soares dá contornos majestosos ao ofício de apoiar com precisão os momentos solos ou corais do elenco, valorizando a neutralidade do silêncio nos climas propriamente trágicos. E eles são muitos.
Gaudé pondera a tragicidade em Salina com pitadas do repertório grego mais disseminado entre nós, como nas desventuras de uma heroína que sofreu na infância, tentou emendar a vida com uma paixão sincera e os deuses a meteram em provações sem fim, gerando um destino rente ao de Medeia, cujo rancor cresce na mesma proporção. Até um profeta à la Tirésias surge a certa altura, em vão. Predomina o tom de epopeia com a guerra de fundo, os desígnios divinos e o indivíduo confrontado a toda sorte, mas vislumbrando alguma fresta. É possível ouvir nas entrelinhas ecos de poemas épicos e universais como a Ilíada (grego), O Mahabharata (indiano) e Gilgamesh (mesopotâmio).
A direção de Ana Teixeira e Stephane Brodt costura o fluxo de informações com clareza em dois atos e quase quatro horas de jornada. Eles ousam não esterilizar a atenção medindo-a pelos ponteiros do relógio e sim pela qualidade de sua duração. O público que ocupou a arquibancada em semi-arena do Teatro Plínio Marcos, da Funarte, num crescendo trepitoso e depois, magicamente, só quietude embarcou na inteligência dos artistas que estavam ali para contar uma boa história, e assim foi.
 Junior Aragão
Junior Aragão Ariane Hime, no papel-título, contacena em ‘Salina’
Anotamos dois contrapesos à experiência da apresentação. Primeiro, a inflexão dramática em determinadas passagens. O encargo emocional demandado aos atores, provavelmente desejo de sublinhar o trágico, trava a palavra na garganta, desnivelando a potência vocal de que a atuação já dera mostras, autóctone. Segundo, também na intencionalidade teatral, repousa na caracterização dos cabelos brancos. Para uma dramaturgia aberta ao fantástico, que pare um filho sem o sêmen paterno e o dota de 20 anos em questão de dias, essa convenção de transcurso do tempo soa deslocada. Tais dissonâncias não chegam a macular a narrativa-mãe: seus filhos são genuinamente talentosos e aguerridos.
Tanto Gaudé como a dupla Teixeira e Brodt lançam mão da relação multicultural como importante toque de resistência aos pendores da homogeneização. No entanto, texto e encenação dispensam apologias ou exotismos. A Amok acumula mais de década e meia com trabalhos limítrofes como o conflito israelo-palestino, o não-lugar dos ciganos, o cerco de regimes autoritários. Salina exibe a crueldade cortada na própria carne, nas entranhas, derramando sangue e lágrimas, ao passo que se revela tão solar e forte nos músculos e ancas de uma África fértil em sua liberdade imaginária, sua cultura e sua arte infinitas.
Para evocar Sotigui Koyuaté mais uma vez, em breve conversa com o público da cidade de São Paulo, em 2004, ele contou que no Mali e em outros países africanos o espaço teatral também é distinto daquele conhecido do mundo ocidental, arquitetado como edifícios. Trata-se do “koteba” (grande caracol), composição de três grandes círculos em si mesmos, geralmente ao ar livre. No primeiro, estão as crianças. No segundo, as mulheres. No terceiro, os homens, a proteger as outras duas camadas. No centro, dá-se a cena. É desse território artístico, ou ainda território do candomblé e da congada, que fala a dezena de contadores de história de Salina em sua oralidade sincretizada no corpo.
.:. Escrito no âmbito do 16º Cena Contemporânea – Festival Internacional de Teatro de Brasília, de 18 a 30/8, em ação da DocumentaCena – Plataforma de Crítica. O jornalista viajou e trabalhou a convite da organização do evento.
 Liliana Horacio
Liliana Horacio Naturalidade na lida com objetos e instrumentos
Ficha técnica:
Texto: Laurent Gaudé
Direção: Ana Teixeira e Stephane Brodt
Elenco: André Lemos, Ariane Hime, Graciana Valladares, Luciana Lopes, Reinaldo Junior, Robson Feire, Sergio Loureiro, Sol Miranda, Tatiana Tibúrcio e Thiago Catarino
Música: Fábio Simões Soares
Luz: Renato Machado
Assistente de Direção: Vanessa Dias
Coreografias: Tatiana Tibúrcio
Cenário e Figurino: Ana Teixeira e Stephane Brodt
Bonecos: Maria Adélia
Tradução: Ana Teixeira
Revisão do texto: Sol Miranda
Intercâmbio: Mestre Jorge Antonio Dos Santos, Congado dos Arturos (MG)
Produção: Amok Teatro
Jornalista e crítico fundador do site Teatrojornal – Leituras de Cena, que edita desde 2010. Escreveu em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e O Diário, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Autor de livros ou capítulos afeitos ao campo, além de colaborador em curadorias ou consultorias para mostras, festivais ou enciclopédias. Cursa doutorado em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado na mesma área.