
Artigo
Humor e morte em Millôr
Centenário de nascimento
19.7.2023 | por Fernando Marques
Foto de capa: Camila Marchon
Os pais de Millôr Fernandes (1923-2012) o registraram como Milton Viola Fernandes em maio de 1924, nove meses depois de seu nascimento a 16 de agosto de 1923. Várias edições de seus trabalhos por isso trazem o ano de 1924 como aquele em que nasceu. Até mesmo a ilustração para a capa do livro com a peça Duas tábuas e uma paixão, que mostra duas mulheres-anjo a erguerem do túmulo o corpo do autor, feita pelo próprio, crava “1924-1962”. O correto, no entanto, é 1923.
Há outro equívoco na certidão de nascimento. O escrivão que o registrou grafaria seu nome com o traço da letra “t”, de Milton, debruçado sobre o “o” seguinte à maneira de um acento circunflexo (além do “n” parecido com “r”), permitindo ler Millôr em vez de Milton. Aos 17 anos, ao pedir uma cópia da certidão, ele percebeu o lapso e resolveu adotar a grafia involuntária, aceita por parentes e amigos.
O escritor e artista visual nasce e morre no Rio de Janeiro, aos 88, tendo sido humorista, dramaturgo, tradutor, desenhista, contista, poeta. O múltiplo Millôr Fernandes faria 100 anos em agosto.
Seus trabalhos de tradução envolvem mais de 70 peças, devidas a Shakespeare, Molière, Racine, Tchékhov, Pirandello, Miller, Brecht, Fassbinder, trazidas para o português entre 1958 e 2008. Se traduzir é criar pontes, Millôr passou a vida a construí-las.
Às vésperas do centenário de Millôr Fernandes, a 16 de agosto, constato que suas peças merecem uma edição que as reúna ou, quando menos, que as selecione e apresente de maneira menos casual, mais ordenada, algo similar ao que Sábato Magaldi fez para as de Nelson Rodrigues (1912-1980) ou Antonio Mercado para as de Dias Gomes (1922-1999). A obra de Millôr parece menos constante que a desses autores quanto à qualidade estética, mas tem momentos altos que, a seu próprio modo, se equiparam aos encontrados em Nelson e Dias
Vamos abordar, contudo, a sua obra de dramaturgo. Seu repertório autoral é vasto e diversificado o bastante para sugerir escolhas, e faremos as nossas na tentativa de captar o substancial. Há textos que o tempo desgastou e outros que permanecem eloquentes.
Millôr produziu comédias, dramas e textos-colagem, estes com material de procedência variada, próprio ou alheio, além de roteiros para shows. Localizamos 14 livros de teatro, publicados de 1957 a 2014, em que se acham 18 peças, incluído o show Bons tempos, hein? e excluídas, é claro, as reedições. Pode haver outros.
O humor naturalmente aparece com frequência, mas nem sempre: há obras ou passagens isentas de comicidade. A mistura de realismo e absurdo singulariza os textos. Vamos comentar algumas dessas obras.
Constato que as peças merecem uma edição que as reúna ou, quando menos, que as selecione e apresente de maneira menos casual, mais ordenada, algo similar ao que Sábato Magaldi fez para as de Nelson Rodrigues (1912-1980) ou Antonio Mercado para as de Dias Gomes (1922-1999). A obra de Millôr parece menos constante que a desses autores quanto à qualidade estética, mas tem momentos altos que, a seu próprio modo, se equiparam aos encontrados em Nelson e Dias.
O primeiro livro do dramaturgo contém quatro peças, publicadas sob o título Teatro de Millôr Fernandes, em 1957, pela Civilização Brasileira (mas a grande maioria de seus textos sairá pela L&PM). Esse volume de estreia traz Uma mulher em três atos, Do tamanho de um defunto, Bonito como um deus e A gaivota.
A primeira delas usa processos que procuram ultrapassar o realismo, como quando a mesma cena se repete com variações, a duplicar-se em chave fantástica. Mantém dois planos de tempo, e em ambos encontramos Maria, a mulher do título. No plano do presente, ela é a narradora de fatos ocorridos há dois anos, aqueles que vamos acompanhar em cena.
O espetáculo estreou em junho de 1954, no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em São Paulo, com Ludy Veloso e Armando Couto. O diretor foi o italiano Adolfo Celi, um dos encenadores europeus que vieram para o Brasil depois de 1948, quando se criou o TBC.

Os três personagens masculinos devem ser interpretados pelo mesmo ator, o que naturalmente exige malabarismo do intérprete. Um deles é o marido de Maria; os outros, dois de seus amantes. O texto sugere que haja ainda outros amantes, que não chegam a aparecer e são apenas mencionados. Maria é uma colecionadora cômica e voraz de casos extraconjugais.
Como notou o crítico Décio de Almeida Prado na ocasião da estreia, o possível virtuosismo dos recursos dramáticos corresponde a uma substância tênue, apoiada em lugares-comuns. Destaque-se, porém, certa acuidade psicológica em falas como esta: “A luta que a mulher tem não é pensando se vai ou não trair o marido num caso fora do lar. É, sim, se vai ou não trair a parte mais pura de seus sentimentos deixando de se entregar ao homem amado. Em suma, só trai quando não trai”, diz Maria.
O enredo, porém, não chega a incorporar a eventual agudeza expressa nas palavras. É curioso notar que Nelson Rodrigues fará as suas criaturas dizerem coisas semelhantes em Perdoa-me por me traíres, de 1957 – três anos depois, portanto, de Uma mulher em três atos. “Amar é ser fiel a quem nos trai” ou “A adúltera é mais pura porque está salva do desejo que apodrecia nela” são frases que exprimem o singular ponto de vista do marido enganado na peça de Nelson.
Os três textos seguintes, menos audaciosos formalmente, no entanto possuem traços de conteúdo e mesmo de estrutura (realista) mais consistentes. Neles, o autor mostra-se dono de seus recursos – e escreve uma comédia e dois breves dramas apreciáveis, sobretudo os últimos.
Do tamanho de um defunto estreia em março de 1955 no Teatro de Bolso, no Rio de Janeiro, com direção de Armando Couto, falando de um Brasil aparentemente menos violento que o de agora. Hoje seria mais difícil fazer humor com o tema de um ladrão que invade a casa de um médico e sua mulher, quando sabemos de que modo podem terminar esses episódios na dura vida real. Mas estávamos em 1950, ano em que a peça terá sido escrita (este será o primeiro texto teatral do autor).
Millôr situa a residência no Andaraí, bairro de classe média na zona norte do Rio, o que permite considerações sobre o tratamento pouco diligente dado pela polícia aos moradores do bairro, diferente do que ocorreria em Copacabana, localidades nomeadas na peça; a glamorosa Copacabana é também referida como espaço já então atulhado de prédios. A comédia, sem maiores voos, funciona bem na sua crítica aos costumes cariocas: a polícia tarda a chegar ou não vem, a chuva arruína os telefones.
A terceira peça, com estreia em novembro de 1955 em São Paulo, dirigida uma vez mais por Armando Couto, chama-se Bonito como um deus e nos leva ao drama ao falar de uma relação abusiva que termina em assassinato. Em décadas posteriores, o autor viria a ser acusado de machismo por algumas de suas piadas – como ao dizer que o melhor movimento das mulheres “é o dos quadris”.
Millôr nessa peça atua, porém, na direção oposta, mostrando uma relação amorosa pautada em maus-tratos, aos quais a frágil Flávia responde violentamente. O abuso contra as mulheres é apresentado como tal, sem reticências, a sério e a seco. A noite carioca empresta o ambiente aos eventos. O texto merece ser revisitado.
A última e breve peça no volume, A gaivota, é uma pequena obra-prima, e o adjetivo “pequena” corre por conta apenas da extensão do texto. Parece nunca ter sido encenado. Muito do que se escuta dos dois personagens, pai e filha que acabam de perder mulher e mãe, converte-se em sugestões: as frases se fecham, mas deixam no ar os seus harmônicos. Um jovem autor capaz de poesia – não só a das falas, mas também a das ações e subentendidos – emerge de Bonito como um deus e de A gaivota.
O volume intitulado Teatro completo: volume 1 (1994) recolhe três obras fora da ordem cronológica em que apareceram originalmente. A primeira chama-se Pigmaleoa, que estreou no Rio em 1955 com direção de Celi. A segunda, à qual voltaremos, intitula-se É…, encenada e publicada em 1977, feita espetáculo de sucesso com Fernanda Montenegro e Fernando Torres. A terceira é A história é uma istória (Campinas, 1976), um dos textos narrativos ou expositivos do autor acerca de grandes temas (a liberdade, a História, a “angústia humana”), tratados com verve e, às vezes, emoção.
Pigmaleoa é uma comédia deliciosa. Ismênia, colunista social, mora em uma casa em Copacabana vista como a última de um bairro tomado por prédios. O corretor Rocha a assedia há dois anos sem conseguir convencê-la a ceder à proposta de compra – para substituir a casa por um prédio de apartamentos, evidentemente.
Chega do interior de Minas sua sobrinha Júlia. O interesse no que toca a esta personagem não reside tanto na conversão de moça ingênua em mulher descolada (argumento de Pigmaleão, de Shaw, em que a peça declaradamente se inspira) e sim num traço constrangedor de caráter, a cleptomania, capaz de impulsionar as ações.
Descobre-se que a adolescente Júlia não saiu do interior para o Rio com o consentimento da mãe, irmã de Ismênia, mas fugiu da mãe tirânica. E logo depois saberemos que ela não é sobrinha, mas filha de Ismênia. Os golpes de teatro se sucedem, sempre sob atmosfera de ironia, como convém às comédias. Aqui, as falas espirituosas não soam postiças, mas se integram ao perfil das personagens e situações. Uma das boas peças de Millôr Fernandes, certamente.
Mais controverso é o caso de Um elefante no caos (1960), apesar de alguns lances imaginativos. O texto foi premiado como o melhor do ano pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais, e o autor foi também o melhor daquela temporada na opinião da Comissão Municipal de Teatro.
Millôr não comemorou as comendas, pelo contrário: escreveu que o prêmio da comissão tivera uma “cerimônia inesquecível por anacrônica e humilhante”. O valor concedido vexava os ganhadores: 50 mil cruzeiros, “mais ou menos o equivalente ao aluguel de um bom apartamento, naquela época”. Ele registrava o fato “para que o leitor do futuro possa aquilatar o valor que as mais altas autoridades do País atribuíam, em 1960, aos seus Sófocles, Aristófanes e Ésquilos”.
A peça por algum tempo chamou-se Por que me ufano do meu país, no que Millôr tomava emprestada a fórmula famosa do conde de Afonso Celso (1860-1938), monarquista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Herdeiros e amigos do conde abespinharam-se com o dramaturgo, que desistiu de usar a frase. Mas não sem ironizar a proibição, sugerindo a seus espectadores que chamassem a peça de “Por que me enalteço de pertencer a esse torrão” ou “Quem for brasileiro, Seager’s!”.
O argumento da farsa, contemporânea de Jânio Quadros, mostra situações prosaicas enlouquecidas por absurdos, como o de um incêndio que os bombeiros não conseguem apagar e que, até certo ponto da história, arde sem evoluir, permitindo que se tome um café enquanto se comenta o fato. Ou ainda “a enorme mão de um gorila” que salta repentinamente para agarrar a dona de casa Maria, personagem principal. O elefante é o Brasil tosco, imperfeito, mas único. Boas ideias percorrem o texto que, no entanto, parece arrastar-se em certos trechos, como à procura de caminhos para prosseguir. O problema, se há, pode ser de ritmo.
Flávia, cabeça, tronco e membros, de 1963, foi publicada em 1977 e encenada em 1985, no Rio, com Ângela Leal e Dirce Migliaccio no elenco e direção de Luiz Carlos Maciel. Millôr afirmou certa vez ser este o seu texto predileto. É, de novo, uma história que parte do realismo para subvertê-lo pelo exagero ou puro nonsense. A peça cresce nas cenas finais, com o juiz Paulo Moral tomando o espaço que seria de Flávia. As dimensões da protagonista encolhem para dar lugar a uma parábola da impunidade e da loucura das instituições.
Menina de origem burguesa, Flávia tem 17 anos e coleciona passagens pela polícia, detida por uso de drogas ou participação em espetáculo de striptease. Egoísta, vale-se de juventude e beleza como armas que lhe garantem pequenos privilégios. O delegado Alberto apaixona-se por ela e se dispõe a ser o seu tutor legal.
O casamento de Alberto previsivelmente entra em crise, assim como o de Paulo (que se torna amante da mulher de Alberto). Assassinatos premeditados das respectivas esposas, agora em atmosfera que lembra a das peças de Ionesco, conduzem à cena de tribunal em que o magistrado emite as suas sentenças perigosas e bizarras – isso quando não dorme, paralisando a audiência. O desfecho carnavaliza definitiva e produtivamente o enredo, que é construído com cuidado, apesar do clima de farsa que tudo sanciona. Millôr chamou a obra de “tragédia ou comédia, em dois atos”.
A peça Liberdade, liberdade, escrita em parceria com Flávio Rangel e dirigida por Flávio, integra em 1965 a voga dos textos-colagem de que o show Opinião, de Armando Costa, Paulo Pontes e Vianinha, havia sido pioneiro no ano anterior. Millôr voltaria a espetáculos do tipo já em 1967, com O homem do princípio ao fim sob a direção de Claudio Correa e Castro.
Liberdade, liberdade reúne frases, canções e anedotas que vão de Moreira da Silva a Thomas Jefferson, do trágico Unamuno ao pândego Noel, louvando a liberdade com humor e certa emoção. O crítico Yan Michalski, do Jornal do Brasil, observou àquela altura: “Não se trata, obviamente, de uma peça de teatro, e não será graças a Liberdade, liberdade que a dramaturgia brasileira reencontrará o seu rumo perdido; mas se trata de um show oportuno, feito com muito coração e muita inteligência”. Michalski se posiciona ao lado dos artistas, numa hora política em que a solidariedade é especialmente necessária.
Millôr retornará por várias vezes a esse gênero que prescinde de história ou conflito, valendo-se de narradores ou locutores dedicados a um tema amplo, capaz de fornecer alguma unidade à obra. Foi assim em Computa, computador, computa (que estreia no Rio em 1972 dirigida por Carlos Kroeber) ou em A história é uma istória (dirigida por Claudio Correa e Castro em 1976).

Uma solução de compromisso entre o gênero dramático e esses textos de índole expositiva resulta na peça Os órfãos de Jânio, publicada em 1979. Há personagens, mas só a época os relaciona entre si. O contato se dá entre atores e público, para quem os intérpretes falam diretamente. Dessa vez, “o conteúdo político não é o mais importante”, diz Millôr: “Esta é, basicamente, uma peça sobre a angústia humana”.
Em 1966, é a vez de Vidigal: memórias de um sargento de milícias, comédia musical inspirada no romance de Manuel Antônio de Almeida (1831-1861). A peça foi então dirigida por Geraldo Queiroz. Seria editada 15 anos depois, “em versão um pouco diferente”, agora com músicas de Carlos Lyra e letras do dramaturgo.
A história se passa “nos tempos do Rei”, ou seja, de d. João VI. As cenas são agilíssimas, e uma gag à maneira de bordão basta para ilustrá-las: toda vez que o nome do chefe de polícia, o feroz Vidigal, é mencionado, a sua figura surge fantasmaticamente, aparição assustadoramente cômica. Millôr fazia alusão, é claro, às trevas autoritárias que, em 1966, ainda eram vistas como transitórias, superáveis, portanto aptas a ser representadas sob a forma de farsa. O estado de coisas ganharia feições trágicas em 1968.
Chegamos ao que talvez seja o ponto mais alto da dramaturgia de Millôr Fernandes, tendo sido também grande sucesso de público; esteve em cartaz por duas temporadas, 1977 e 1978, no Rio de Janeiro. Trata-se do drama É…, “baseado num fato verídico que apenas ainda não aconteceu”, representado por Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Helena Pader, Jonas Bloch e Renata Sorrah, sob a direção de Paulo José.
O ambiente é o da classe média alta carioca, no qual vemos dois casais, um deles maduro, outro mais jovem. As conversas amenas de gente culta são atravessadas por um pedido difícil feito por Oto, do casal jovem, a Mário, marido de Vera. Oto descobriu-se estéril, mas ele e Ludmila, sua mulher, querem ter um filho e por isso decidiram – após alguma hesitação – pedir a Mário que lhes conceda ser o reprodutor, dado que o conhecem e confiam nele. A vida nem sempre se deixa guiar por propósitos racionais, e o acerto desanda.
Um procedimento de natureza narrativa, embora usado noutras peças por outros autores e elencos, mostra-se aqui especialmente eficaz. Os sentimentos de Vera, personagem de Fernanda Montenegro, ao se ver afetada pelos fatos (o envolvimento de Mário com Ludmila acaba por separar Vera do marido), são apresentados em algumas passagens por inserções épicas em que a atriz sai da personagem para comentar suas emoções, não raro com resultado humorístico.
O final da peça nos reserva choque ou susto, rico em significados e habilmente calculado pelo autor. Ele usa com sabedoria o recurso dramático da preparação (o de insinuar um tema que mais tarde virá à tona plenamente) para causar comoção e perplexidade nos derradeiros instantes de É….
Há textos teatrais de Millôr Fernandes menos conhecidos, mas de idêntico vigor. Dois deles: Duas tábuas e uma paixão, publicado em 1982 sem notícia de montagem, e A viúva imortal, “sobre uma ideia de Petrônio”, bela peça editada em 2009 e encenada por Geraldo Queiroz, como informa o prefácio de Fausto Wolff sem indicar data.
Outro texto a mencionar é Kaos, publicado em 2014 sem indicação de montagem, esse pertencente ao grupo dos textos narrativos ou expositivos. Nele as técnicas dramática e épica se combinam: as palavras trocadas entre personagens intercalam-se às falas dadas diretamente ao público. O tema são os impasses do mundo contemporâneo na perspectiva dos anos 1990.
Encerro este breve passeio pelo teatro de Millôr falando sobre A viúva imortal e Duas tábuas e uma paixão. Podemos chamá-las comédias metafísicas. Ambas evidenciam a preocupação existencial do escritor, quase sempre ligada à leveza humorística, mas capaz de transcendê-la.
Roma Antiga. Fidélia, mulher nobre, é completamente apaixonada pelo companheiro, assim descrito pelo Narrador: “O coronel Potêncius, nas lutas, não arriscava a pele. Os grandes sensuais preferem guardar sua energia pras alcovas. Têm mais por que viver. Só os impotentes se realizam nas batalhas, nas grandezas políticas”, afinal mesquinhas.
Fidélia tem uma escrava, chamada Etérea, tão leal a ela quanto Fidélia ao parceiro. Quanto Potêncius morre, a mulher decide segui-lo, escolhendo o caminho do suicídio por jejum. Etérea, obediente, imita a senhora. Mas surgem dois sedutores: Capadox, arqueólogo cristão (passe o anacronismo!) e o Capitão, oficial romano. Depois de hesitações e reviravoltas, os casais se entendem. Moral da fábula: “O céu é muito alto, a coisa é aqui na Terra”. Vivamos enquanto temos tempo.
A peça Duas tábuas e uma paixão traz Cordélia, atriz que volta ao Brasil depois de alguns anos na Inglaterra. Sua mãe morreu há pouco, e ela vem morar no apartamento da família, que precisa de severas reformas. Quem vai fazê-las é o mestre de obras Osvaldo, habilidoso, embora idiossincrático. A ação transcorre em 1981, quando se deu o atentado ao Riocentro.
Millôr elabora sobre o episódio real, felizmente frustrado, imaginando que tivesse tido sucesso, com centenas de mortos e feridos. A direita homicida acusa a esquerda pelo ato e promove a perseguição de oposicionistas, notáveis ou anônimos. Os diálogos no apartamento nos informam dos fatos no mundo externo.
Uma linha de enredo paralela, discreta, mas significativa, refere-se às impressões que Cordélia e a irmã guardam de sua mãe, vítima de câncer. Essas lembranças preparam a cena final, em flashback, na qual fala a senhora recentemente morta. Um trecho do monólogo derradeiro:
Não é um pesadelo – eu não vou despertar e estou apavorada. Não há tapeação, engodo, truque, que me salve agora. Minha religião é uma mentira, não me ajuda em nada. É apenas, sei agora, uma partitura de notas sem sentido, criada para me iludir de que haverá uma vida eterna – e estou morrendo! E a filosofia, que me ensinou que nenhum ser humano deve ter medo de uma coisa que não vai sentir, me assusta mais, pois esse é o maior medo que sinto – o de não ser. (…) Anestesia geral, profunda, universal, da qual ninguém voltou ao menos para se queixar.
Ouvimos palavras de teor semelhante em Hamlet: a morte “é o país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante”.
As duas comédias são mais propriamente existenciais do que metafísicas, pois não vislumbram transcendência, isto é, vida além do universo material que habitamos. A viúva imortal celebra a imanência, o corpo, o afeto, o aqui e agora. O que não responde, no entanto, às questões da Mãe, que permanecem.
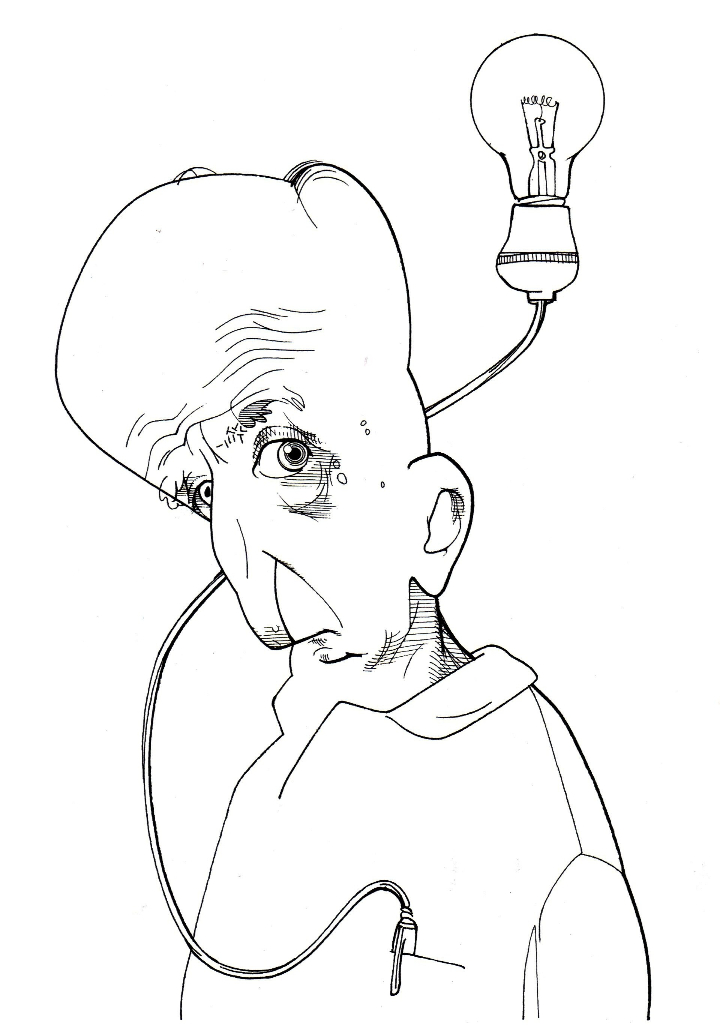
Referências
.:. Peças de Millôr Fernandes
Teatro de Millôr Fernandes. Com as peças Uma mulher em três atos, Do tamanho de um defunto, Bonito como um deus e A gaivota. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957.
Computa, computador, computa. Rio de Janeiro: Nórdica, 1972.
Flávia, cabeça, tronco e membros. Porto Alegre: L&PM, 1977.
Liberdade, liberdade. Com Flávio Rangel. 3.ª edição. Porto Alegre: L&PM, 1977.
É…. 3.ª edição. Porto Alegre: L&PM, 1978.
Um elefante no caos. Porto Alegre: L&PM, 1979.
Bons tempos, hein? Show escrito especialmente para o MPB-4. Porto Alegre: L&PM, 1979.
Os órfãos de Jânio. Porto Alegre: L&PM, 1979.
Vidigal: Memórias de um sargento de milícias. Porto Alegre: L&PM, 1981.
Duas tábuas e uma paixão. Porto Alegre: L&PM, 1982.
Teatro completo, volume 1. Com as peças Pigmaleoa, É… e A história é uma istória. Porto Alegre: L&PM, 1994.
O homem do princípio ao fim. Reimpressão. Porto Alegre: L&PM, 2008.
A viúva imortal. Sobre uma ideia de Petrôneo. Porto Alegre: L&PM, 2009.
Kaos. Reimpressão. Porto Alegre: L&PM, 2014.
.:. Sobre as peças
MAGALDI, Sábato. “É…”. Em Amor ao teatro. São Paulo: Sesc, 2014.
PRADO, Décio de Almeida. “Uma mulher em três atos”. Em Apresentação do teatro brasileiro moderno. Crítica teatral (1947-1955). São Paulo: Perspectiva, 2001.
______. “Um elefante no caos”. Em Teatro em progresso. Crítica teatral (1955-1964). São Paulo: Perspectiva, 2002.
.:. Na internet
Vida & Obra. Millôr Fernandes. L&PM Editores.
Entrevista com Millôr no programa Roda Viva da TV Cultura, 1989. No YouTube. Duração: 1h30m. Abaixo:
Professor do departamento de artes cênicas da Universidade de Brasília (UnB), na área de teoria teatral, escritor e compositor. Autor, entre outros, de ‘Zé: peça em um ato’ (adaptação do ‘Woyzeck’, de Georg Büchner); ‘Últimos: comédia musical’ (livro-CD); ‘Com os séculos nos olhos: teatro musical e político no Brasil dos anos 1960 e 1970’ e ‘A província dos diamantes: ensaios sobre teatro’. Também escreveu a comédia ‘A quatro’ (2008) e a comédia musical ‘Vivendo de brisa’ (2019), encenadas em Brasília.




