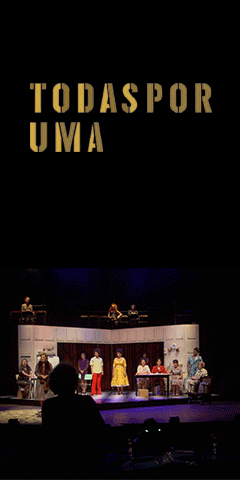O Diário de Mogi
Texto e atuações consolidam “Rancor”
1.4.1993 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Quinta-feira, 01 de abril de 1993. Caderno A – capa
Frias Filho e o trio Bete-Mamberti-Borghi resultam em boa peça
VALMIR SANTOS
Otavio Frias Filho é, definitivamente, um dos novos talentos da estancada dramaturgia nacional. Depois de “Típico Romântico”, com uma montagem regular ano passado, seu segundo texto em cartaz, “Rancor”, confirma o pleno domínio da palavra. Corta, intera, incomoda. “Ninguém sobrevive ao peso da palavra”, brada o personagem Leon, a certa altura do espetáculo. É isso mesmo.
A trama de “Rancor” é primorosa. Trata do embate entre Berucci, o arcaico crítico de arte, e seu pupilo Leon, inconformado com o passadismo, a falta de idéias. Como pano de fundo, paira a questão do fim do estoque de criação da humanidade. O repertório acabou? Não é uma obra, seja ela qual for, sem se deixar influenciar?
Frias Filho deixa patente a inspiração do livro “A Angústia da Influência”, do crítico americano Harold Bloom, citado em cena. “Rancor” é também Nelson Rodrigues. O dramaturgo está presente no cenário, quando este se transforma em uma redação de jornal; e no texto, quando Berucci repete uma frase carimbada do autor de “Vestido de Noiva”: “Sou uma múmia com todos os achaques de uma múmia”.
O elenco é outra virtuose. Ex-Dry Opera Company (leia-se Gerald Thomas), Bete Coelho retorna ao palco – felizmente – depois de uma breve passagem na tela da Globo. Ela faz Leon, o quinto personagem masculino da carreira, batizado pela própria – Frias Filho não havia definido um nome. A atriz influenciou bastante a direção de Jayme Compri. O recurso de movimentar ritualisticamente os atores em plano de fundo, enquanto se dá um diálogo à frente, lembra Thomas. Aliás, a iluminação de Guilherme Bonfanti e cenário de Felipe Tassara, ex-assistente de Daniela Thomas, não fogem à regra do jogo.
“Rancor” pulsa ainda com Sérgio Mamberti (Berucci) e Renato Borghi (o sanguessuga jornalista Dadá). As distintas escolas de formação dos três principais atores da peça não implicam perda. Ao contrário, a tríade Bete-Mamberti-Borghi dá a base necessária. Juntando uma polêmica intelectual que chega em boa hora, sem prejuízo do trabalho de ator e do potencial cênico, “Rancor” é uma das melhores estréias deste ano, até aqui.
Rancor – De Otavio Frias Filho. Direção: Jayme Compri. Com Bete Coelho, Sérgio Mamberti, Renato Borghi, Roberto Moreno e Muriel Matalon. De quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. Teatro Ruth Escobar (rua dos Ingleses, 209, tel. 289-2358). Ingressos: Cr$ 60 mil (quinta) e Cr$ 120 mil. Até 30 de maio.
“Império” de Thomas em construção
27.3.1993 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Sábado, 27 de março de 1993. Caderno A – capa
O próprio diretor admite que a sua nova montagem passa por processo de amadurecimento, côo se viu no festival de Curitiba
VALMIR SANTOS
A história de “O Império das Meias Verdades” seria, em tese, a seguinte: espectador volta para casa à noite e depara com uma cena de esquina, onde uma mulher está agachada ao lado do corpo de um homem. Reluz a lâmina de uma faca que corta a escuridão local. O espectador se aproxima. Assustado, percebe que existe uma pessoa atrás de uma árvore, olhando para ele.
O observador, aqui, é observado. A mulher foge. O espectador encontra, ao lado do corpo, uma caderneta de anotações. E retira-se da cena com a mesma. Em sua casa, a leitura das páginas remete a outra história, a da criação do mundo sob perspectiva de ninguém menos que Adão. Quando o leitor-voyeur chega na parte do sexo para o sétimo dia, adormece (descansa). E sonha.
Seria esse o fio, mas Gerald Thomas o reduz a uma narração em off, feita pelo próprio. Ele é avesso ao preconceito. Assim, o público que lotou o Ópera de Arame, o belíssimo teatro de Curitiba, na quarta-feira, viu um espetáculo onde predomina o jogo onírico. O diretor mergulha no sonho desse espectador angustiado. É por isso que “O Império…” se apresenta inacabado, fragmentado. Thomas fala em um processo de amadurecimento que pode durar até um semestre. Enquanto isso, o público solta fumacinha da cabeça – talvez também o diretor, o elenco – em busca de respostas.
Thomas volta a cutucar a religião, o sexo. Chama Deus de Anastácio. Eva passa boa parte da peça menstruada. Numa cena-síntese, o Mordomo pedala sua bicicleta, um cidadão aleijado “anda” sobre um carrinho de rolimã, Adão se apóia em muletas e Eva rasteja no chão permeado de maçãs. Tudo indica forma. Sem preencher o vazio, o oco. A fumaça peculiar está lá, mas em menor intensidade. Daniela Thomas, que deixou o cenário por conta do ex-marido, faz falta. Gerald Thomas recorre a vaivéns de seis paredes, recurso batido. E o véu, que costumava ficar à frente do palco, desta vez foi colocado no fundo.
Uma boa notícia: o ator de Thomas está mais livre. Numa linha progressiva que indicou em “M.O.R.T.E.” e passou pela última montagem. “The Flash And Crash Days”, a Companhia Ópera Seca não é mais a mesma. A agora primeira atriz, Fernanda Torres, Luís Damasceno e Edílson Botelho, por exemplo, têm bons momentos. O corpo fala mais.
“O Império…” se completa com um texto simultaneamente despojado e coloquial, conciso e poético. Thomas coloca na boca de seus personagens a autocrítica (“Somos mesmo uma sociedade de imbecis”), a estética (“Nossa obra do acaso total”) e a reivindicação (“Convoco uma nova geração de criadores com a geometria de um parangolé brasileiro ou de um guarda-chuva; que chova em nossa poesia!”). Para arrematar, há um “fuck you” repetido aqui e acolá, um desabafo do criador diante da criação incompreendida.
Protestos marcam passagem de diretor
* Alguns quiprocós marcaram a passagem Gerald Thomas por Curitiba. Atrasou cerca de uma hora a coletiva; a Imprensa paranaense se retirou “em protesto”.
No final de “O Império…”, quarta-feira, mandou um dedo médio em riste para as poucas vaias da platéia. E no debate de anteontem (“Exportação é que importa?”), tema que tratou do teatro brasileiro lá fora), ficou patente a pouca sintonia com a diretora Bia Lessa, no que tange aos respectivos estilos.
“O Império…” chega em São Paulo no final do mês que vem.
* Quem também chega à Capital é o diretor carioca Moacyr Góes. Traz para o Centro Cultural São Paulo e Teatro Itália seus três últimos espetáculos: “Escola de Bufões”, de Michel Guelderode; “Comunicação a Uma Academia”, de Frank Kafka; e Guelderode – as duas últimas foram apresentadas em Curitiba.
A estréia tripla deve acontecer na próxima semana
* “O Paraíso Perdido”, do grupo Teatro da Vertigem, provoca o levante de católicos radicais, inconformados com a encenação da peça na Catedral Metropolitana de Curitiba. Mas a celeuma não deve dar em nada, pois foram programadas até sessões extras.
* Yacoff Sarkovas, 38 anos, a principal cabeça do festival, já manteve uma fazenda em Salesópolis. Lidou com minhocário, caquizal e eucaliptal entre 83 e 84, quando deixou o campo para lidar com outra paixão: as artes cênicas. Sua empresa, a Artecultura, de São Paulo, se juntou a Arte de Fato, de Curitiba, para organizar o evento que, em sua segunda edição, se consolida como o mais profissional do País.
Sarkovas foi responsável pela introdução do marketing cultural no Brasil, a partir de meados da década de 80. Praticamente lançou Gerald Thomas, Bia Lessa, Geraldo Villela, Antônio Nóbrega, entre outros criadores de cerca de 50 projetos abarcados pela Artecultura.
* O festival acaba amanhã. A previsão é de que 25 mil pessoas assistam aos 16 espetáculos
As últimas peças são “Dois Perdidos Numa Noite Suja”, de Plínio Marcos, direção de Emílio Di Biasi; “Cartas Portuguesas”, baseada em cartas da freira Mariana Alcoforado; e “Othelo – A Sombra de uma Dúvida”, versão cine-teatro dos jovens Fabrízia Pinto e René Birocchi para a obra de Shakespeare.
Stoklos envia “fax” de ira vocal e corporal a Colombo
5.11.1992 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Quinta-feira, 05 de novembro de 1992. Caderno A – capa
Atriz toma navegador genovês como referência em seu novo e impactante espetáculos, onde critica desde Delfim a Lula, indignada com a pequenez social e cultural do País
Valmir Santos
Dá gosto de ver, mas angustia. Oespetáculo “500 anos – Um fax de Denise Stoklos pra Cristóvão Colombo” atiça osnervos do espectador. Não no sentido pejorativo do trabalho, mas da enxurradade miséria e podridão histórica que a atriz despeja, corporal everborragicamente, invadindo nossos olhos e ouvidos. Stoklos atua com ódio,depois transformado em amor, denunciando as “colombadas” que vitimaram milhõesde inocentes e defenestraram a cultura de países que foram colonizados, como México,Peru, Bolívia, Brasil, entre outras comarcas da América Latina. Tudo a partirda perspectiva do navegador genovês. É uma peça-porrada em plena comemoraçãodos 500 anos do continente.
Stoklos faz um personagem náufrago,escrevendo seu diário de bordo. Passeia pelo caos social-político de 1492 atéos dias atuais. Num dos momentos mais tenso do espetáculo, e por isso mesmo aatriz repete insistentemente “Quem se interessa? É muito chato, cansativo”, oslivros são a tábua das atrocidades cometidas por colonizadores ao longo dahistória. São citados com minúcia de autor, título, editora, ano de lançamento.E o “teatro essencial” de Stoklos – corpo, voz e mente – aponta o genocídio deíndios, de negros e outros nativos.
A atriz, indignada por ter bancado todaa produção de “Um Fax…”, sem nenhum patrocínio brasileiro, repudia apoliticagem vigente. Das “delfinettadas” às “luladas”, quando critica LuizInácio Lula da Silva por pedir apoio a Roberto Marinho para o movimentopró-impeachment. Afinal, foi a Globo que inventou o “caçador de marajás”. Comoem “Mary Stuart” e “Casa”, concebe, dirige e atua sozinha na sua últimamontagem. “Um Fax…” estreou em agosto em Colônia (Alemanha), percorrendo todaa Europa, para chegar ao Brasil mês passado, em Curitiba (PR). Aos 25anos de carreira, ela lança seu livro “Denise Stoklos – The Essential Theatre”,em inglês, acrescido de versão reduzida da tese sobre seu trabalho, por SuziSobral, na New York University. Terça-feira, lançou também “Tipos”, com textose poesias. É, hoje, mais reconhecida no Exterior que em seu país. “Eu sou livrepara falar o que quiser”, diz, emocionada ao final de “Um Fax…”. Imperdível.
500 anos – Um Fax de Denise StoklosPara Cristóvão Colombo – Concepção, direção e atuação de DeniseStoklos. Hoje, amanhã e sábado, 21h; domingo, 18h. Ingressos: Cr$ 55 mil(quinta a sábado) e Cr$ 45 mil (domingo). Teatro Sesc Pompéia (rua Clélia, 93,tel. 864-8544). Até domingo.
Sob a direção de Adamilton AndreucciTorres, 38 anos, o Tumc optou por levar o teatro às ruas e praças públicas napassagem dos seus dez anos de existência (veja o box). “O Capeta deCaruaru” encerra a trilogia iniciada em 89 com “A Cara Nossa de CadaDia”, seguida por “Cenas em Cena”, apresentada na UMC no finaldo ano passado, com participação especial do grupo folclórico Meninos daPorteira, de Sabaúna.
Por l hora e 20 minutos a praça CoronelAlmeida serviu de território-limite de Caruaru. O cenário,resumido num painel de pano de cerca de oito metros de largura, lembrando oformato de uma casa, traz os indícios da caatinga nordestina: o sol abrasador,o cacto ressecado, a mula esquelética e a pequena igreja, símbolo da fédaqueles que só deixam o cariri no último pau-de-arara.
O prefeito António Cipriano e o padreDamião — que também passam, respectivamente, pelo beberrão Chico e o caipiraPiu — são o pivô da história. A troca de personagens confunde os moradores.Dona Cosma está preocupada com o marido que transou com uma égua, dando origemao cavalo de cabeça de gente. Este se apaixona pela moça que não pára decrescer e já está com a cabeça ao nível das telhas da casa. O pai, António dasAlmas, reivindica fervorosamente, junto à prefeitura local, um guindaste paraque a filha possa se locomover. Eis os fenômenos absurdos que indicam apresença do capeta em Caruaru. Tudo, é claro, pincelado pelo humor escrachadodos nordestinos, profundos amantes da superstição.Um cavalo provido de cabeçahumana casou-se ontem com uma moça acometida pela doença do coqueiro — maispara girafa —, filha do cangaceiro António das Almas. O enlace aconteceu emfrente à Igreja Matriz. Antes das pazes, porém, houve muita confusão. Quempassou pela praça Coronel Almeida a partir das 12 horas viu de perto asarmações de uma bruxa escatológica tentando azucrinar o pacato cotidiano de umacidade de Pernambuco. Eram os 18 integrantes do grupo Teatro da Universidade deMogi das Cruzes, o Tumc, encenando “O Capeta de Caruaru”, de AldomarConrado.Sob a direção de Adamilton Andreucci Torres, 38 anos, o Tumc optou porlevar o teatro às ruas e praças públicas na passagem dos seus dez anos deexistência (veja o box). “O Capeta de Caruaru” encerra a trilogiainiciada em 89 com “A Cara Nossa de Cada Dia”, seguida por”Cenas em Cena”, apresentada na UMC no final do ano passado, comparticipação especial do grupo folclórico Meninos da Porteira, de Sabaúna.Por lhora e 20 minutos a praça Coronel Almeida serviu de território-limite deCaruaru. O cenário, resumido num painel de pano de cerca de oitometros de largura, lembrando o formato de uma casa, traz os indícios dacaatinga nordestina: o sol abrasador, o cacto ressecado, a mula esquelética e apequena igreja, símbolo da fé daqueles que só deixam o cariri no últimopau-de-arara.O prefeito António Cipriano e o padre Damião — que também passam,respectivamente, pelo beberrão Chico e o caipira Piu — são o pivô da história.A troca de personagens confunde os moradores. Dona Cosma está preocupada com omarido que transou com uma égua, dando origem ao cavalo de cabeça de gente.Este se apaixona pela moça que não pára de crescer e já está com a cabeça aonível das telhas da casa. O pai, António das Almas, reivindica fervorosamente,junto à prefeitura local, um guindaste para que a filha possa se locomover. Eisos fenômenos absurdos que indicam a presença do capeta em Caruaru. Tudo, éclaro, pincelado pelo humor escrachado dos nordestinos, profundos amantes dasuperstição.
Parlapatões levam o circo para o palco
13.9.1992 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 13 de setembro de 1992. Caderno A – capa
VALMIR SANTOS
Qual foi a última vez que você assistiu a um espetáculo circense, com a constelação de personagens de praxe, como o palhaço, o trapezista, o equilibrista, o domador de leões e o atirador de facas? Certamente, não faz pouco tempo. A massificação da TV, dos jogos eletrônicos e a dissolução das tradicionais famílias de circo, entre outros fatores, estão contribuindo para o desaparecimento da milenar arte do picadeiro. Hoje, raros são os circos que resistem ao furacão da mídia. Um dos efeitos imediatos deste “circocídio” é a transposição de espetáculos de armação de lona para o teatro do concreto.
Formada em 91, a Companhia Parlapatões, Patifes e Paspalhões é um exemplo do que ocorre nos últimos anos. Seus dois únicos integrantes, os atores Hugo Possolo e Alexandre Roit, que passaram pelo Circo Escola Picadeiro, na Capital, estão em cartaz com duas peças. “Nada de Novo” e o infantil “Bem Debaixo do Seu Nariz” foram montadas a partir das apresentações em ruas e praças, devidamente recheadas com elementos circenses.
Em “Nada de Novo”, Possolo e Roit apresentam peças curtas, esquetes cômicas, evoluções com bastões, bolas a argolas. A relação objeto-ator é perfeita. Inserem textos de escritores famosos, como “O Primeiro Milagre”, de Dario Fo; “Destino”, de Millôr Fernandes; e “Amala”, de Groucho Marx. Tudo isso com direito a uma intrépida mímica, feita por Possolo, de uma história mundo-cão narrada com a voz in off de Gil “Aqui Agora” Gomes.
“Bem Debaixo do Seu Nariz” também investe no circo, desta vez para um público mais suscetível ao riso: as crianças. A peça começa logo na entrada do teatro, quando a dupla brinca com os filhinhos e seus paizinhos. Como no espetáculo adulto, é formada uma roda no palco, desenhada por uma corda. É a simulação do picadeiro. Os pimpolhos sobem no palco e ficam sentados, em círculo, acompanhando as peripécias de Roit e Possolo.
Os Parlapatões, Patifes e Paspalhões – nome que provoca um ponta de humor só na pronúncia – nos faz lembrar da serragem do picadeiro, da lantejoula da partner que acompanha o mágico retirando o coelhinho da cartola, da arquibancada de madeira lotada de olhos atentos aos passos do equilibrista no arame. Enfim, resgata o instante mágico do circo até o tempo de fecharem as cortinas e a realidade se surgir novamente: sem circo.
Nada de Novo – Com Hugo Possolo e Alexandre Roit. Segunda, terça e quarta, 21h30. Ingresso: Cr$ 15 mil. Centro Cultural São Paulo (rua Vergueiro, 1000, tel. 278-9787 / 2704577). Até 29 de setembro. Bem Debaixo do Seu Nariz – Sábado e domingo, 16h. Ingresso: Cr$ 8 mil. Teatro Alfredo Mesquita (avenida Santos Dumont, 1770, tel. 299-3657). Até 1º de novembro.
Lino Rojas vive à margem do “teatrão”
23.7.1992 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Quinta-feira, 23 de julho de 1992. Caderno A – capa
VALMIR SANTOS
Quando chegou ao Brasil, em fevereiro de 75, o diretor Lino Rojas encontrou um país em festa – era Carnaval. Vinha de uma situação nada alentadora. O Peru, onde nasceu há 49 anos, vivi intensa convulsão político-social, culminando em exílio de várias personalidades. Ele foi uma delas.
Lino Rojas não tem mídia. “Sou um ser que vive à margem, me sinto cômodo nela; há muita badalação no centro e isso não me interessa”, avisa. Lecionou na USP, onde dirigiu o grupo Tetra, formado por estudantes dos mais variados cursos. De 87 a 90, foi contratado pela Secretaria Estadual de Cultura para coordenar o projeto Teatro Comunitário na Unesp de Marília (SP). Paralelamente, deu oficinas de iniciação em São Miguel Paulista, onde nasceu seu grupo atual, o Pombas Urbanas.
Até o final do ano, monta “O Funâmbulo”, baseado em texto homônimo de Jean Genet. Em 91, o Pombas ganhou cinco prêmios no Festival da Cidade de São Paulo com a peça “Os Tronconenses”, apresentada em Mogi em abril último. Em entrevista, Rojas fala de sua razão de ser: o teatro.
O Diário – Afinal, o que é funâmbulo?
Lino Rojas – De acordo com o Aurélio, a palavra significa o indivíduo que volteia na corda bamba, no arame. “O Funâmbulo” é o nome do livro de Genet. Na minha concepção, trata-se do irmão maior de “Os Tronconenses”. É a história de um menino que cresce no palco até transformar-se em artista, um palhaço livre que sente necessidade de amor, de sensibilidade, de honestidade. Genet é um estímulo para mim, que vivo a condição de artista. Quando li “O Funâmbulo” pela primeira vez, tremia a noite inteira devido à profundidade do texto.
O Diário – Quando estréia a peça?
Rojas – Ainda este ano. Dependemos de apoio para montagem. Por enquanto, nos dedicamos aos ensaios no Tendal da Lapa, em São Paulo.
O Diário – Ano passado, o Pombas Urbanas subiu ao palco pela primeira vez e recebeu cinco prêmios no Festival da Cidade de São Paulo. É um grupo que promete, não?
Rojas – Não é pretensão, mas pelos trinta anos de experiência no teatro, sinto que o grupo possui jovens que, se lapidados, darão ótimos resultados. No momento, estamos na fase de reconhecimento externo do corpo e seus instrumentos, como espaço e gesto. Quero atingir a verdade, a cultura do ator. Ao mesmo tempo, trabalhamos a voz, a sonoridade. Afinal, voz é músculo.
O Diário – Como é fazer teatro com jovens, sem apoio financeiro e, ainda por cima, numa região carente de cultura, São Miguel?
Rojas – A gente tem que fazer milagre. Pessoalmente, vivo de bicos. Estou ligado ao Greenpeace para coordenação de eventos culturais no Brasil. Mas não é nada fixo. Acho terrível que o teatro neste País esteja ligado estruturalmente ao poder. Parece um mendigo diante das secretarias de Cultura. Uma estrutura que não permite a existência do verdadeiro artista.
O Diário – Mas como é esse artista?
Rojas – É um artista que anda sem parar. Caminhando, se faz o caminho. Andar e, quem sabe, criar asas e voar também.
O Diário – Escola forma ator?
Rojas – É muito difícil você explicar para o padeiro que ele não deve confeccionar pães com peso inferior ao exigido; pedir para o Ministério da Economia não reajustar mais o leite, porque isso provoca a morte de molhares de crianças. Assim são atores de escolas de formação: não têm consciência de que tudo que aprendeu não serve como instrumento de trabalho. Semana passada, encontrei com Antunes e ele sugeriu que fosse jogada uma bomba em todas as escolas do País. Concordo com ele.
O Diário – Apesar da tempestade, é possível identificar alguma saída para o teatro?
Rojas – Uma delas seria de grupos de atores que ajam coletivamente, transferindo energias, forças, conhecimentos que possam contribuir para o surgimento de um novo teatro no Brasil. A noção de grupo foi diluída nos últimos tempos, sobretudo por causa do violento incentivo ao individualismo. Culpa também das escolas de teatro que estão aí.
O Diário – Dos trabalhos dos diretores, o que o senhor destacaria?
Rojas – No Brasil, respeito nomes como Amir Haddad, que desenvolve um pesquisa de teatro de rua no Rio; e Antunes Filho, esse bruxo a quem amo e odeio.
O Diário – Como está o teatro latino hoje?
Rojas – Percebe-se uma relação muito fecunda com importantes nomes europeus. Miguel Rubbio (grupo peruano Yayachkani, do qual fiz parte da fundação, em 71); Enrique Buenaventura (Teatro Experimental de Cali, na Colômbia) e Maria Escudeiro (Libre Teatro Libre, da Argentina) têm muita influência de Eugênio Barba e Jerzy Grotowski, por exemplo.
“A Orgia” mostra o podre da América
16.7.1992 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Quinta-feira, 16 de julho de 1992. Caderno A – capa
Peça escrita pelo colombiano Enrique Buenaventura cutuca com a ponta do dedo as raízes da miséria do povo latino-americano
VALMIR SANTOS
Existe uma corrente no teatro latino-americano voltada para as veias abertas deste continente – como bem salientou o escritor uruguaio Eduardo Galeano. Enrique Buenaventura, dramaturgo colombiano, é um exemplo. Aos 75 anos, continua acompanhando os trabalhos do Teatro Experimental de Cali, do qual foi fundador. Uma de suas peças mais importantes, “A Orgia”, está em cartaz em São Paulo, encenada pelo grupo Tektons, com direção do peruano Hugo de Villavicenzio.
“A Orgia” é a segunda obra da trilogia “Os Papéis do Inferno”, completada com “A Professora” e “A Autópsia”. Buenaventura escreveu a peça nos anos 60. Chegou ao texto e à concepção cênica a partir de criação coletiva desenvolvida no Teatro Experimental de Cali, na Colômbia. A técnica de improvisação, aliás, é uma característica sempre presente no processo de dramaturgia do autor. Na montagem que dirige, Villavicenzio deixa claro a influência do seu mestre, com quem estudou na Colômbia. A coreografia de movimentos quebrados dos atores e o replay de cenas – mesmo que às vezes cansativo – denotam a apuração plástica. A expressão corporal é outro destaque. Percebe-se em alguns atores a movimentação das extremidades, pés e mãos.
A história de “A Orgia”, definida como tragicomédia, trata de uma velha inescrupulosa que rouba o minguado ganha-pão de seu filho surdo-mudo, um engraxate. O objetivo é organizar, todo fim de mês, uma “festa de recordação”. Para tanto, a velha convida mendigos esfarrapados para representarem personagens que marcaram sua carreira de cantora de cabaré. São coronel, bispo e um aristocrata. Qualquer semelhança com personagens da mesma estirpe, que costumam pincelar a história da América Latina, não é coincidência.
“Trata-se de uma noitada espiritual e não permitirei que manchem com o materialismo que corre”, brada a velha (Mila Rey) contra os mendigos que reivindicam a sobra da panela de comida que a matriarca oferece na orgia. No final da peça, os famigerados investem contra a velha. Agora já não são os personagens do passado, mas os miseráveis do presente, movidos pelo instinto antropofágico.
Com “A Orgia”, o Tektons do diretor Villavicenzio ganhou os festivais de São Paulo, de São José dos Campos, de Sorocaba e São José do Rio Preto. A montagem esteve em cartaz no ano passado. Volta agora para servir de catalisador de recursos – pelo menos é o que se espera – para a nova peça que o grupo já vem ensaiando. “A Celestina”, do espanhol Fernando Rojas, foi um dos primeiros textos escritos na história do teatro. O tem? Quinhentos anos de descobrimento da América. As veias continuam abertas…
A Orgia – De Enrique Buenaventura. Direção: Hugo Villavicenzio. Com Mila Rey, Renato Cuenta, Rita Lacerda e elenco. Sexta e sábado, 21h; domingo, 20h. Ingressos: Cr$ 12 mil. Teatro Cenarte (rua 13 de Maio, 1040, tel. 284-6837). Até setembro.
Teatro do Sesc com nove espetáculos
Já estão selecionados os espetáculos que integrarão a Jornada Sesc de Teatro/92. Os critérios básicos para a escolha foram: texto curto, trabalho de ator e direção. São peças que têm, em média, meia hora de duração – “a one act play”. É parecido com o que acontece em mostras anuais ou específicas, como a National Festivals a All England Theatre, duas organizações inglesas. As montagens selecionadas serão apresentadas durante três dias, a partir de 31 de julho, no Teatro Sesc Anchieta, em São Paulo.
Fantasia de Pedra Furor (17 minutos). Direção de Cibele Forjaz. Com Rosi Campos
Liubliú (30 minutos). Direção de Beatriz Azevedo. Com Petrônio Gontijo e Jairo Matos.
Graças a Deus (30 minutos). Direção de Clélia Virgínia Rinaldi e Milena Milena. Com Milena Milena.
Like a Rolling Stone (45 minutos). Direção e atuação de Ânderson do Lago Leite e Lavínia Pannunzio.
Domingo (17 minutos). Direção de Patrícia Soares. Com Zeca Pezzatti
A Pescadora Queimada (40 minutos). Direção de José Antônio Garcia. Com Sérgio Mamberti, Jandir Ferrari, Iara Janra
Do Outro Lado da Ilha (35 minutos). Direção e atuação de Milena Milena e Dafne Michellepis
O Pesadelo do Ator (35 minutos). Direção de Márcia Abujamra. Com Carlos Moreno
Kazuo Ohno sensibiliza a vida no palco
2.7.1992 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Quinta-feira, 02 de julho de 1992. Caderno A – capa
Aos 86 anos, o criador do butô traz dois espetáculos ao Brasil e continua dançando como uma criança
VALMIR SANTOS
A leveza do ser é sustentável. O japonês Kazuo Ohno, criador da dança butô, prova isso no palco. Seus movimentos lentos conectam o homem ao espaço, ao meio. É uma interação. Nos espetáculos, paira a sensação de que este velho de 86 anos revisita a infância o tempo todo. “O estado ideal do homem é a posição fetal, onde se mantém tranqüilo e vive em harmonia com tudo que está em sua volta”. O corpo de Kazuo é lúdico. Pés e mãos, as duas palavras que significam butô, se avolumam em cada gesto. Quem o vê dançando não esquece. Guarda consigo a poção mágica da vida: cuidar muito bem do coração e do espírito, como costuma orientar o mestre.
É assim que Kazuo Ohno se encontra novamente entre nós. Sua primeira apresentação no Brasil ocorreu em 1986, em São Paulo. Ele voltou semana passada, no Festival Internacional de Londrina (PR). Dançou em Santo André e deve ir para Belo Horizonte (MG). Junto com seu filho, Yoshito Ohno, 53 anos, trouxe dois espetáculos: “Water Lilies” (ou “Lírios D’água) e “Ka Cho Fu Getsu” (“Flores, Pássaros, Vento e Lua”). O segundo é a mais recente montagem da Kazuo Ohno Dance Company, formada pelo pai e filho. “Ka Cho Fu Getsu” é a integração da alma e da natureza. Nele, o mestre do butô lida com dois extremos da existência: vida e morte. Quando a mulher dá a luz um bebê, está caminhando para a morte ao mesmo tempo em que gera uma nova vida. Sobre põem-se o fim e o começo. “A loucura extrema da loucura: a vida renasce como uma nova vida através da morte”, deduz Kazuo. Em “Water Lilies”, o dançarino, como prefere ser tratado, ao invés de ator, mergulha no universo sensorial. Inspirado no pintor francês Monet, usou toda sua experiência de vida artística como rascunho para criar um mundo de transparência, de realidade e fantasia, flutuando da beleza. “Com a ajuda de Monet, eu me libertei da forma e encontrei aquilo que repousa na Terra e no Cosmos: o lírio d’água”, conta.
Ademais, fica difícil falar sobre os trabalhos. Tem dança, teatro, mímica. O cenário não existe, o palco fica nu. A partir dos movimentos de Kazuo e Yoshito, o espectador consegue desenhar uma paisagem, fruto de sua própria experiência de vida. O butô permite isso, É o vazio onde o observador consegue preencher, dispor sua emoção. Mãos e pés, as extremidades do corpo, transmitem poesia. É o belo superando com muito esforço a realidade.
Espírito comanda o corpo na dança
Na dança butô, o espírito comanda o corpo (pés e mãos). A concepção nasceu no final da década de 50, quando Kazuo Ohno atuou em “Kinjiki”, escrita por Mishima Yukio, que cometeu o haraquiri. Kazuo descobriu o butô ao lado do amigo e colaborador Tatsumi Hijikata. O mestre começou a dançar aos 28 anos, influenciado por um espetáculo da bailarina argentina Antônia Marcé. Aos 86 anos, ele diz que continua criando movimentos só possíveis de serem realizados nesta idade. Apesar das limitações físicas, flutua no palco.
“Sou este velho que acumula experiência e não fica quieto, sem se manifestar, sem transmitir sua arte”, filosofa.
Trágica, Trono de Sangue faz rir com medo
28.5.1992 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Quinta-feira, 28 de maio de 1992. Caderno A – capa
Adaptação de Antunes empareda Macbeth e resulta em um espetáculo de impacto
VALMIR SANTOS
“Eu já tenho cheiro de naftalina, clorofórmio?”, pergunta, com estranhamento, o diretor Antunes Filho. De fato, ele exala contemporaneidade. “Trono de Sangue”, sua adaptação para “Macbeth”, de Shakespeare, estreou semana passada. Traz para o palco uma ação impactante da mais sinistra e sanguinária tragédia do autor inglês. A história de Macbeth a usurpar o trono do rei Duncan é envolta em suspense cinematográfico.
Tragédia perversa na definição de Antunes, “Trono” é horror sussurrante. Uma tensão explícita acompanhada de divertimento, mesmo que trágico. O pulso do espetáculo fica por conta do ator Luís melo, um Macbeth animalesco, visceral. Ao seu lado, a ex-Chapeuzinho Vermelho em “Nova Velha Estória”, Samantha Monteiro, é a víbora e frágil lady Macbeth.
No palco de tablado vermelho, estilo elizabetano, atuam ainda 16 atores, a movimentação deles remete ao Coro grego. Como no enterro do rei Duncan, onde se juntam para conduzir o caixão entoando canto japonês ao ritmo de sapateiros. A cena final é eletrizante. Sem sua Lady, que perde a razão e morre, Macbeth se vê isolado, travando batalha com o exército que quer recuperar a Justiça. O usurpador é devorado pelos soldados ao som de heavy metal.
Trono de Sangue – Com Luis Melo, Samantha Monteiro e grupo Macunaíma. De quarta a sábado, 21h; domingo, 19h. Teatro Sesc Anchieta (rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 256-2281). Ingressos: Cr$ 20 mil e Cr$ 10 mil (comerciários), de sexta a domingo; Cr$ 15 mil e Cr$ 7,5 mil (comerciários), quarta e quinta. Duração: 1h30. Até 26 de junho.
Ator virou mobília, diz diretor
Antunes Filho, 62 anos. Um dos diretores mais respeitados do teatro nacional, sempre marcado pela ousadia de experimentar, de reinventar o fazer teatral, ele continua sustentando sua única motivação cênica: o ator.
“Hoje o ator virou mobília”, sentencia. Para Antunes, quem manda no palco é o ator, imbuído de sensibilidade, manifestando sua poética real. “Diretor que não sabe trabalhar ator não é diretor, é design”, alfineta.
Gesticulando, preparando fumo no cachimbo e bastante agitado depois da semana de estréia de “Trono de Sangue”, Antunes recebeu o Diário para entrevista exclusiva, segunda-feira passada, no Centro de Pesquisa Teatral (CPT) do Sesc, São Paulo, onde coordena diversos núcleos de criação, com cursos de montagem, iluminação, cenografia, e outros elementos de teatro.
Diário – Como foi o processo de criação de “Trono de Sangue”, realizado paralelamente com as montagens de “Nova Velha Estória” e “Paraíso Zona Norte”?
Antunes Filho – A adaptação de “Macbeth” começou a ser trabalhada há sete meses. Os atores participaram de vários laboratórios. As pesquisas foram voltadas, por exemplo, para a maneira de andar dos séculos 16 e 17. Minhas peças são atemporais. Brinco com os estilos da época nos contextos psicopolíticos, psicossociais e psicoeconômicos. Há também pesquisas realizadas em livros. A coisa mais fundamental da vida é o imaginário. A verdade do imaginário é muito mais profunda que a verdade histórica.
Diário – Apesar de clássicos, o Sr. anunciou uma montagem antimuseu, mais uma vez jogando com experiências cênicas.
Antunes – “Trono” resgata a cultura do ator brasileiro. É, antes de tudo, uma homenagem que presto ao ator de costumes Jaime Costa, pela atuação em “Caixeiro Viajante”, e à atriz Glauce Rocha, a única que vi interpretando Shakespeare como se fosse ela mesma; não recitava, brotava do seu organismo. Por outro lado, a peça é uma ruptura, porque faço uma experiência estética onde, além de usar o cinema, recorro à força centrifuga. Tiro o ator do centro do palco e coloco nas paredes, abrindo a cena. Uma espécie de poética da parede. É como o momento que o Brasil atravessa, vivemos emparedados, com medo, receio.
Diário – Explica um pouco como se dá essa valorização do ator.
Antunes – Diretor de teatro tem que saber lidar com ator. Quem manda no palco é o ator. O diretor deve apenas ajudá-lo a encontra sua poética. Hoje, os diretores são verdadeiros filhotes da ditadura no palco. Tenho fama de ser o sacristão, o ditador. Mas é o contrário. Só porque quero disciplina no CPT muitos confundem ditadura. Exijo aspectos essenciais para a constituição de liberdade. Se não tenho base, um sistema, então tenho libertinagem.
Diário – Nas últimas entrevistas o Sr. tem falado bastante do ator comediante. Não poupa sequer críticas aos atores de novela.
Antunes – Para mim, existem três categorias de ator. O primeiro é o de comédia de costumes, uma corruptela do que se vê nos programas de humor na TV. O segundo é o ator dramático, aquele que fica confinado ao texto e não vai além do que o autor escreve. E, por fim, o comediante. É aquele que pesquisa, propõe novos modelos culturais, não vive de pré-concepções. O ator comediante está afastado de tudo, fica acima da comunidade humana. Olha de cima e desce para fazer teatro, contar histórias, ajudar os homens. Ele prefere a sensibilidade à emoção.
Diário – Por que uma nova visita a Shakespeare?
Antunes – Só montei Shakespeare porque é um autor da minha época. Não faria para cultuar o museu shakespeariano. Faço um Shakespeare brasileiro, de 1992.
Diário – Qual a avaliação que o Sr. faz das peças montadas atualmente?
Antunes – Quando vou ao teatro, nunca entendo o que os atores estão fazendo; quando entendo o português, não compreendo o que falam. Meu teatro procura exatamente entender e compreender. Hoje, a molecada vem assistir “Trono” e sai dizendo: “Puxa, nunca pude imaginar que um clássico fosse assim, vivo”.
Diário – E de quem é a culpa deste entendimento incompreensível?
Antunes – Um pouco dos diretores, que não vão a fundo em nossas raízes e terminam fazendo clipe com os atores. Hoje, o ator virou mobília no palco. O clipe é uma linguagem da forma pela forma, são tensões visuais sem raízes. Já fiz isso em “Romeu e Julieta”, utilizando uma sintaxe do clipe. Agora, não posso ver um clipe na TV que acho a coisa mais chata, mais burra e mais cacete do mundo, muito repetitiva. Aliás, o pós-modernismo no Brasil se caracteriza por uma época burra. Enquanto isso, na Europa, ele recorreu ao lúdico, buscando sua tradição verdadeira. Aqui, ao contrário, vive-se atrás da cultura estrangeira, da citação pela citação, e você nunca sabe onde vai dar. Se eu assinar um espetáculo assim, tipo Bia Lessa, estou liquidado como diretor. Ela pode fazer isso, eu não.
Tapa encena duas faces do poder
2.4.1992 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Quinta-feira, 02 de abril de 1992. Caderno A – capa
Grupo monta, simultaneamente, “A Megera Domada” e “A Mandrágora”
VALMIR SANTOS
A disputa acirrada e a conquista pretensamente orgulhosa do poder nos tempos de Collor, de Nicolau Maquiavel ou de Willian Shakespeare, tanto faz. Até junho, o grupo Tapa continua encenando duas peças clássicas que colocam em xeque a preponderância do domínio do alheio seja pela força física, moral ou financeira. “A Megera Domada” (Shakespeare) e “A Mandrágora” (Maquiavel) trazem para o palco, em gênero de comédia, o discurso do macho e o exercício da velha corrupção, que antigamente assolava os clãs e hoje emperra a máquina de muitos governos.
“Não se culpa o autor, mas o seu tempo”, entoam em coro os atores, logo na primeira cena de “A Mandrágora”. A frase serve para reforçar o conteúdo atemporal dos textos. Maquiavel concluiu sua obra em 1503, três anos depois do Descobrimento do Brasil. “A Megera”, de Shakespeare, foi escrita entre 1593 e 1594.
Segundo o diretor do Tapa, Eduardo Tolentino de Araújo, 37 anos, “A Megera” mostra como o machismo no Ocidente atravessou os séculos e continua em voga nos dias de hoje, forçando uma submissão das mulheres nas sociedades. Na peça, a truculência de Petrúquio diante da ferina Catarina termina em uma relação de serva e senhor. Ela, encarnada em sua ideologia feminista roxa, sucumbe ao estilo bateu-levou dele. Um laço, é claro, edulcorado pelo interesse mercantilista do pai de Catarina, que cede a mão da filha em troca dos dotes pertencentes ao futuro genro.
Na maquiavélica “A Mandrágora”, Tolentino enxerga uma metáfora da conquista da mulher como se fosse o poder. “A matéria da História é escabrosa”, dispara o diretor, referindo-se aos fatos de política rasteira que permeiam a humanidade. A encenação resume-se nas tramóias de Calímaco, um conquistador barato que arrisca sua própria cabeça para passar uma noite com a bela Lucrécia, a mulher do bem-nascido Messer Nícia.
A retomada do teatro clássico é uma realidade em 1992. “Acredito que até quando for construída uma estação intergaláctica, os textos clássicos continuarão a ser encenados lá em cima”, brinca Tolentino, um dos fundadores do Tapa, em 1973, no Rio de Janeiro.
Domiciliado em São Paulo há seis anos, o grupo já levou ao palco “Viúva, Porém Honesta” (Nelson Rodrigues), “Solness, o Construtor” (Henrik Ibsen) e “As Raposas do Café”, entre outras montagens. O Tapa, hoje, consolida-se como um dos melhores grupos do país.
Elenco sua em maratona no palco
A maioria do atores do Tapa atuam nas duas peças. Desde que estrearam as montagens, no final do ano passado, o grupo se empenha em uma verdadeira maratona. De quarta a domingo apresenta “A Megera Domada”. Na terça e na primeira sessão de quarta, é a vez de “Mandrágora”. Ou seja, o elenco só descansa às segundas-feiras. Para manter o fôlego, os atores são submetidos a um intenso trabalho de preparação corporal, com aulas de tai chi chuan, esgrima, florete e até luta corpo a corpo, entre outras atividades. Tudo em nome da arte.
Praça da Sé vira palco para o Tumc
12.1.1992 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 12 de janeiro de 1992. Local – Página 3
VALMIR SANTOS
Estavam lá as prostitutas, os meninos de rua, os PMs armados, os evangélicos, os muambeiros e as sofridas pombas urbanas em busca de migalhas no concreto. Durante a última semana, este foi o cenário que serviu de pano de fundo para o espetáculo “O Capeta de Caruaru”, na Praça da Sé, com o grupo Teatro da Universidade de Mogi das Cruzes, o Tumc. A exemplo do que aconteceu nas praças de Mogi e Suzano, a peça do pernambucano Aldomar Conrado, entremeada por lendas absurdas da tradição nordestina e pelas tiradas políticas e sociais em voga, também cativou o público paulistano.
Na roda formada há poucos metros do marco-zero do Estado, os rostos revelavam uma maioria de migrantes do Nordeste. A identificação com as cenas e os sotaques dos personagens era inevitável. O sorveteiro António da Silva, 26 anos, soltava altas gargalhadas. “Tô gostando bastante”, disse o pernambucano de Surubim, cidade a duas horas de Caruaru. Silva só parou para assistir à peça depois de vender todos os 200 sorvetes de sua caixa de isopor. Tem saudades da terra natal, mas é “obrigado” a ficar em São Paulo. “Lá não tem emprego”, justifica.
As aventuras do prefeito António Cipriano e do padre Damião, que se passam, respectivamente, pelo beberrão Chico e o caipira Biu — esse troca-troca de personagens provoca momentos engraçados —, reportou o marceneiro Adaílton Alves Cavalcante, 32 anos, à sua infância e adolescência em Rio Tinto, na Paraíba. “Nunca havia assistido a um espetáculo em praça pública, nem em teatro de verdade”, conta. Cavalcante assistiu a todas as apresentações do Tumc na Sé. Quinta e sexta-feira, estava acompanhado da mulher, Marluce, 22 anos, e do pequeno Anderson, 2 anos.
Amor à arte
Tatiana Freitas, 8 anos, filha da vendedora autônoma Edilenice Freitas do Carmo, 27 anos, se desvencilhou dos braços da mãe e foi sentar à frente da roda-platéia. “Gostei mais da Bruxa”, afirma a menina, referindo-se ao personagem que narra as peripécias de “O Capeta de Caruaru”. Para a baiana Edilenice, que já fez aula de interpretação com a diretora teatral Maria Clara Machado, no Rio de Janeiro, é importante a iniciativa do Tumc em levar a arte cênica para a praça. “A gente percebe uma personalidade forte no grupo, de entrega, de amor à arte mesmo”, avalia, enquanto assistia à peça pela segunda vez. O ajudante de limpeza Antônio da Silva – mesmo nome do sorveteiro -, 45 anos, disse que o Tumc lembra o tempo em que vivia em Rancharia. no interior do Estado, onde costumava freqüentar o circo. Em “O Capeta”, segundo ele, os personagens caricaturados lembram os palhaços. Barba à Tiradentes, uma mochila a tiracolo, apoiando-se em um cabo de vassoura que servia de apoio por causa de uma operação recente na bacia cervical, Silva permaneceu em pé durante toda a apresentação e aplaudiu sorrindo ao final.
Cheirando cola
Poucos minutos depois do inicio do espetáculo, às 19 horas em ponto, cerca de 15 meninos e meninas de rua estavam sentados à frente do público, envoltos em cobertores. A maioria, negros. Alguns cheiravam cola de sapateiro em saquinhos plásticos. “É a primeira vez que vejo teatro na Sé”, disse Agostinho Manoel, 12 anos. Ele pertence ao grupo de menores que tem ainda Corina, 15 anos, e Fábio, 12 anos. “A gente dorme nas ruas do bairro da Liberdade”, afirma Agostinho.
Ex-detento da Febem, abandonado pelos pais desde os 7 anos, Josivaldo Aparecido da Silva, 23 anos, conhece a Praça da Sé como a palma da mão. “É superlegal ver este grupo aqui, se apresentando de graça para o povão”, elogia. Na sua opinião, a temporada do Tumc serviu como recreação para os meninos e meninas de rua donos de vidas bastante atribuladas. “Os policiais espancam, a Rota mata diariamente e ninguém fala nada”, acusa.
Deus e o diabo
Por pouco – cerca de 50 metros – “O Capeta” não trombou com os evangélicos da Igreja Sê Livre. Enquanto na roda do Tumc um cavalo que nasceu com cabeça humana casa com uma moça que pegou a doença do coqueiro e não cessa de crescer, o círculo dos pregadores do grupo Heróis da Fé ouvia as “lições” do pastor Arnaldo Albuquerque, 49 anos. “Aqui não é um picadeiro; é lugar de o homem ouvir a verdade nua e crua”, vangloria. “Aqui em Caruaru felizmente não existem as falcatruas da Saúde”, envaidece o prefeito António Conselheiro na peça do Tumc, comparando sua administração ao ministério comandado por Alceni Guerra. Neste embate pacifista, até que ponto ficção é realidade, e vice-versa?
Convidado especial
O espetáculo da última quinta-feira, acompanhado pela reportagem do Diário, foi dedicado ao diretor César Vieira, fundador do grupo União e Olho Vivo, que completa 25 anos em março. “A peça tem técnica de teatro popular e consegue cativar o público”, analisa Vieira, 49 anos. Ele foi convidado pelo diretor do Tumc, Adamilton Andreucci Torres, 38 anos, autor de uma tese sobre o União e Olho Vivo. Na opinião de Vieira, o trabalho do grupo mogiano segue um caminho de recuperação da arte popular. Cita, como exemplo, o número de pessoas que assistia a “O Capeta” na praça da Sé, cerca de 350. “Garanto que poucos teatros contam com um público destes na platéia.” Hoje, um ingresso custa em média Cr$ 6 mil.