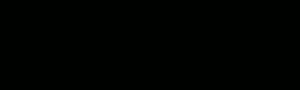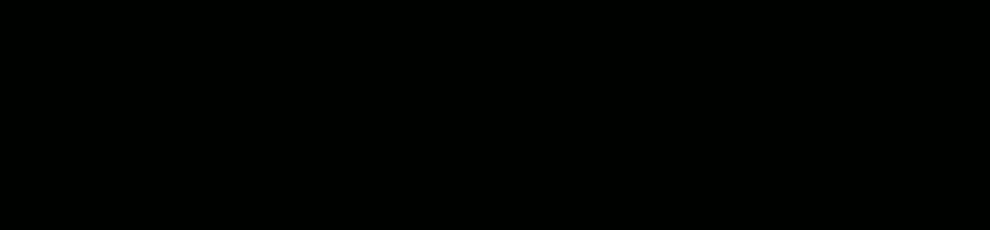Publicações com a tag:
“Diario de Mogi"
“Prova de Fogo” atiça utopia juvenil
26.10.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 26 de outubro de 1997. Caderno A – 6
VALMIR SANTOS
São Paulo – Passaram-se quase 30, anos, e 1968 continua dando o que falar. “Prova de Fogo”, a primeira peça de Cansuelo de Castro, foi escrita naquele ano. O texto, agora encenado pelo grupo Teatro da Universidade de São Paulo (Tusp), soa datado em boa parte do seu conteúdo ideológicó. Bill Clinton visitou o Brasil há poucos dias e não se viu grandes mobilizações anti-imperialismo ianque, como se rotulava o bicho-papão capitalista em tempos idos.
Descontado o blablablá infinitesimal sobre os papéis hístóricos da esquerda e da pequena burguesia, o que realmente continua chamando atenção em “Prova de Fogo” é a inconformação pungente dos seus personagens. Três décadas atrás, os estudantes não precisavam de minissérie televisiva para sair às ruas.
A força da união, com perdão do clichê, é a essência da peça de Consuelo de Castro. Seu olhar é coletivo. Quando cria atalhos para os relacionamentos amorosos, os diálogos perdem o brilho. Os paralelos pessoais, mesmo resvalando no comportamento da geração 68 (virgindade, aborto e fidelidade, remas recorrentes), são ofuscados pelo eixo político-social.
Nesta seara, Consuelo revela domínio pleno. Ela tinha 22 arios quando deu à luz sua primeira peça. Engajada no movimento estudantil à época, a autora escreveu do olho do furacão. A montagem do Tusp, sob direção de Abílio Tavares, privilegia esta tensão e centra fogo no coletivo.
São 28 atores, boa parte deles universitários sequer nascidos em 1968. No geral, demonstram pouca intimidade com a arte da representação. As marcações de cena são visíveis; toda a movimentação é rígida, “dura”, inclusive nas poucas coreografias.
A “moldura”, que esconde muito da espontaneidade, é compensada pela energia bruta do “coro”. É ali que Tavares explora toda a potencialidade desses jovens aguerridos. A rebeldia juvenil como conteúdo humanista está na intenção dos gestos; nos gritos de guerra; na disparada pelo palco-corredor do prédio da rua Maria Antonia, mesmo local onde se deu o conflito em 1968.
Um grupo de estudantes ocupa a Faculdade de Filosofia e Letras da USP (hoje endereço do Centro Universitário Maria Antonia). Protestam contra a reforma educacional do governo e endossam o descontentamento dos operários no País. A polícia dá ultimato de três dias para o prédio ser abandonado. “Prova de Fogo” se passa nesses eternos três dias, cruzando ficção e realidade.
Os universitários não cedem. A polícia, truculenta ao dobro naquela época, porque balizada pelo regime totalitário dos militares, invade o prédio e prende pelo menos 80 estudantes. Antes do cerco, a repressão havia matado um estudante que participava de uma passeata.
Abílio Tavares foi muito feliz na abertura e fechamento do espetáculo, com Luis (Milton Gruppo Jr.), o estudante assassinado. Primeiro, ele surge ingressando na escola. Depois, se despede para, em seguida, morrer estirado no chão. Nas duas ocasiões, sempre com o “testemunho ocular” da bandeira do Brasil. Passado e presente se encontram com recursos cênicos simples e eficientes.
A história de Consuelo de Castro parece um roteiro de filme, tanto impõe-se a ação, do início ao fim. Na montagem, destacam-se o cortejo das mães e a cena da invasão, com o corre-corre, gritos, tiros e bombas de gás simulados pela coreografia e pelo espocar de bombinhas.
Não há grandes intepretações. Álvaro Franco (Zé Freitas) tem o melhor desempenho, colocando bem a palavra, fazendo conciliar os lados Don Juan e revolucionário do líder dos estudantes. Dar peso e cadência às falas é o que falta a Cléuma Nunes Argolo (Júlia). O papel de amante e opositora em causa comum constitui, em si, um desafio que não é vencido em sua plenitude, por causa do desperdício das pausas. Boa surpresa Marília de Santis (Vilma) cantando ao violão. Idem para o bêbado de Regis Salvarani (Alberto), bambeando com segurança, sem fazer uso da caricatura. Quando atira sua arma imaginária contra as mazelas, apontando para a piatéia, esta engasga o sorriso com um silêncio pertubador.
Em 1993, Aimar Labaki montou a mesma peça, no mesmo local. O público seguia os atores em algumas salas do prédio. Com elenco maduro, por assim dizer, o espetáculo investia mais na interpretação. Havia densidade nas cenas.
Aqui, na “Prova de Fogo” do Tusp e Abílio Tavares, importa mais o trânsito, a “ponte” de uma geração reprimida, mas inquieta, para uma geração Coca-Cola, “livre” mas amorfa. Caíram os muros, os “ismos”. E os 28 atores que picham a parede, urram e aplaudem-se ao som de Legião Urbana estão a reivindicar todo o tempo do mundo. Infelizmente, a urgência dos tempos está aí. Por um instante, movido pelo impulso daqueles estudantes, a utopia parece se instalar. Contudo, é sair do teatro e lá vêm as imagens da exposição, no próprio saguão, das fotos terríveis de corpos de judeus mortos pelo regime nazista… Ontem, hoje e sempre?
Prova de Fogo – De Consuelo de Castro. Direção: Abílio Tavares. Com Tusp (Mariana Voos, Pedro Luis Sanches, Alexandre Lima, Anderson Silva Lins, Andréa Reis etc). Segunda a sábado, 21h; domingo, 20h. Centro Universitário Maria Antonia (rua Maria Antonia, 294, Santa Cecília, tel. 255-5538) R$ 10,00 e R$ 8,00 (sexta) 100 minutos.
“Peep Show” diverte sem compromisso
São Paulo – O descompromisso é a própria razão de ser de “Peep Show”. Um musical? Uma revista? Um show? Todos. O espetáculo parece o tempo todo em cena aberta. As 17 moças e os três rapazes dão conta de entreter com pouco samba no pé e muitas gags em torno do universo dos peep shows – cabines onde as garotas fazem striptease mediante depósito de ficha no caça-níquel (“Paris Texas”, 1976, o filme de Win Wenders, propagou este ícone voyeur).
Os diretores Maurício Morais e Marcos Botassi instalam um clima de boate no palco. Melhor, estendem o agito até às poltronas. Entra-se no Teatro Hilton e lá estão as peeps, as dançarinas voluptuosas em suas plumas e peças diminutas.
A história trata das tentativas ingratas de um cliente, Joel Jubileu (Antonune Nakhle), na escolha da moça que se encaixe no seu objeto do desejo: aquela que saiba sambar com molejo original.
Quem comanda a casa é Tânia Tubarão (Eliete Cigarini). Sob suas ordens, as garotas encarnam fantasias para atender ao menu de homens exigentes. Assim, Rose Rímel (Adriana Mattos), Pamela Power (Cibele Cavalli), Priscila Pistache (Cláudia Cavalheiro), Tina Thinner (Heloísa Nur), entre outras, vão desfilando suas “qualidades” para um insaciável Joel Jubileu.
Em meio ao périplo do cliente, desenrola-se a disputa pelo “ponto” das garotas, a chegada de “carne nova”, Fifi Frontal (Christina Guimarães) e o galentaio do soldado Rigobelo; (Tico D’Godoy).
Peep Show – De Maurício Morais e Marcos Botassi. Com Andréa Duque, Paula Miroe, Paulo Mendes, Veridiana Toledo e outros. Sexta e sábado, meia-noite. Teatro Hilton (rua Ipiranga, 165, Centro) R$ 20,00.
Evento reflete falta de processo efetivo
12.10.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 12 de outubro de 1997. Caderno A – 3
VALMIR SANTOS
Maisuma Mostra Escolar de Teatro. A quarta edição do evento representa o esforço do diretor de Cultura, Denerjanio Tavares de Lyra, no exercício da manutenção da cena mogiana. Infelizmente, a realidade conspira sem muito alento para este que é mais um dos eventos temporões aos quais a cidade se acostumou nos últimos anos.
O projeto Oficinas de Inverno, sempreem julho, o carro-chefe da Cultura, é o melhor exemplo desta concentração que não aponta nenhum caminho, a não ser o da fragmentação, do estilhaçamento de qualquer processo criativo.
Ou alguém ainda acredita que um oficina de iniciação teatral de um mês torna qualquer pessoa capacitada para subir ao palco e dizer a que veio? Falta, e sempre este crítico insistiu na tecla, um trabalho efetivo que fundamente o ofício de ator. Na cidade, temos um esboço do TEM e do Tumc. Cada um a seu modo, Clarice Jorge e Adamilton Andreucci Torres disseminam suas utopias possíveis – ou não.
Para a consolidação de um grupo teatral, de escritores, de artistas plásticos, de músicos, enfim, qualquer que seja o chão de estrelas, o tempo é precioso. O amadurecimento criativo por vezes dura uma geração. Nada surge do acaso.
Teatro escolar raramente dá em bom teatro. O que se espera de uma mostra como a que começa quarta-feira é justamente o mínimo da aventura do palco, do mergulho artístico para trazer à baila a magia da comunicação ator-público. Um pouco desta aventura foi proporcionado em mostras anteriores, com destaque para os trabalhos ancorados por Robson Santos e de Eliene Rodrigues.
Grupo de Brecht exorciza crise
12.10.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 12 de outubro de 1997. Caderno A – 4
VALMIR SANTOS
São Paulo – Problemas, problemas, problemas… Quer na boca do primeiro-ator do grupo, Martin Wuttke, 35 anos, quer na boca do assistente de direção, Stephan Suschke, 36, trata-se da palavra mais repetida quando o assunto diz respeito ao Berliner Ensemble. Da “sombra” do seu fundador e ideólogo, Bertolt Brecht (1897-1956), passando pela marcação cerrada dos herdeiros, pelo patrulhamento político-ideológico após a queda do Muro de Berlim (1989), até o recorrente aperto financeiro, enfim, vários são os obstáculos enfrentados pela lendária trupe alemã criada há 48 anos.
São notas destoantes tocadas sem constrangimento, aliás com muita transparência, por Wuttke e Suschke, na conversa com os jornalistas brasileiros na quarta-feira passada, véspera da estréia de “A Resistível Ascensão de Arturo Ui”. A montagem foi encenada quinta e sexta, no Teatro Sesc Anchieta, e marcou a primeira turnê do Berlilner Ensemble pelo País, com apoio do Instituto Goethe.
Wuttke fala dos problemas com conhecimento de causa. Ele foi diretor artístico da companhia durante nove meses, logo depois da morte de Heiner Müller, no final de 1995, que inclusive assina a direção do espetáculo apresentado em São Paulo. Wuttke abdicou do cargo justamente por causa da “canonização” que ainda cerca a obra do dramaturgo alemão.
“Os herdeiros da família de Brecht e muitos políticos ainda vêem a obra como se fosse um museu. Quem tem idéias novas encontra muita resistência”, argumenta o ator.
No contexto ideológico, o entrave é a revisão histórica pela qual o mundo geo-político vem passando nos anos 90. Para Wuttke, o teatro político como instrumento revolucionário não se sustenta mais com o panorama atual. Uma alternativa, destaca o ator, seria encontrar uma terceira via, fiem à esquerda, nem à direita, que permita um novo ponto de vista.
Por trás dos seus óculos escuros, com pinta de ator cinematográfico, Wuttke aprofunda sua análise. Na cena alemã, o Berliner Ensenble constitui uma das últimas resistências ao chamado “teatrão”, aquele que reza segundo o lucro comercial. “Hoje, nossos palcos correm atrás dos sucessos da TV e do cinema”, critica.
Conseqüentemente, mudou também a percepção do público. Antes do Muro cair, predominavam os espectadores do lado oriental da cidade. Hoje, a platéia é formada basicamente por gente que tem o olhar ocidental como parâmetro de espetáculo. “Antes, comprava-se cinco ingressos com o valor de uma camiseta. Hoje, o custo de cinco camisetas equivale a um ingresso”, compara o assistente de direção, Stephan Suschke. Ao que parece, o périplo para se levar uma montagem ao palco, nos tempos que correm, é tão comum aqui quanto lá fora.
E por falar em dinheiro, os representantes do BE não revelam o valor, mas garantem que o subsídio do governo alemão reduziu consideravelmente nas últimas temporadas. Para manter uma equipe média de 30 pessoas, incluindo o elenco de 22 atores, é preciso muito fôlego administrativo. O que Wuttke provavelmente percebeu, decidindo canalizar toda sua energia para o palco – o empreendimento, no caso, é de grande montagem, mas condizente com sua condição de artista maior, corno os críticos do seu país reconheceram quando da estréia de “Arturo Ui”, em 1995, outogando-lhe o prêmio de melhor ator daquele ano.
Wuttke, é claro, não chegou a conhecer Brecht. Ele não mitifica tanto as teorias do homem que catalisou a revolução teatral na Alemanha pós-guerra. Na sua opinião, a técnica do distanciamento se tornou lugar comum em qualquer montagem nos quatro cantos do planeta, como uma incorporação elementar. “Um personagem mau tem que ter algo de bom também, e vice-versa. Se for uma, coisa só, fica muito chato”, explica. Ele faz bagle das milhares de toneladas de papéis gastos em livros que mais teorizam sobre o distanciamento do que realmente o levaram à sua prática.
Peça adapta gângster para o regime nazista
São Paulo – “A Resistível Ascensão de Arturo Ui” foi escrita por Brecht em 1941, durante o exílio na Finlândia. Ele se inspirou na Chicago de Al Capone e suas guerras de gansters para reproduzir sua época e o período nazista. Goebbels, o homem que ascendeu Hitler, por exemplo, é um dos personagens mais explícitos.
A crítica de Brecht, porém, transcende o nazismo. O dramaturgo quer desacreditar também a sociedade sem escrúpulos, dominada por egoístas e arrivistas, o mundo sem solidariedade do capitalismo.
“Arturo Ui é um papel fascinante. Ele é um bom entretainer”, observa o intérprete Martin Wuttke. A turnê brasileira do Berliner Ensenble foi desfalcada pelo ator veterano Bernhard Minetti, 90 anos,com problemas de saúde. Sua performance no papel de Ator (dentro da peça) é uma das mais elogiadas pela crítica teatral alemã.
O BE foi fundadopor Helena Weigel e Brecht em 1949. Após a morte do autor, em 1956, Helene continuou seu trabalho. Como sucessores dela, passaram pelo grupo Ruth Berghaus e Manfred Wekwerth – até que no início da temporada 1992/93 o BE foi transformado de teatro municipal em companhia limitada.
Wuttke comanda espetáculo
São Paulo – Não foi por acaso que Charies Chaplin associou o seu célebro personagem Carlitos à figura de Adolf Hitler. Há muito de cômico na expressão gestual do ditador. A começar pelo bigodinho indefectível. Pois o ator Martin Wuttke e a encarnação dos dois no papel de “A Resistível Ascensão e de Arturo Ui”.
E ele, Wuttke, o dono do espetáculo. Nas apresentações do Berliner Ensemble no Teatro Sesc Anchieta, quinta e sexta-feira passadas, o que se viu foi um trabalho esmerado de ator.
Wuttke traduz em trejeitos, cacoetes e andar manco a personalidade esquizofrênica do mafioso criado por Bertold Brechet. Um texto interpretado em alemão, com tradução simultânea, e ainda assim o ator vence a barreira da língua para ter o público em suas mãos. Não foram poucas as gargalhadas em quase três horas de encenação.
A montagem de “Arturo Ui” por Heiner Müller é estupenda pela matéria-prima humana. Em cena, 22 atores tarimbados, de técnica apurada, com destaque para Hermann Beyer (Roma), Stefan Lisews ki (Dogsborough) e Michael Altmann (ator).
Espetáculo abençoa a imagem como ela é
São Paulo – “Uma contradição dialética, sem síntese”.
A frase que o Papa/Zé Celso diz no canto 2 dos seus “soluços” capta muito bem a alma deste artista seminal e controverso da cena teatral brasileira. Seu espetáculo mais recente, “Ela”, expõe um ator e encenador em plena forma, a sustentar sua arte no corpo quebradiço pelos 60 anos, humano que é, mas alicerce do Teatro Oficina.
Expõe não, escancara. É na porralouquice, na quebra de qualquer resquício de organização, de ordem, num alheamento ímpar, que a companhia Uzyna Uzona conspira para fazer valer a energia bruta da atuação. A marca dionisíaca, como em “Ham-let” ou “Bacantes”, está lá no “corredor” arquitetado por Lina Bo Bardi. Qual espetáculo deixaria o público esperando do lado de fora, cerca de 50 minutos, enquanto atores e cenógrafos estão a pendurar no teto do teatro os retratos gigantes de Cacilda Becker e João Paulo 20, ambos decorados com bexigas douradas, reluzentes? Claro, não há nada de vanguarda nisso. Ao contrário. Na estréia houve gente que até reclamou. Assim que abriram-se as portas, porém, o que importava então era a festa.
“Ela” começa, enfim. A sensação de faxina que a cenografia imprime condiz com a “limpeza”, o “enxugamento” do elenco. Não está em cena o jogo coletivo, a ocupação desesperada do espaço, mas a fluência requerida de cada um dos intérpretes. A exigência é maior.
José Celso Martinez Corrêa, Zé Celso, serviu de epicentro no mesmo dia em que seu personagem real beijava o solo do Rio de Janeiro. Sob o signo de Jean Genet, ou São Genet, dramaturgo francês morto em 1986 (“O Balcão”, “As Criadas”, “Pombas Fúnebres”), o ator surge vitalizado, senhor absoluto do espetáculo.
Em suas vestes papais, alvas; em sua máscara facial que equilibra a expansão de um Marcel Marceau (Bip) ou a introspecção de um Kazuo Ohno, Zé Celso canta, dança e domina o verbo com envolvimento. De onde quer que se sente, mesmo quando a visão é prejudicada pela estrutura da arquibancada, é impossível não prestar atenção nele.
O Mestre de Cerimônias (Marcelo Drummond) recepcina o Fotógrafo (Fransérgio Araújo) para tomar imagens do Papa (Zé Celso). Um Cardeal (Vadim Nikitin), um doidivanas, chega a ser confundido com Sua Excelência. Os quatros, sobretudo os três primeiros, estabelecem diálogos em que predomina o tom filosófico, existencial.
“Se são meus olhos, não será Ela. Se é Ela, não serão meus olhos”, divaga o Mestre de Cerimônias, numa performance segura de Drummond, um cecerone diante da platéia. “Só porque sou Papa não passo de pose?”, dispara Zé Papa, preocupado em encontrar um ângulo que o aproxime mais de Deus – de olho nos 15 milhões de “selvagens” que esperam pela graça dos santinhos. A imagem, Ela, só é atingida quando Zé Papa senta no penico. Mas “papa não tem c…”, desconsola-se.
As melhores passagens acontecem nos “soluços” divididos em cinco cantos. Os três declamados por Zé Papa destacam-se pela presença cativa do ator – movimentos leves, inclusive tocando ao piano, como num musical da Broadway nos anos 50.
Bastante oportuna a montagem. “Ela” destoa do coro hipócrita da Imprensa em torno do poder do Vaticano. “Ela” celebra Genet em seu corte mais uma vez profundo de um modelo hegemônico de sociedade que tanto desprezou em vida, sob a perspectiva do porão, do subsolo. “Ela” faz as pazes de Zé Celso com a cena aberta em grande estilo, com o público nas mãos, sem necessariamente tangenciá-lo.
“Ela” é o risco equilibrado de quem perscruta os assim chamados deuses do teatro. Atirando-se contra a falta de dinheiro, o desamparo do Estado. Aventurando-se na maravilhosa contribuição dos erros e acertos que fazem de cada apresentação uma experiência única. Nesse terreno, Zé Celso é a benção em pessoa.
Ela – De Jean Genet. Direção: José Celso Martinez Corrêa. Com Cia. Uzina Uzona. Quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. Teatro Oficina (rua Jaceguai, 520, Bela Vista, tel. 604-0678). R$ 20,00. Às quintas, todos pagam meia. No próximo, excepcionalmente, não haverá sessão. 90 minutos.
Walderez faz uma Medeia memoravel
5.10.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 05 de outubro de 1997. Caderno A – 4
Atriz é destaque da montagem dirigida por Jorge Takla e centrada no mito datragédia grega
VALMIR SANTOS
São Paulo – Começa o espetáculo e Medéia respira fundo, arranhando o silêncio que é quebrado logo em seguida, com uma sequência verborrágica de tirar fôlego, literalmente. O prólogo de Walderez de Barros, no papel-título, escancara para o público, de chofre, que estamos diante de uma avalanche de emoção de estado bruto – e lapidar.
Uma verdadeira dama do teatro brasileiro, a fazer páreo com uma Fernanda Montenegro, uma Marília Pêra, Walderez é o álibi mais convincente do diretor Jorge Takla para a abordagem do mito na adaptação que fez para a tragédia grega. Takla visita os textos de Eurípedes e Sêneca para singrar o homem moderno e iluminar suas vicissitudes.
A Medéia que Walderez mostra é menos a mãe assassina, capaz de pôr fim à vida de seus filhos em nome do amor. Expõe, sim, a permissividade da alma em sua queda. Mata para punir Jasão, o marido que a troca por uma princesa. “Quero que eles sejam filhos de rei”, justifica um Jasão calculista, frio até à medula no seu invólucro de sábio. No trânsito entre os limites da loucura e da razão, Medéia é movida pelo coração que bate em seu peito.
Sabe-se que clássicos não são para qualquer um. Paulo Autran esperou anos a fio para chegar aos pés de Rei Lear, levado à cena em temporada recente. Claro, Walderez não abraçou Medéia por acaso. No palco do Sesc Anchieta, cada gesto, cada olhar, cada palavra a propagar pelo ar, tudo reverte em esplendor, em arrebatamento. Walderez é vibrante. Com seu corpo entranhado na personagem, resta o desequilíbrio atordoante, o transe diante do horizonte finito. Nada é desperdiçado.
Na “Medéia” de Takla, ela é epicentro. O determinismo masculino da tragédia é como que dissimulado pela presença da atriz. Jasão (Francarlos Reis), Creonte (Oswaldo Mendes) e o Coro (seis rapazes) giram em torno da mãe-esposa-abandonada, depois expatriada, desolada. E tamanha a presença e a força de Walderez em cena, que a memória pesca a “Des-Medéia” de Denise Stoklos, aquela que dá a volta por cima e vira o jogo. Mas os mitos são mitos…
Como diretor de óperas, também, Jorge Takla dá um tratamento etéreo à montagem que confere com uma perspectiva contemporânea da tragédia. A luz que assina ao lado de Davi de Brito, imprime um visual difuso no tempo e no espaço. O cenário de Charles Moeller, com suas portinholas e paredes de reboco, também acentuam essa distensão. O deslocamento do Coro e sua interação com os personagens centrais tangencia a ação com fluência.
A montagem de “Medéia” conquista pela sua limpidez e concomitante visceralidade. Consegue ser funcional sem aborrecer. Emociona pelo que há de mais sagrado no teatro: o ator. A diva Walderez de Barros, esbanjando maturidade, leva nas costas a grandiosidade do papel e a responsabilidade de ter o público nas mãos, do início ao fim. Melhor: transcende, porque sua Medéia é memorável.
Medéia – De Eurípedes e Sêneca. Adaptação e direção: Jorge Takla. Tradução: Mário da Gama Kury. Com Carlos Teixeira, César de Castro, Eliézer de Souza, Kao Monteiro, Otávio Juliano, Rodrigo Lombardi e outros. Quinta a sábado, 21h; domingo, 19h. Teatro Sesc Anchieta (rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, tel. 256-2281). R$ 20,00 e R$ 10,00 (comerciários e estudantes). Até 2 de novembro.
|
“Noturno” quer expurgar a modernidade |
São Paulo – Nos seis anos de intervalo da estréia do musical “Noturno”, as mudanças pessoais não foram menos aceleradas do que as globais. Em 1991, a bandeira da paz e amor a la anos 70 já se mostrava defasada com os tempos de individualização sem fim. Agora, na reestréia, a sensação é de que o roteiro assinado e dirigido por Oswaldo Montènegro continua navegando contra a corrente.
Na cruzada contra “a modernidade clara”, contra “o mundo conformado”, o cantor e compositor de “Bandolins” faz um libelo à existência poética. Ou sseja, quer através da música transmitir toda uma filosofia de vida canalizada para o prazer.
“Noturno” exorciza a velocidade com o que resta de utopia possível. Desacelera para dar espaço ao sonho, à arte por extensão.
É uma pretensão e tanta para uma platéia que beira o histerismo a cada canção, urrando e aplaudindo como se num auditório de programa de TV.
A contradição, que se dá também dentro do palco, no elenco gigante de 60 jovens bastante esforçados – e empolgados – enfim, a contradição reflete o próprio estado de coisas a que chegamos: centenas de adolescentes assistem ao que não têm condições de colocar em prática na vida real, por impotência, que seja, diante do “sistema”.
Como numa das falas do texto, os espectadores de “Noturno” são jovens que, em sua maioria, saem à noite para procurar o que nunca vão encontrar. Não é à toa que o espetáculo lembra, em algumas passagens, o similar que marcou época pelo seu conteúdo revolucionário: “Hair”, que chacoalhou o status quo norte-americano na década de 60, em oposição à Guerra do Vietnã.
Mas a “revolução” de “Noturno” não é tanto de ordem política ou estrutural; é iminentemente pessoal, interior, de dentro para fora.
Quanto à montagem, de volta ao cartaz no Teatro Dias Gomes, mantém muito da concepção original. Não há, como nos últimos musicais que vêm sendo apresentados nos palcos brasileiros, aquele virtuosismo técnico ou mesmo exarcebação estética.
Pelo despojamento das cenas e pela exploração dos espaços além-palco, “Noturno” se assemelha a um trabalho circense, onde a performance física dos atores é exigida a todo instante.
LEITURA
Os quadros não seguem, aparentemente, uma narrativa uniforme. São músicas/histórias independentes, em que a leitura se dá mais pela interpretação vocal e pela movimentação coreográfica – esta muitas vezes “poluída” e ainda presa a uma marcação mecânica.
Quando se deixa levar pela dramatização, sempre recorrendo à comédia aberta, como em “Surfistas de Cristo”, o resultado é regular.
Falta um processo mais profundo nas atuações. Sobra caricatura gratuita, porém cara à hegemonia do projeto. A Oficina dos Menestréis, comandada por Deto Montenegro (irmão) e Candé Brandão, explora nos cursos de ator o reflexo, a percepção e a intuição.
No palco, em nome do que pode ser uma valorização obsessiva do gesto e do movimento, dá a impressão de que “malhar” importa mais do que “atuar”, quando deveria ser o contrário.
“Noturno” se sustenta mesmo pela música. Maior evidência disto é o lançamento do CD com as 19 canções do espetáculo, com letras de Oswaldo Montenegro, Peter Gabriel, U2 e Prince (ops, ex), entre outros.
As interpretações de Tania Maya, Estela Cassilatti, Débora Reis, Eduardo Costa e Marcelo Palma traduzem na voz o espírito libertador proposto pelos autores. Em especial o trio feminino arrebatador – Tania Maya, ressalta-se, é a Enya brasileira, com toda a sua peculiaridade preservada, como se viu em recente participação no show do “padrinho” Oswaldo Montenegro.
Noturno – Direção: Oswaldo Montenegro. Com grupo Oficina dos Menestréis. Segunda a terça, 21h. Teatro Dias Gomes (rua Domingos de Moraes, 348, próximo ao metrô Ana Rosa, tel. 571-6177). R$ 15,00. 75 minutos.
“Divers/Idade” traz crítica passional
14.9.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 14 de setembro de 1997. Caderno A – 4
Nelson de Sá lança coletânea de textos sobre a cena teatral na metade dos anos 90
VALMIR SANTOS
São Paulo – Em cerca de nove anos de crítica, Nelson de Sá conseguiu imprimir um estilo bastante adverso dos seus contemporâneos e predecessores na análise jornalística do teatro. Sua atitude pouco condecendente cóm a chamada classe teatral, esquivo ao paternalismo macarrônico, é um diferencial que depõe em favor de uma ética mais do que jornalística, pessoal.
Se Frank Rich, o crítico do “New York Times”, é conhecido como “o açougueiro da Broadway, como Sá gosta de lembrar, este seria então o equivalente no jornalismo brasileiro, guardado o devido tom sensacionalista. A contundência e a sem-cerimônia com que assina suas críticas na “Folha de S. Paulo” lhe rendeu, como se praxe, muitos “inimigos”. Mas, por outro lado, o respeito também fundamentou-se.
O distanciamento do personalismo afetado de autores, diretores e atores, laureados até final dos anos 80, permitiu ao crítico se ater somente ao objeto artístico, ao espetáculo em si. A troco de muitas réplicas, de muitas cartas desaforadas, de muita bílis destilada, o jornalista da “Folha” acabou diluindo um pouco da cultura protecionista em relação aos artistas de teatro. Chega de piedade e vamos à arte, que é o que interessa, parece ter exclamado.
Quando começou a escrever sobre teatro, Sá estava na casa dos 27, 28 anos. Em função da idade, trazia um desprendimento para transmitir ao leitor, alvo confesso, o que pressupunha verdade, por mais que às vezes subjetiva. Escrever para um jornal que endeusa a objetividade também foi – e continua sendo – desafio e tanto.
Teatro é arte de uma humanidade infinita. Sintetizar a apresentação de uma peça com olhar hermético é sacrificar sua essência. Nelson de Sá surge na platéia sempre munido de bloquinho, anotando falas/falhas. Se deixa respaldar pela técnica, obviamente, mas a percepção aguda está lá, antenada com a emoção.
Não faz o gosto não gosto. Mas não tem pudor algum em concluir que uma peça é chata. Tampouco se esquiva da beleza de uma Bete Coelho, elogiando-a como bela, sim. Conceitos subjetivos, vale lembrar de novo, sobrepostos ao padrão jornalístico. Ele, crítico, também se permite um pouco espectador. Sentimento e razão, eis a dupla via.
São considerações preliminares de quem acompanhou, na primeira metade desta década, boa parte das críticas publicadas na “Folha”. Elas estão agora compiladas em “Divers/Idade – Um Guia para o Teatro dos Anos 90”, lançamento da editora Hucitec. Aqui, Nelson de Sá reúne seus principais textos e produz um instantâneo do que se está levando nos palcos do Brasil e do mundo. A “orelha” é assinada por José Celso Martinez, enquanto a fotógrafa Lenise Pinheiro responde pelo rico material ilustrativo.
De 90 a 96, o exercício da crítica representou também o amadurecimento do jornalista. Antes, Sá conheceu Miroel Silveira, trabalhou com Paulo Francis. Se angustiou pela influência “avassaladora” de Décio de Almeida Prado, 80 anos, o pai da crítica teatral brasileira. Essa formação é descrita no último texto do volume, adaptação de palestra sua no Festival Internacional de Londrina.
Em 479 páginas, acompanhase o esforço obsessivo de Sá em interpretar para onde estão soprando os ventos do teatro. Esta ânsia pelo novo, pelo crítico-antena a que se propõe, baliza o trabalho do jornalista na “Folha”.
Algumas questões lhe são pertinentes. Na virada dos anos 80 para os 90, a estética visual cedeu espaço também para o verbo, numa valorização da dramaturgia. Como sintoma maior, o crítico cita a morte do encenador polonês Tadeuz Kantor, em dezembro de 1990, fonte da qual Gerald Thomas bebeu até a última gota.
Nessa guinada para a dramaturgia, portanto, despontam revival de Shakespeare e Nelson Rodrigues. Na esteira, surgem nomes na cena brasileira, como Luís Alberto de Abreu, Fernando Bonassi, Beatriz Azevedo, Hugo Passolo, Bráulio Tavares.
O critico também identifica a retomada de um teatro popular calcado no rito religioso. Encenadores como o pernambucano Romero de Andrade Lima (“Auto da Paixão”), o mineiro Gabriel Villela (“Rua da Amargura”), e o paraibano Luiz Carlos Vasconcelos (“Vau da Sarapalha”) catalisam uma simbiose entre o erudito e o popular. E o acento religioso, cristão, transcende o regional e chega à cultura urbana nas montagens do jovem diretor Antonio Araújo (“O Livro de Jó”).
“Divers/Idade” reflete outro aspecto marcante na crítica de Sá. Trata-se de uma preocupação com o teatro que estã sendo feito lá fora. Ele costuma acompanhar temporadas em Londres e Nova Iorque e acaba servindo como introdutor de muitos nomes até então desconhecidos por aqui. Nesta era globalizada, nada mais pertinente.
Foi assim que “Angels in America”, a peça do americano Tony Kushner, começou a ganhar espaço no Brasil. Sá considera este o espetáculo-síntese dos anos 90, com sua forte temática social, política, sexual, enfim, demasiada humana. E se leu sobre o diretor canadense Robert Lapage, sobre a diretora americana Elizabeth LeCompte (que depois veio ao Brasil com seu Wooster Group). E se leu sobre o escritor e dramaturgo caribenho Derek Walcott, depois Nobel de Literatura, que reivindica a volta dos poetas ao teatro, expurgados pela cena moderna (ou pós).
Além das críticas, propriamente, o livro apresenta entrevistas e panoramas. Sá, por exemplo, costuma “visitar” a temporada carioca uma vez por ano, estabelecendo a ponte num eixo normalmente pichado pelo preconceito em relação ao “teatrão”, comercial. No Rio, como se sabe, existem ótimos trabalhos com gente como Aderbal Freire Filho, Amir Haddad, Moacyr Góes e Enrique Diaz, para citar alguns diretores.
Como o próprio intertítulo sugere, “Divers/Idade” resulta exatamente num guia para o que vem sendo feito nos palcos brasileiros e internacionais. É claro, não se pode abarcar tudo. Sá até que tenta. De quando em vez assiste a algum espetáculo “à margem”, como o fez em “Boca de Lobo”, com garotos de periferia que verteram a linguagem do rap para o teatro.
O livro constitui, por extensão, uma apreciação crítica da crítica. A coletânea de textos expõe um Nelson de Sá passional, que pulsa pelo teatro diante de tanta adversidade – há o cinema, a música e a televisão, donos do mercado cultural. A distância jornalística não bloqueia a veia teatral. Peças amadoras, cursos de dramaturgia, assistência com José Celso Martinez (“As Boas”), enfim, Sá não passa incólume. Pode-se descordar das suas interpretações, com certeza, mas “Divers/Idade” é a resposta de quem cumpre o exercício da crítica com paixão e entrega diária.
Divers/Idade – Um guia para o teatro dos anos 90 – De Nelson de Sá. 479 páginas. Fotos de Lenise Pinheiro. Lançamento da editora Hucitec (rua Gil Eanes, 713, São Paulo, CEP 04601-042, tel. 530-4532). R$ 38,00.
Um Plínio Marcos contador de histórias
31.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 31 de agosto de 1997. Caderno A – 3
VALMIR SANTOS
São Paulo – A figura de Plínio Marcos, com sua camiseta regata, seu chinelão, sua bolsa de livros, a perambular pelos teatros da Capital, no ganha-pão às próprias custas, traduz muito do espírito controverso do escritor. No curso dos 62 anos de vida, ele sempre optou pela margem, pela periferia, pela contramão.
“Navalha na Carne”, “Dois Perdidos Numa Noite Suja”, “Abajur Lilás”, “Querô” – para citar algumas -, suas peças já escancaram essa condição de artista que carrega uma bandeira. “Eu quero é contar a história da gente minha, que é essa gente que só pega a pior, só come da banda podre, o bagulho catado no chão da feira. Quero falar dessa gente que mora na beira dos córregos e quase se afoga toda vez que chove. Quero falar dessa gente que só berra da geral sem nunca influir no resultado.”
È assim que Plímo se define em “Figurinha Difícil – Pornografando e Subvertendo”, lançamento recente da Editora Senac. Neste livro, ele revela um lado pouco conhecido da sua obra. È um excelente contador de histórias, de “causos” que remontam à sua Santos natal, onde começou mais de 40 anos atrás, sob a lona de um circo. De quebra, relata episódios da sua relação sempre espinhosa com o regime militar.
“Figurinha Difícil…” vem embasar a facilidade com que o autor de “Dois Perdidos…” transita na linguagem das ruas. Uma oralidade espontânea, preenchida com uma língua afiada, ora ou outra com palavrões, sim, como convém ao povão.
Mesmo o leitor não afeito à história recente do Teatro Brasileiro vai encontrar no livro cota de humor para se entreter com garantia. Dom Hélder Câmara driblando o cerco da censura para assistir a “Dois Perdidos Numa Noite Suja”, gesto decisivo para a liberação da peça; Plínio contando sobre como caiu nas mãos de uma mãe-de-santo e foi protagonista de uma macumba numa encruzilhada movimentada de São Paulo, o que lhe rendeu uma “viagem” no camburão da polícia; a incrível saga surreal de Nego Orlando, o amigo de juventude em Santos, que expulsou um burro do campinho de futebol com um murro no animal, garantindo um pênalti para seu time; enfim, são passagens que envolvem porque rememoradas pelo autor com muita leveza.
Plínio deixa claro que uma regra em sua trajetória foi sempre caminhar, ir à luta, sem chorar as pitangas, mesmo diante das maiores diversidades que um ser humano pode passar submetido a um governo autontário. Dividido em cinco partes, “Figurinha Difícil…” é uma leitura que converge o dramaturgo, o homem e o cidadão – todos funâmbulos entre a tragédia e a comédia. A emoção em Plínio oscila nos dois extremos, daí sua riqueza.
Figurinha Difícil – Pornografando e Subvertendo – De Plínio Marcos. Editora Senac (rua Dr. Vila Nova, 228, 4º andar, tel. 236-2136. R$ 25,00.
Quem tem medo de Oscar Wilde
31.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 31 de agosto de 1997. Caderno A – 4
Monólogo traz escritor na prisão repudiando a sociedade que o condenou
VALMIR SANTOS
São Paulo – O fantasma do irlandês Oscar Wilde (1854-1900) continua puxando a coberta das seciedades hipócritas e ditas puritanas. Há 102 anos, o escritor irlandês foi julgado e condenado a trabalhos forçados por comportamento “pervertido e homossexual”. Até os dias de hoje, a sentença histórica serve como símbolo da luta pela liberdade sexual. “Oscar Wilde”, o monólogo interpretado por Elias Andreato, expõe uma “carta” do autor de “O Retrato de Dorian Gray” despachada ao seu amante e, mais abrangentemente, à sociedade que condenou.
Despachada entre aspas. Wilde nunca a enviou. Lorde Alfred Douglas, ou Bosie, como tratava o jovem por quem se apaixonou, faltou com a reciprocidade quando o caso desse “amor que ousa dizer seu nome” veio à tona. Chegaram ao conhecimento do marquês de Queensberry, pai daquele belo rapaz, correspondências na qual o remetente tecia loas ao destinatário do tipo “Tu és a coisa divina que eu desejo”.
Foi um escândalo para a época. Julgado numa Londres monarca, meca do conservadorismo de então, Wilde não teve atenuante. Ainda mais porque dono de língua afiadíssima, tão cruel e espantosamente sensata com as vicissitudes humanas (leia, nesta página, diálogo indefectível com o promotor). Custou-lhe dois anos vendo o sol nascer quadrado, submetido a trabalho forçado.
No monólogo em cartaz na ironicamente intitulada Sala Vitoriana, do Stúdio Cristina Mutarelli – um novo, pequeno e aconchegante espaço na Capital -, temos a palavra de Wilde embalsamada pelo corte refratário às regras de uma falsa moral.
Em menos de uma hora, as frases se amontoam e parecem não caber mais no palco/cela diminuto. O público de cerca de 20 pessoas, lotação máxima, espia as deduções cristalinas de Wilde quanto ao que há de mais comezinho numa relação opressora.
Frasista contumaz, o autor de “A Importância de Ser Prudente” e “Salomé”, estilhaça com lascívia e sem complacência. Exemplos:
“Nunca adorei ninguém, a não ser a mim mesmo.”
“Porque todos os homens matam o que amam mas nem todos morrem por amor?”
“A arte só começa onde termina a imitação.”
“Estamos no país dos hipócritas.”
“A arte não deve aspirar ao público; é o público quem deve aspirar à arte.”
“Eis o resultado de tê-lo enviado uma carta.”
São algumas das muitas frases jorradas por uma interpretação intensa de Elias Andreato. Ele domina o timming de cada fala. Se relaciona tranqüilamente com o pouco espaço que divide com uma poltrona, uma taça de alumímo, um varal… O ator, que vem de outro monólogo implacável, “Van Gogh”, no qual mergulhava fundo na loucura sã, volta a atingir o equilíbrio neste “Oscar Wilde”, desta vez não necessariamente com tanta introspecção. Afinal, Oscar Wilde era de uma elegância de um dândi.
Viven Buckup, a preparadora corporal que vem se dando muito bem na direção (“Para Sempre” e “Cenas de Um Casamento”), consegue aqui, mais uma vez, desfocar a montagem da figura predominante do diretor. Quanto menos aparece, mais se percebe o trabalho de Vivien, que parece dialogar com tranqüilidade com seus atores.
Atuação e texto harmonizam de tal forma que resta a limpidez do verbo ecoando nas quatro paredes – contando a imaginária. Quando mede o tempo pelo “latejar da dor”; quando condena a superficialidade das relações, sejam heteros (o casamento com Constance, aos 30 anos, foi para ele uma decepção) ou homossexuais; quando condena a unanimidade burra da opinião pública; quando ridiculariza a imprensa sensacionalista; enfim, quando raspa lá dentro de si para transformar bílis em poesia, Oscar Wilde, via Andreato, não reivindica outra coisa que não a supremacia do belo sobre o sofrimento – aquele como conseqüência deste.
Uma ode à condição de artista numa época tão adversa – época que se reproduz em novos códigos, de quando em quando -, “Oscar Wilde”, o monólogo, lapida a emoção com poder arrebatador de transferência. O autor, o ator e a cenografia do talentoso Namatame suspendem o tempo e o espaço e transpõem o espectador para aquele lugar nenhum em que o pensamento é banhado pela luz e pelo silêncio.
Oscar Wilde – Adaptação e interpretação de Elias Andreato. Direção: Vivien Buckup. Sexta e sábado, 21h30; domingo, 20h. Studio Cristina Mutarell (avenida Nove de Julho, 3.913, Jardim Paulista, tel. 885-7454). R$ 15,00. 20 lugares. Até 28 de setembro.
‘O Homem e a Mancha’ leva à introspecção
São Paulo – Caio Fernando Abreu, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea, autor de “Morangos Mofados”, também se inclinou para o campo da dramaturgia. Faz pouco tempo, estava em cartaz na Capital “A Maldição do Vale Negro”, um melodrama. Antes de morrer, em 1995, ele deixou pronto “O Homem e a Mancha”, monólogo interpretado agora por Marcos Breda, sob direção de Luiz Arthur Nunes, ambos conterrâneos e amigos de Abreu.
Morto em decorrência da Aids, o autor consegue exorcizar a doença sem mencioná-la. Prefere enveredar pelos labirintos da literatura, especificamente da dramaturgia, para produzir um texto que diz respeito ao momento pelo qual estava passando. “O Homem e a Mancha”, ao mesmo tempo, constitui um exercício instigante de introspecção.
Abreu remove a máscara e pede um ator despido de personagem. A história começa assim. Aos poucos, o ator, no caso Breda, ingressa no universo de Miguel Quesada, agora sim no plano da ação propriamente teatral. Quesada é um aposentado que abdica de viver e decide se manter recluso em sua casa – um distanciamento comparado a Proust ou Onetti, citados inclusive. Romper com o mundo lá fora é o cúmulo da interiorização; do voltar-se para si como única forma de manter-se agarrado ao fio da vida que resta.
O movimento de Quesada, um delírio em que tempo e espaço se deslocam a todo instante, deixa explícito a convivência de Caio Fernando Abreu com a doença. As crônicas, publicadas no jornal “O Estado de S. Paulo”, prenunciavam o transbordamento da sensibilidade.
Não, “O Homem e a Mancha” não é uma efeméride. Possui estrutura dramatúrgica, traz no cerne um libelo à arte da interpretação – o ator perde sua neutralidade para o personagem, e depois a recupera ao final; mas nunca se sabe onde começa uma ou termina outra.
Marcos Breda tem um desempenho comovente, uma entrega total ao texto. Com toda a pobreza dos recursos de cenografia e iluminação, à la Eugênio Barba, sobrepõe-se o seu trabalho de interpretação. Na Sala Minam Muniz do Teatro Ruth Escobar, o espaço pequeno empresta maior visceralidade na aproximação com o público.
O diretor Luiz Arthur Nunes pretende esse despojamento, como indica o espírito da obra de Abreu. Nessa pulsão onírica, em que vírus e imaginação se confundem, “O Homem e a Mancha” confessa a necessidade do outro. A chance de compartilhar com familiares e amigos, principalmente com a criação literária, foi um alento para o escritor e dramaturgo gaúcho.
O Homem e a Mancha – Sexta, 22h; sábado, 21h; e domingo, 20h. Teatro Ruth Escobar/Sala Miriam Muniz (rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 289-2358). R$ 15,00. Até 28 de setembro.
‘Hamlet’ equilibra a navalha na carne
24.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 24 de agosto de 1997. Caderno A – 4
Marco Ricca vai aos limites do personagem nesta montagem do diretor Ulisses Cruz
VALMIR SANTOS
São Paulo – Ninguém passa incólume ao príncipe Hamlet. Desde o final do século, até os tempos que correm, seus intérpretes mais veementes foram ao fundo do poço para trazer à luz o som e a fúria deste que é considerado um dos mais perfeitos personagens criados por William Shakespeare. Edmundo Kean, Laurence Olivier, John Gielgud, Peter O’Toole, Sarah Bernhardt, para citar célebres nomes do teatro e do cinema mundial, sentiram os fantasmas em seus calcanhares.
Nestes anos 90, o diretor José Celso Martinez Corrêa e sua companhia Uzyna Uzona celebraram Shakespeare no Teatro Oficina com uma montagem dionisíaca e hifenada de “Hamlet”. Zé Celso carnavalizou, com Marcelo Drummond, a cena em quase cinco horas de espetáculo. É a lembrança mais fresca da peça em palcos paulistanos.
E “Hamlet” é revisitada outra vez. Quando Ulysses Cruz topou o convite de Marco Ricca para o projeto da peça, havia uma dúvida hamletiana se o diretor radicalizaria na sua concepção pop para o bardo inglês. Quem assistiu a “Péricles – Príncipe de Tiro”, outro Shakespeare, que resgatou o público para o Teatro Popular do Sesi, sabe do que se está falando.
O forte apelo visual daquele espetáculo, com uma complexa mecânica de palco e cenários grandiosos, acabou os jovens para a tragédia que, afinal, era sua essência. No recente “Rei Lear”, outro mítico papel shakespeariano, com Paulo Autran encabeçando Ulysses Cruz surgiu comedido, talvez pela presença do ator consagrado.
Mas o”Hamlet” que se vê no palco do Teatro Sérgio Cardoso, ainda que com solos de guitarra e com a globalizadíssima “As Time Good Bye” equilibra o espírito e a palavra de Shakespeare com este final de século descartável. Mais: não tem vergonha de apontar em meio à tragédia clássica.
O “Hanilet” de Ulysses Cruz indica um momento luminoso na sua carreira. E a maior evidência da maturidade artística, em 12 anos de direção, cristalizando um processo que reconhece a importância do trabalho de ator, mas não ignora o que lhe rodea em cena, a relação espacial, física.
Alguns elementos refletem, aqui, a evolução conceitual do encenador. Os músicos que executam a trilha ao vivo retorna ao mesmo segundo plano, suspenso. O público vê e ouve os músicos. O preenchimento do espaço (plano, lateral e aéreo) se dá pela movimentação dos atores, quer em bloco ou individualmente.
Outro aspecto marcante desta montagem é a possibilidade que o diretor tem de trabalhar com atores já afinados com sua concepção de teatro. Por exemplo: Mariana Muniz, Marcos Daud e Hélio Cícero estavam em “Perícles”; Rubens Caribé e Milhem Cortaz contracenaram em “O Melhor do Homem” – direções do próprio Cruz. Nos papéis principais, tem-se Ernani Moraes (ex-Tapa), de volta à Capital como o Rei Claudius, e o primeiro-ator da montagem, Marco Ricca, na pele de Hamlet.
O perfil do personagem, transitando entre a loucura deliberada e a consciência dilacerante, remonta, de forma impressionante, aos dois últimos papéis que Ricca interpretou no teatro. A visceralidade de Paco em “Dois Perdidos Numa Noite Suja” (Plínio Marcos) e a busca utópica de Treplev em “A Gaivota” (Tchecov) estão embutidas na angústia e no desespero do príncipe da Dinamarca.
Logo na sua primeira entrada, Ricca deixa transparecer no corpo a retidão de hamlet. Seu andar é tenso, passa assim praticamente o tempo todo, como se cobrado pela força divina que vem dos céus e entra em choque com a confusão terrena. O paiem vida assusta, imagine seu fantasma! (A premissa freudiana em Shakespeare é uma leitura bastante interessante).
Uma navalha na carne. É assim quem o Hamlet de Ricca monologa com o “ser ou não ser” contemporâneo. Na boca de cena, rosto espumado, barba para fazer, a vida lhe roga um sentido… Mas, como bem afirma o Rei claudius adiante, em simulacro de comiseração movido pelo chão que lhe engole, “palavra sem pensamento nunca comovem os céus”.
Marco Ricca, 34 anos, vai aos limites que Hamlet impõe. O humor nervoso, a vigília do olhar espantado, a dor que penetra como uma faca, a composição corporal da loucura sã, enfim, as músicas ficam patentes em cada fala, gesto ou movimento.
Não é só Hamlet/Ricca quem quebra o gelo da tragédia, de quando em vez, com humor sutil. Ernani Moraes, um tio Claudius fanfarrão, e principalmente Marcos Daud, um impagável Polonius e um coveiro idem, tê m lá seu quinhão. Daud, aliás, traduziu e adaptou o texto de Shakespeare.
Na linha, pode-se dizer, cômica, destaca-se ainda Hélio Cícero (Fantasma do Pai de Hamlet e o hilário Osric, um cortesão). Plínio Soares, (Horácio, amigo de Hamlet), Rubens Caribé (Laertes, filho de Polonius), Mariana Muniz (Gertrdes, mãe de Hamlet) e Julia Feldens (Oféilia, filha de Polonius, difícil e alentadora performance desta gaúcha de 19 anos) são outros destaques de um elenco coeso.
Esta superprodução prima por uma estrutura gigante de cenário, que representa um castelo medieval mais não “polui”. Ao contrário, Ulysses Cruz e Cyro menna Barreto, responsáveis pela cenografia, atentam para a importância do espaço vazio, o vácuo como força-motriz . A iluminação de Domingos Quintiliano desenha o espaço, o tempo e o ator com uma influência raramente alcançada. Os figurinos de Elena Toscano trazem o estilo étnico-militar em voga na moda européia, sintomaticamente atemporais.
O quarteto musical (guitarra, teclados, sax eletrônico, violoncelo e flauta), sob direção de Eduardo Queiróz, interpreta a trilha sonora ao vivo, dialogando do início ao fim com a movimentação dos personagens. O tom minimal traduz a imperfeição humana em seu estado mais instintivo/primitivo.
É a grande montagem deste ano nos palcos paulistanos, até agora. Em cerca d eduas horas e meia, em dois atos, não há indício de cansaço. Tampouco é fast food, porque a densidade e o impacto não diluem. O espectador vai encontrar um Shakespeare revigorado para o teatro de hoje. “A peça é o meio pelo qual eu apanharei a consciência do rei”, deduz Hamlet, quando pede à trupe de atores recém-chegada ao reino que encene o assassinato do seu pai. É espelho do autor que Cruz, Ricca e cia. fazem refletir em direção aos olhos de uma platéia que, como na história do príncipe, também habita este “lugar cheio de truques” que é o mundo.
Hamlet – De Willian Shakespeare. Direção: Ulysses Cruz. Com Bartho de Haro, Marcelo Decária, Marcos Suchara, Nicolas Trevijano, Plínio Soares e outros. Quarta a sábado, 20h. Domingo, 18h. Teatro Sérgio Cardoso (rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 288-0136). R$ 20,00 (sexta e domingo) e R$ 25,00 (sábado). Duração: 150,00, dois atos com intervalo de 12 minutos. Censura livre. Até 15 de outubro.
“Clarisse” autobiografa arte de Renato Russo
17.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 17 de agosto de 1997. Caderno A – 3
Música do novo CD, “Uma Outra Estação”, sintetiza obra do vocalista da Legião Urbana
VALMIR SANTOS
|
|
São Paulo – Muita gente que nunca discutiu Freud e Jung em mesa de bar acabou se transformando um pouco em psicólogo de Renato Russo. Cantando à frente da Legião Urbana, em 11 anos de estrada, ele exorcizou seus fantasmas – e os nossos. Ao mesmo tempo gozou como intérprete e ícone de uma geração. Assim, seus fãs testemunham, a cada canção, uma cumplicidade acachapante. Era o irmão mais velho da turma, já disse por traduzir inquietação, rebeldia e a centelha amorosa que mobiliza todo ser no curso de uma vida.
Nos shows, na cara a tapa para a multidão incógnita, Renato Russo não poupava adrenalina. Projeto SP, extinta casa noturna, bairro paulistano da Barra Funda, início dos anos 90. Aniversário da revista “Bizz” – hoje – “Showbizz”. Legião Urbana para assoprar velinhas da publi cação. Ele rola pelo palco, se contorce todo, mastiga as folhas verdes espalhadas pelo chão, se embaraça no fio do microfone. No repertório especial daquela noite, só covers. Dá-lhe Smiths, Rolling Stones, Doors, Hendrix.
O fã torcia por baladas de “As Quatro Estações”, então recém-lançado. E o que veio da fumaça de gelo seco era um Renato lisérgico, totalmente tomado por sabe-se-lá-o-quê. Na terra em transe, era embarcar ou largar. Para aquele público pequeno, foi realmente uma viagem e tanto.
Salto para dois anos depois. Ajuventude lota as arquibancadas do Ginásio do Ibirapuera e brinca de “ôla”, levantando o corpo, esticando os braços. A pista também está apinhada. “É Legião/ é Legião/ Olê, olê, olá”, entoa o coro entorpecido como se formado por fiéis à espera do Messias. E ele vem, detonando “Que País é Este”.
Renato nunca se sentiu à vontade com essa coisa de ídolo de porta-bandeira. Mas a aura lhe perseguia o tempo todo, dado o arsenal polêmico que o poeta carregava em suas letras e na vida pessoal. Cantava “Que País É Este”, naquele Ibirapuera sequioso, quando um garoto qualquer mirou e acertou a latinha de cerveja no alvo/ídolo.
“Pára, pára”, ordenou o cantor aos companheiros da banda. Ficou pê da vida. Se sentiu vilipendiado com a agressão e se retirou do palco. O ginásio estremeceu. Mais de 20 mil pessoas não curtiram sequer uma música na íntegra e ia acabar assim o sonho de Legião ao vivo? Nada! Assovios, aplausos e novamente o coro pedia a volta de Renato. Ele esfriou a cabeça, sabia que suspender o show para uma multidão daquelas equivaleria a genocídio. Voltou, deu sermão e converteu fúria e frescura em uma das melhores apresentações da banda.
São lembranças de uma época rememorada com o lançamento de mais um disco da banda, “Uma Outra Estação”. O trabalho que estava praticamente pronto antes da morte de Renato, dez meses atrás, tem a virtude de resumir a trajetória dos rapazes de Brasilia. Ouvindo-se o CD, fica claro que o vocalista tinha “consciência” da sua partida.
É um disco emocionante. Renato surge desafinado, com voz sôfrega. Fala das dores da vida e do tratamento e luta contra a Aids – uma luta, conforme os amigos e familiares, da qual preferiu abandonar as armas.
Mas “Uma Outra Estação” não carrega na morbidez. Tem as palavras em jorro, dispensando o meio-termo,’ tocando direto nas flores e nas feridas. Renato Russo parece estar dizendo assim: “Olha, gente, estou indo embora mas quero deixar essas belas canções para vocês. Foi tudo muito legal, mas a vida éassim mesmo. E vale a pena. Ah, não se esqueçam de mim, tá”…
Para uma geração que atravessou a utopia amorosa e o vazio político das Diretas que não vingaram – e continua nesta vala social comum dos sem-fim -, a Legião Urbana preenchia parte do chão. Renato, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha, a formação inicial, quarteto-dos-sonhos-em-si, traduzia no som básico de voz, baixo, bateria e guitarra a ração/razão de esperança para um cotidiano amargo.
De cantar as mazelas do País e de sobretudo falar aos jovens de sua época com o coração, a banda foi abraçada por meninos e meninas carentes de referências. Tudo isso somado aos conflitos da impossibilidade amorosa, das pequenas imperfeições das amizades, da hipocrisia familiar e religiosa, da barra de exercer a sexualidade com plenitude, do fantasma da Aids.
As letras convergem sempre para um sentido humano. A “seita” Legião Urbana celebra o fim de todo e qualquer preconceito. A premissa de que cada um leva a vida que quer para si, desde que não vaporize o próximo, reluz como ouro no conjunto da obra. Essa mínima noção de humanismo é colírio para a modorrenta rotina moderna.
“Uma Outra Estação” equivale ao disco “Dois” (1986) em termos de poesia bruta. Há uma suavidade nessa despedida, uma melancolia angelical de solos de violão, guitarras e teclados (Carlos Trilha) a contemplar um ciclo que, com a morte do seu protagonista, chega ao fim. Faixas como “La Maison Dieu”, “Comédia Romântica”, “Dado Viciado”, “Antes das Seis”, “Mariane”, “Marcianos Invadem a Terra” e “Travessia do Eixão” são excelências roqueiras da fábrica Legião, como nos bons velhos tempos.
E a canção que melhor define a figura humana de Renato Russo é “Clarisse”. A história dessa menina de 14 anos, o seu desespero diante da vida, sua solidão, suas tentativas de suicídio, sua prisão no quarto onde o álibi dos discos e livros já não funciona mais, sua convalescença, sua tentativa de extrair lá do fundo da alma um resquício de força para tocar o barco nesta tempestade mundana…
Clarisse é Renato. A voz e o violão são autobiográficos nesta canção; um belo depoimento de um artista para seus fãs que continuam perambulando pelas ruas urbanas, já não com todo o tempo do mundo. Quem encontra apenas crepúsculo nas letras da fase terminal de Renato Russo, é porque não o aceitou como e1e era. Há aurora também.
Mesmo dizendo-se preso à gaiola, ele se despede em “Clarisse” – mais de 10 minutos – como um pássaro novo, longe do ninho, a “voar pelo caminho mais bonito”, tocando um violão triste e paradoxalmente sereno, que silencia vagarosamente – infinito enquanto dura, como ensinou Vinicius. Mesmo mergulhado no seu íntimo, carrega o olhar estrangeiro. Homossexual assumido, Renato também denuncia “A violência e a injustiça que existe/ Contra todas as meninas e mulheres”, acentuando outra vez sua perspectiva humanista. Clarisse é representante do Daniel na cova dos leões, do Eduardo e da Mônica, da Andrea Doria, do Maurício, da Natália, da Leila, do Dado viciado, da Mariane e de toda a geração coca-cola…
Conviver com a Legião Urbana e todo seu carisma foi quebrar muitas barreiras. Foi se conscientizar de um mínimo de cidadania. Foi se apaixonar e se deixar levar pelos meandros do túnel do amor que raramente dá em luz. Foi cantar suas músicas com os amigos nas ruas, praças e ônibus. Percorrer o asfalto à noite, numa esforçada perua Kombi azul, com o som no últirno volume – como sempre se recomendou nos encartes dos bolachões e CDs.
Foi ouvir “Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto” pela primeira vez e verter lágrimas. Foi assistir a um segundo show no Ibirapuera e reduzir a percepção para tachar a banda de ultrapassada, dèja-vú, e agora ter a chance da restauração, por mais hipócrita que pareça.
Afinal, quem haveria de rimar romã com travesseiro?
Bertazzo democratiza acesso ao palco
17.8.1997 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 17 de agosto de 1997. Caderno A – 4
Nova coreografia traz grupos de menores carentes da periferia e cidadãos-dançantes
VALMIR SANTOS
São Paulo – Mesmo a abundância de uma Carla Perez não traduz o repertório do corpo brasileiro. A vastidão das possibilidades corporais é maior do que nossa vã imaginação. Ivaldo Bertazzo vem batendo nessa tecla, ou nesse quadril, não é de agora. Suas idéias ganharam maior visibilidade no ano passado, através do projeto “Cidadão Corpo”, espetáculo e livro. A segunda fase vem com “Palco, Academia e Periferia – O Penhor Dessa Igualdade”, também um espetáculo, no Sesc Pompéia.
O que Bertazzo começou a fazer no ano passado, com uma éspécie de “desmontagem” corporal, percorrendo todos os ossinhos com coreografias que privilegiam a movimentação coletiva, desta vez surge ampliado em cena. Num processo que ernerge do particular para o universal, o trabalho vai de encontro à margem.
Além dos bailarinos que desenvolvem um processo mais profundo sob seu comando, e dos cidadãos dançantes, como chamam as pessoas “comuns” (profissionais liberais) que foram incorporados à pesquisa, Bertazzo convoca grupos de percussão que atuam na periferia, vindos de vários pontos do Brasil.
Toda essa reverberação, somada ao gênio musical Naná Vasconcelos, desemboca num espetáculo contagiante. A perspectiva de uma cidadania através da manifestação do corpo coincide com este momento agudo da sociedade brasileira, onde o social se tornou pauta obrigatória, ainda que bastante desprezado.
É assim que “Palco, Academia e Periferia” chama para a cena grupos como Lactomia (Salvador), Banda Bate Lata (Campinas), 16 Meninos da 13 de Maio (bairro paulistano da Penha), Favela Monte Azul (também da Capital) e Funk’n Lata (da Estação Primeira da Mangueira, Rio) – todos formados por crianças carentes que vêem no exercício da arte um alento para a sobrevivência. Cada um se apresentou por dois dias consecutivos dentro do projeto. No domingo passado, O Diário conferiu a performance do Funk’n Lata.
Os meninos da escola de samba carioca estão acostumados a se apresentar para grandes massas, em quadras ou casas noturnas onde são realizados os tradicionais bailes funk. No palco do Sesc Pompéia, o impacto da bateria foi arrebatador. A participação em si – e deve ter acontecido o mesmo com os outros convidados – constitui um capítulo à parte. Quando destoa, complementa pela diversidade verde e amarela.
Antes deste coroamento da noite, acontece propriamente o espetáculo coreografado e dirigido por Bertazzo. Durante 16 músicas interpretadas ao vivo por gente do quilate de Nelson Ayres e Rodolfo Stroeter, mais a magia percussiva de Naná Vasconcellos, e o que se descortina e uma identidade cultural, jeito brasileiro de ser.
O maculelê, a capoeira, o balé clássico, a dança moderna e até um gestual oriental, enfim, o espetáculo é um leque expressivo. Além do estilo, a diversidade é representada ainda pelo perfil corporal. São magros, gordos, baixos, altos, até gente de óculos entra na dança. Essa comum-união é uma das principais virtudes do trabalho de Bertazzo.
Ele descarta uma estética pré-estabelecida, calcada em códigos rígidos, e deixa vir à tona uma espontaneidade que aflora o jogo cênico. Daí o espírito lúdico, a celebração como um rito de festa, de encontro. Como a quadrilha junina afrancesada, um dos melhores momentos. Nada é certinho e o efeito coreográfico nasce disso.
“Palco, Academia e Periferia envolveu cerca de 190 pessoas, entre amadores e profissionais. A harmonia só foi atingida por conta de uma direção aberta e da entrega das pessoas em cena. Democratizar o acesso e desmitificar o estabelecido – as bases do projeto estão bem claras.
Palco, Academia e Periferia – O Penhor dessa igualdade – Coreografia e direção: Ivaldo Bertazzo. Última apresentação hoje, às 19h, com participação especial dos Meninos da Favela Monte Azul (SP) e Lactomia (BA). SESC Pompéia (rua Clélia, 93, Lapa, tel. 872-7700). R$ 20,00 (R$ 10,00 estudantes e comerciários).
|
“Prometeu Engaiolado” é maior que a encomenda |
São Paulo – Voz pausada, andar vagaroso, Jorge Dória se esforça para driblar as limitações da idade – 61 anos – em mais uma comédia da carreira que está completando meio século. A figura carismática do ator é a razão de ser de “Prometeu Engaiolado”, um rasgo de atuação caipira em temporada no Teatro Maria Della Costa. Pena que o tamanho do texto e a duração da montagem, deponham contra o elenco.
Diante das limitações físicas de Dória, o autor Chico de Assis e o diretor João Bethencourt fariam um bem danado se reduzissem o tempo da peça, que se torna arrastada porque todo o ritmo está praticamente nas costas de Mauro de Almeida, o Prometeu, que constrói com talento a figura de um jeca. Mas haja fôlego para carregar um espetáculo!
Eliana Barbosa, a Minervina, não ousa um milímetro além da caricatura fácil da noivinha submisa. Anna Cavazzani, com o papel reduzido da empregada, não tem sequer chance de dizer a que veio. Já Dória, o poderoso Coronel Procusto, uma mistura daqueles personagens pervertidos das histórias de Jorge Amado com o brucutu ACM, o senador, vai de encontro ao desbragado humor popular do qual o público já é conhecedor – quer no palco, quer na televisão.
Jorge Dória traz a virtude de quem domina a cena aberta com muito jogo de cintura. Quando percebe que lhe escapou uma fala ou uma marcação, não titubea em recorrer aos “cacos”, os acréscimos de supetão ao texto original. Mas quando a interpretação exige muito esforço físico, como é o caso aqui, as limitações ficam patentes.
Longe do preconceito à idade, mas quando o trabalho artístico conjuga também o desempenho corporal e espiritual, o resultado é indiscutível.
“Prometeu Engaiolado”, que nada tem que ver com a tragédia seminal de Ésquilo, é uma comédia que exige muito. E, nunca é muito repetir, um remanejamento do autor ou do diretor – ou de ambos – não traria prejuízo algum. Como está, com variações abissais de ritmo, com “brancos” constrangedores para. o potencial de Jorge Dória e Mauro de Almeida, enfim, como está é frustrante. Pelo menos foi assim na estréia.
Prometeu Engaiolado – De Chico de Assis. Direção: João Bethencourt. Com Jorge Dória, Mauro de Almeida e outros. Quinta a sábado, 21h; domingo, 18h. Teatro Maria Della Costa (rua Paim, 72, Bela Vista, tel. 256-9115). R$ 20,00 (quinta e sexta), R$ 25,00 (domingo) e R$ 30,00 (sábado). 120 minutos. Até 21 de dezembro.
Espetáculo se equilibra no caos humano
São Paulo – Depois de Fernando Arrabal, montado há pouco por alunos da Unicamp, na excelente encenação dirigida por Márcio Tadeu, outro autor espanhol filiado ao teatro pânico ganha os palcos paulistanos. É a vez de Fernando Nieva, um dos mais importantes nomes da dramaturgia contemporânea na terra de Gareia Lorca. O resultado alentador está a cargo da Companhia dos Lobos, sob direção de Marcos Azevedo, ex-integrante da Companhia de Opera Seca – leia-se Gerald Thomas.
“Trilogia da Danação”, o espetáculo, reúne três peças curtas de Nieva. São textos que penetram fundo na condição humana. Os personagens transitam sempre no limite da existência, tataendo porões que conduzem à iminência do instinto animal em seu estado mais bruto.
Abre com “Não É Verdade”, uma intrincada história de terror com fortes tintas kafkianas. Uma mulher decide experimentar fortes emoções com um aventureiro que se mete na floresta para se reunir com um grupo de lobos. Em nome da voragem, ela desbanca a ordem da vida cotidiana, deixando perplexos o primo e a empregada que termina assassinada violentamente. “Os bichos, os bichos sãos austeros”, comenta um personagem, imerso na loucura.
Na segunda peça, Nieva faz blague da universal historinha de Chapeuzinho Vermelho. Cansada do marido fleumático demais, a mulher o troca por um sujeito beberrão, com pinta de lobo mau, que a faz experimentar pervertidas taras sexuais.
“Trilogia da Danação” encerra com “Paixão de Cachorro”, a peça mais impactante. Nela, os protagonistas perdem os sentidos e o instinto animal é quem impõe as regras. Em certo dia, uma prostituta amanhece com um rabo peludo que brota do bumbum. A mulher encara o fenômeno com resignação cristã. Subumana frente ao espelho, acredita que o pecado veio a calhar. Mas o “rabo” lhe traz muitas revelações quanto a conceitos como amor e amizade.
Mesclando ingredientes como a antropofagia e a animilização do ser humano, a dramaturgia de Fernando Nieva faz um corte deste fim de século com uma crueza impressionante. Tudo se move a partir da pulsão interior dos personagens.
A montagem dá conta do recado. O elenco tem fôlego para se revezar nas três histórias. Virginia Jancso, Lia Armelin, Antonio Peyri, Melissa Vettore e Cesar Ribeiro fazem interpretações viscerais, desenhando personagens bizarros, como convém ao autor
Marcos Azevedo também não fica atrás na direção. Retrata muito bem a atmosfera dos textos, o estranhamento gestual dos personagens, verdadeiros tipos. Com exceção da voz em off, faz pouca concessão ao tea tro de Gerald Thomas. Este o influencia, sim, mas Azevedo relê a cena a seu modo, num trabalho que reflete um intercâmbio efetivo com o elenco. “Trilogia da Danação” é um espetáculo surpreende por conciliar equilíbrio cênico e interpretativo com demasiado caos humano.
Trilogia da Danação – De Fernando Nieva. Direção: Marcos Azevedo. Com A Companhia dos Lobos. Quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. Teatro João Caetano (rua Borges Lagoa, 650, Vila Mariana, tel. 573-3774). R$ 10,00. 100 minutos. Até 14 de setembro.