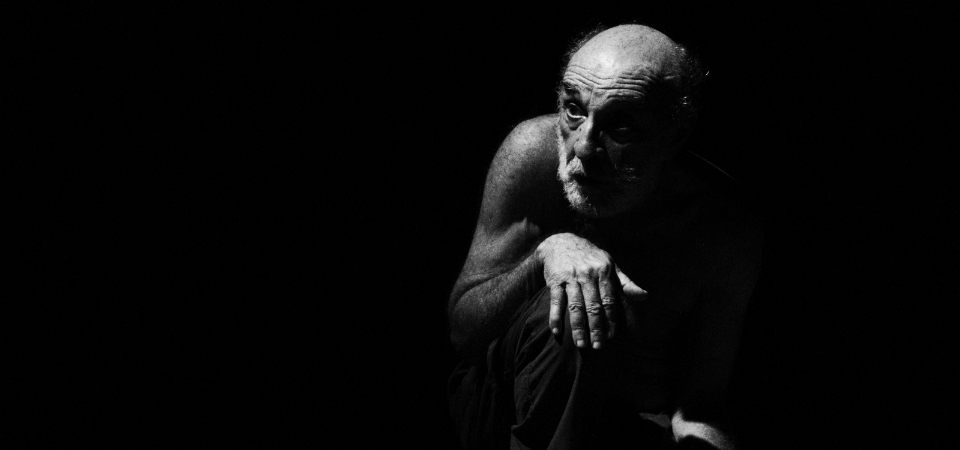Resenha
No início, há apenas a voz ─ e essa voz é. Em seguida, a voz escolhe um corpo para habitar: o corpo de uma mulher negra. E esse corpo também é. Assim, em Vaga carne, tanto a peça (2018) de Grace Passô quanto o média-metragem (2019) codirigido por ela e por Ricardo Alves Jr., voz e corpo ora se fundem, ora se confundem, se conformam e se confrontam. Toda uma história se narra nas modulações, nos tons, nos ritmos da voz ─ e em seus silêncios. O íntimo e o coletivo permeiam cada gesto, cada movimento do corpo, cada pequena coreografia ─ e suas pausas. Em sua performance, Passô mobiliza também o invisível e o indizível. Assistimos ao encontro entre voz e corpo no agora da encenação, mas as experiências que ambos carregam não se limitam ao tempo linear ou cronológico. Por fim, o desconcerto: o que vai ser do corpo, daquele corpo, quando a voz se desgrudar dele?
Vaga carne é um dos espetáculos citados pela poeta, ensaísta, dramaturga e professora Leda Maria Martins em Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela (Cobogó, 2021), como exemplo das criações artísticas brasileiras que têm reconfigurado a representação do negro em cena. Trata-se de um repertório crescente de poéticas, que, por meio de ousados procedimentos e elaborações estéticas, afirmam as corporeidades negras como episteme, exercitando uma memória cultural que atualiza acervos cognitivos e performáticos de matrizes africanas e afro-brasileiras. Um aporte urgente e fundamental para a cena teatral (e política) brasileira, que em muitos momentos ainda se revela resignada diante de narrativas desgastadas, modos de produção excludentes ou exclusivistas, estruturas colonialistas e racistas etc.
Como bem diz o título, os eixos do livro são tanto as poéticas do corpo-tela – esse corpo que é, ao mesmo tempo, corpus de saberes situados e lócus de memória ─ quanto performances que funcionam como verdadeiras “reservas mnemônicas”, entrelaçando o vivido e o sagrado em temporalidades curvas. Às leitoras e aos leitores mais familiarizados com o pensamento ameríndio, as potentes reflexões de Martins talvez façam eco, já que as práticas rituais de muitos povos indígenas do continente também são meios de transmissão de saberes e conexão com o invisível. E, para os setores mais tradicionais dos estudos cênicos, as abordagens da autora certamente são estimulantes e desvelam horizontes bem mais amplos do que aqueles estipulados pelo pensamento ocidental.
A leitura de ‘Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela’ é, em si, uma experiência performativa – lemos como se estivéssemos sentadas em roda, chão de terra, escutando uma griô com sua voz doce, mas incisiva. A obra nos oferece referenciais consistentes para o estudo crítico da produção teatral negra ─ peças, espetáculos e intervenções artísticas da atualidade, que reposicionam a subjetividade negra e o corpo negro na cena, dando ênfase e foco a discursos que se mantêm pulsantes nas margens do sistema. Também nos faz um convite a abrirmos espaço para outras formulações epistemológicas não só nas pesquisas em artes cênicas tradicionalmente devotadas ao cânone eurocêntrico e estadunidense, mas também na crítica teatral brasileira, que muitas vezes usa, como parâmetros de suas análises, o ideário hegemônico reiterado por espetáculos estrangeiros (brancos) bem-financiados
A obra está dividida em sete “composições” e se encerra com um epílogo. Na breve apresentação, Martins menciona que o livro “revisita e expande reflexões […], enoveladas agora em novas dicções, como ritornelos”. Também indica que as “composições, como se fossem células-síntese das ideias ressurgentes, podem ser lidas em uma sintaxe consecutiva ou como condensações cumulativas e acumulativas […]”. Detenho-me um pouco aqui para destacar os termos “ritornelos” e “ressurgentes”, que, a meu ver, não só são representativos da dinâmica estética do pensamento de Leda Maria Martins, mas também exemplares da polifonia teórica e dos trânsitos textuais presentes na escrita da autora.
Ao desviar-se da noção de tempo linear e progressivo, tão constitutiva do pensamento ocidental, Martins se põe em sintonia com as cosmopercepções de origem africana, bases de sua análise, e imprime à sua própria elaboração reflexiva o caráter espiralar que identifica nas expressões criativas dos saberes africanos presentes na produção cultural afrodiaspórica do Brasil. Na terminologia musical, os ritornelos são repetições (de estribilhos, versos, prelúdios, trechos melódicos etc.) que aparecem ao longo de uma composição. A reiteração de determinados elementos musicais funciona como um artifício formal, de retenção mnemônica, gerando efeitos de sentido e criando expectativas de escuta.
Quando traz de volta uma e outra vez, ao modo dos ritornelos, células-síntese de suas pesquisas ─ como os conceitos de “oralitura”, “afrografia”, encruzilhada e tempo espiralar[1] ─, Martins mobiliza novas intersecções teóricas e empíricas e aumenta seu alcance epistemológico. As ideias, então, reaparecem redimensionadas e atualizadas. São as mesmas, mas também já não são. Ora, a dinâmica teórica da pesquisadora reflete a dinâmica daquilo que ela pesquisa: por meio de “grafias performativas”, se mantém vivo e operante (ressurgente, portanto) o conhecimento que atravessou o Atlântico nos corpos, nas vozes, nas crenças e nas vivências de mulheres e homens africanos escravizados ─ conhecimento tantas vezes ignorado ou subalternizado pelos círculos intelectuais brancos do país, marcados pela apologia à produção eurocêntrica ou estadunidense.
Outras temporalidades
Grafias performativas são expressões da linguagem do corpo-em-performance, que inscrevem e transmitem saberes de ordens diversas. As grafias-gravuras moduladas por gestos e vozes são chamadas por Martins de “oralituras”[2]. Os atos de inscrição, de “afrografias”. Tais conceitos dizem respeito, portanto, a um repertório mnemônico corporificado. Assim, ressalta Martins, a escrita alfabética não é o único meio de retenção e fixação de narrativas, memória e produção epistemológica, como faz crer a razão ocidental; o corpo também o é (pelos ritos, danças, cantorias, alimentação, vestimentas etc.). Por isso, afirma a ensaísta, é ilusória essa dicotomia entre as textualidades orais e as escritas. E a primazia destas, tomadas como indicativo civilizatório, sobre aquelas tem perpetuado relações desiguais de poder e estratégias de exclusão em relação aos povos que privilegiavam o saber corporificado. Ora, todas as sociedades têm seus modos e meios de manter os próprios acervos cognitivos; não há povos “sem história”.

Diferentemente da noção ocidental de tempo, considerado como flecha ou linha unidirecional, em progressão e sucessividade, as filosofias africanas se apoiam numa concepção temporal espiralar, anelada, que reconhece retornos, recorrências, reminiscências e sincronias. Não há separação entre as dimensões física, material e espiritual; considera-se a interdependência de seres vivos, mortos e os que vão nascer, divindades, natureza cósmica, fauna e flora, demais entes e elementos físicos. A existência toda é envolta em sacralidade. A compreensão e a experiência do tempo, portanto, não estão desvinculadas dessa cosmopercepção.
A ancestralidade é um conceito norteador das temporalidades curvas: ordena as relações sociais, os valores éticos e estéticos, a transmissão dos saberes, a distribuição da energia vital. Aparece como um elemento comum e fundamental às matrizes africanas presentes no Brasil – como a banto (ou bantu) e a iorubá-nagô, que orientam boa parte das reflexões do livro. Princípio filosófico motriz do “corpo individualizado, do corpo coletivo e do corpus cultural”, como ressalta Leda Maria Martins, a ancestralidade também é canal de transmissão cinética da força vital. Como anuncia um verso do poeta e pesquisador mineiro Edimilson de Almeida Pereira, citado no livro: “Os meninos criaram memória/ Antes de criarem cabelos”.
Para as filosofias africanas, é impossível refletir sobre o tempo sem falar de Èșù (ou Exu), o “princípio dinâmico mediador de todos os atos de criação e interpretação do conhecimento”. Èșù assenta o acontecimento e traz com ele “o seu poente e o seu nascente” – nas palavras do sociólogo e ensaísta Muniz Sodré, citado por Martins. O acontecimento funda a temporalidade, pois instala uma dinâmica de retrospecção (recria o antes) e prospecção (torna possível o que vem a seguir). Essa concepção temporal espiralar, em caracol, não elide as cronologias, mas as subverte: um ir-e-vir contínuo, o “fui–fui antes”, o “serei-serei outra vez”, um reencontro com as reminiscências e com o porvir. Èșù é o senhor das encruzilhadas, lugar sagrado e radial de intersecções e desvios, confluências e divergências, fusões e rupturas. Por isso, a encruzilhada se revela um elemento semântico essencial para a compreensão dos trânsitos, transições e simultaneidades.
Cultura de dupla face
Na terra do desterro, espoliados de seus vínculos e identidades e submetidos à exploração e à tortura de seus corpos, mulheres e homens africanos escravizados aprenderam a metamorfosear sua memória cultural por meio de uma linguagem que, sob a sintaxe do colonizador, mantinha vivos saberes e práticas de matrizes diversas e ancestrais. “A cultura negra nas Américas é de dupla face, dupla voz, e expressa, nos seus modos constitutivos fundacionais, a disjunção entre o que o sistema social pressupunha que os sujeitos deviam fazer e o que, por inúmeras práticas, realmente diziam ou faziam”, escreve a autora.
Martins traz o exemplo dos reinados e congados, manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras ligadas a festejos de santas e santos católicos, reelaborados segundo uma mitologia negra. Se os congados são expressões de grupos mantidos pela devoção a determinados santos e pelo vínculo comunitário, os reinados apresentam uma estrutura simbólica mais complexa, cuja origem remonta a ritos de coroação de rainhas e reis africanos, incorporando os elementos da performance do congado.
A ensaísta se detém na análise do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, que se origina de uma narrativa sobre um escravizado (ou um grupo de escravizados) que vê (ou veem) a santa nas águas e pede(m) autorização ao sinhô para retirá-la de lá. A primeira tentativa, realizada por “gente branca”, não deu certo. A santa voltou para as águas. O sinhô puniu os escravizados, culpando-os pelo novo sumiço da imagem. Ao constatar que a santa estava se afogando, o sinhô, então, permitiu que os negros tentassem salvá-la. A princípio, foi a guarda do Congo, com seus tambores e enfeites, cantando e dançando; a santa achou tudo bonito, mas não saiu. Em seguida, o escravizado mais velho reuniu seu grupo e preparou uma guarda de Moçambique, com outros cânticos e danças. Foram entrando no mar e conseguiram cativar a santa, que segurou no bastão que eles levavam. Já fora das águas, Nossa Senhora do Rosário se sentou em um tambor forrado de pano branco e se tornou a padroeira das negras e dos negros.

Deste modo, as festividades recriam as histórias africanas de travessia forçada por meio de três elementos enunciativos fundamentais: a descrição de uma situação de repressão; a reversão simbólica dessa situação e a instituição de outro poder, o africano, ancorado em arcabouço mítico e místico. A performance ritual se torna, então, um ato de apropriação, reconfiguração – ao inverter as posições de poder entre brancos e negros – e reterritorialização de saberes. Na narrativa mítica, portanto, o negro torna-se agente. Como escreve Leda Maria Martins:
A linguagem dos tambores, sopro dos antepassados, investida de um éthos divino, agencia os cantares e a dança e, de forma oracular, pronuncia uma subversão da ordem social, das hierarquias escravistas e dos saberes hegemônicos. […] O próprio fundamento do texto mítico católico é rasurado, nele se introduzindo, como num palimpsesto, as divindades africanas. Assim, a santa do Rosário evoca também, por deslocamento, as grandes mães ctônicas africanas, senhoras da água, da terra e do ar.
Eis um exemplo da “dupla face” da cultura negra nas Américas, característica não só de manifestações rituais como os reinados e congados mas também de performances cênicas negras que lidam com representações e estéticas disruptivas para a negrura (questionando o “ser negro” forjado pela branquitude). A confluência de saberes, tempos, crenças e vivências em constante trânsito evidencia o corpo negro como um palimpsesto, corpo que expressa rasuras e gravuras, reminiscências e esquecimentos sempre incompletos, mas também um rico repertório de narrativas sustentadas pela ancestralidade. “Um corpo historicamente conotado, que personaliza as vozes que denunciam e nomeiam o itinerário de violências”. As poéticas desse corpo-tela também concretizam atos de apropriação, reconfiguração e reterritorialização de conhecimentos e experiências, ressaltando as encruzilhadas e as temporalidades espiralares.
É preciso relembrar sempre o caráter cinético das grafias performativas; não são inscrições (vocais, gestuais, coreográficas, musicais, vestuais, gastronômicas…) estanques, cristalizadas, encerradas nelas mesmas, ensimesmadas. O movimento, como conceito e como práxis, é um fator primordial e essencial nas expressões culturais negras; uma cinesia presente no batuque dos tambores, nos rituais religiosos, nos festejos e celebrações, nas danças, mas também nas concepções filosóficas do tempo, da existência etc. e nas dinâmicas de transmissão de saberes.
Representações disruptivas
Na obra, Leda Maria Martins estabelece interlocução com uma série de autoras e autores de diferentes campos de estudos, contudo seus eixos teóricos principais parecem ser o filósofo congolês Bunkseki Fu-Kiau (1934-2013) e o linguista e crítico literário suíço Paul Zumthor (1915-1995 – especialmente, em suas considerações sobre performance e oralidade). A autora dedica também um capítulo (uma composição) às expressões rituais dos Maxakali, povo indígena que se autodesigna Tikmũ’ũn e vive em quatro terras indígenas a nordeste de Minas Gerais, com quem estabeleceu contato e convívio. Examina como os ritos se revelam férteis acervos de reservas mnemônicas, procedimentos culturais residuais recriados no corpo, expressos pelo corpo. E traz uma discussão breve, mas muito interessante, sobre o “marketing da memória” – o oposto total das dinâmicas de elaboração e transmissão de memória dos Maxakali e demais povos originários. A repetição mecânica da lembrança, diz Martins, gera o esquecimento. “Nas performances da oralitura, […] canta-se e dança-se não apenas para lembrar os ancestrais, mas para ser pelos ancestrais lembrados”, escreve ela.
A leitura de Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela é, em si, uma experiência performativa – lemos como se estivéssemos sentadas em roda, chão de terra, escutando uma griô com sua voz doce, mas incisiva. A obra nos oferece referenciais consistentes para o estudo crítico da produção teatral negra ─ peças, espetáculos e intervenções artísticas da atualidade, que reposicionam a subjetividade negra e o corpo negro na cena, dando ênfase e foco a discursos que se mantêm pulsantes nas margens do sistema. Também nos faz um convite a abrirmos espaço para outras formulações epistemológicas não só nas pesquisas em artes cênicas tradicionalmente devotadas ao cânone eurocêntrico e estadunidense, mas também na crítica teatral brasileira, que muitas vezes usa, como parâmetros de suas análises, o ideário hegemônico reiterado por espetáculos estrangeiros (brancos) bem-financiados.
Como identificar os trânsitos, os cruzos e as temporalidades curvas nas performances cênicas negras? A quais parâmetros reflexivos podemos/ devemos recorrer? Será que conceitos de teorias teatrais canônicas dão conta da produção afro-brasileira contemporânea e de seus corpos em cena? De que modo nós, pesquisadoras/es e críticas/os brancas/os, conseguimos expandir nosso diálogo com representações insubmissas e estéticas disruptivas propostas por artistas negras/os, sem que nos sintamos “perdidas/os”, “desavisadas/os” ou “despreparadas/os”?
Nas culturas africanas, os bens culturais também transmitem energia vital e garantem equilíbrio comunitário. A estética, portanto, dá conta da dimensão tradutória dos valores que regulam a vida cotidiana As formas convencionalizadas (baseadas em padrões, estilizações, princípios de composição) representam visões de mundo, cosmopercepções. Por isso, em certo momento do livro, Leda Maria Martins comenta que o conceito “arte” não pode ser um privilégio; afinal, valores estéticos são também éticos. Por isso, sua proposta analítica, neste livro, tensiona indiretamente o sistema estético ocidental como fonte privilegiada da teoria da arte. Como diz o crítico e curador paraguaio Ticio Escobar (2021)[3], há toda uma produção criativa que se torna excepcional por sua vinculação com práticas sociais, crenças e valores diversos, independentemente de circuitos estabelecidos (museus, galerias, festivais etc.) e longe de “fetiches criados no âmbito euro-ocidental” [palavras de Escobar].

Interlocuções
Por fim, mas não menos importante: durante a leitura, algumas interlocuções me vieram à mente. Gostaria de indicar algumas obras que podem iluminar ou ampliar certas reflexões de Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela:
* Perder a mãe: uma jornada pela rota atlântica da escravidão (Bazar do Tempo, 2021), da estadunidense Saidiya Hartman.
Com uma escrita pungente, numa combinação bem urdida entre ensaio e testemunho pessoal, Saidiya conta sobre sua viagem a Gana para pesquisar as dinâmicas da escravidão e, como afro-americana, buscar suas raízes. Lá, porém, não encontra arquivos locais sobre o tema, apenas cópias de registros das antigas metrópoles. Ela tampouco sente o pertencimento que imaginava encontrar; constata como um hiato afetivo-político se estabeleceu entre as aspirações das comunidades afrodiaspóricas e das sociedades africanas da atualidade, muito em razão do estigma da escravidão, que ainda persiste. A ruptura provocada pelo desarraigamento violento da terra no imaginário de escravizados e escravizadas foi profunda. (Essa análise só reforça a pertinência dos estudos de Leda Maria Martins a respeito dos repertórios performáticos orais e corporais afro-brasileiros que mantêm pulsantes os saberes ancestrais africanos).
* Arruaças: uma filosofia popular brasileira (Bazar do Tempo, 2020), dos brasileiros Luiz Antonio Simas, Luiz Rufino e Rafael Haddock-Lobo.
Delicioso livro de ensaios curtos que transitam pelos saberes criados e transmitidos pela miríade de expressões culturais do Brasil, em especial aquelas situadas nas margens dos cânones. Os autores se debruçam sobre afetos e pensares que constituem a experiência da brasilidade, fora dos grilhões da colonialidade do saber e do poder. Trata-se de uma filosofia das ruas, das florestas, dos terreiros, das rodas de samba ou dos campos de futebol, das encruzilhadas. Muitos dos ensaios desta obra confirmam ou exemplificam as poéticas do corpo-tela de Leda Maria Martins.
* Solo para vialejo (Cepe Editora, 2019), da brasileira Cida Pedrosa.
Numa espécie de epopeia memorialística, elaborada por meio de poemas performáticos, marcados pelo ritmo e por uma linguagem precisa e cheia de picardia, a ‘narradora’ revisita o pernambucano Sertão do Araripe, seus imaginários e sua formação étnico-cultural, imaginando uma diáspora de negros e negras do litoral para o interior, ao mesmo tempo em que recupera as expressões musicais da cidade de Bodocó (PE), influenciadas por matrizes afro-americanas (ligadas ao blues e ao jazz) e afro-brasileiras – de Robert Johnson e Sonny Boy Williamson II a Jackson do Pandeiro e figuras locais como Marcelino Brígido e seu Bindô. Cida Pedrosa relaciona a cultura da música à cultura do algodão, importante fonte econômica local. Aqui, a interlocução com o livro de Leda Maria Martins se dá em relação às “Afrografias” que marcam a musicalidade negra.
[1] Elaborados em artigos ou obras anteriores: A cena em sombras (1995; livro), Afrografias da memória: O Reinado do Rosário no Jatobá (1997; livro), A oralitura da memória (2000; artigo acadêmico), Performances do tempo espiralar (2002; artigo acadêmico), entre outros.
[2] “Litura” é um termo que se refere ao que foi rasurado ou apagado numa escritura e que por isso não ficou legível; Leda Maria Martins redimensiona esse significado ao criar o conceito de “oralitura”.
[3] ESCOBAR, Ticio. Aura latente. Buenos Aires: Tinta Limón, 2021.

Serviço:
Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela
De Leda Maria Martins
Cobogó, coleção Encruzilhada, 2021
256 páginas
R$ 68,00

Trecho
Para poder ser recordado, reclamado e celebrado, é necessário, então, “remorrer”. O prefixo re nos remete à necessidade de uma volta, de um fazer-se de novo, de uma retrospecção, de uma retroação, mas também nos aponta para uma repetição a vir, produzir-se à frente, como uma memória do futuro. No prefixo re, de remorrer, anelam-se o retornar, tornar-se e volver no passado, assim como o reatar, reinstaurar, reativar o porvir.
Ser lembrado é participar, estar como presença presente nos interlúdios, transcursos e interlíneas da vida. É pousar nas espirais, como um em ser gravado e integrado no circuito dinâmico da memória e da cinese, como qualidade do movimento. É habitar temporalidades múltiplas, como ser flutuante em superfícies de simultaneidades; é ser tempo na temporalidade Kalunga, “oceano de ondas/radiações”, “composto pelos tesouros biológicos, materiais, intelectuais e espirituais acumulados em rolos [ku mpèmba], o passado, o eterno banco das forças geradoras/motrizes da vida”.
O tempo ancestral não se contém nos limites de uma linearidade progressiva, em direção a um fim e a um páthos inexauríveis, e nem se modula em círculos centrípetos fechados de repetições do mesmo. Em suas espirais, tudo vai e tudo volta, não como uma similaridade especular, uma prevalência do mesmo, mas como instalação de um conhecimento, de uma sophya, que não é inerte ou paralisante, mas que cineticamente se refaz e se acumula no Mar-Oceano indeterminado do tempo ancestral, o tempo Kalunga, o tempo de Nzâmbi e de Olurum, um em si mesmo, íntegro e pleno, cuia recheada por instâncias de presente, de passado e de futuro, sem elisão, sem forclusão, sem sobressaltos, sem fim dos tempos. Um tempo espiralar.
(Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela, páginas 205 e 206)
Jornalista, performer e doutoranda em pedagogia do teatro pela Universidade de São Paulo (USP), com uma investigação sobre artes cênicas, processos artísticos e experiência política na América Latina. No mestrado, debruçou-se sobre as experiências teatrais realizadas na Palestina. Tem especialização em Documental Creativo pela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Atua como provocadora cênica em diversos coletivos da cidade de São Paulo. Foi curadora das ações pedagógicas da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp, 2015-2020). Autora e intérprete de conferências performáticas, apresentadas na capital paulista, em Santiago (Chile) e em Oaxaca (México). Instagram: @_mafeentrelivros