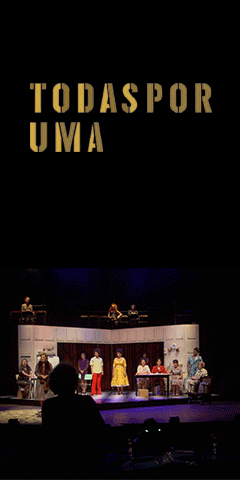O Diário de Mogi
“Domésticas” varre “sujeira social”
23.8.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 23 de agosto de 1998. Caderno A – 4
Discriminação de profissional é abordada com crueza e lirismo na montagem
VALMIR SANTOS
São Paulo – No imaginário sócio-cultural do brasileiro, as empregadas domésticas são frequentemente aviltadas em seus direitos. Quer na vida real, quer na ficção (vide Olímpia em “Trair e Coçar, ÉSó Começar” ou Edileusa em “Sai Debaixo”). Essas profissionais são exploradas e tachadas de “burra” num piscar de olhos. E não se trata apenas de ranço machista. Numa definição elementar, são mulheres humildes tratadas como escravas e relegadas à míngua.
Da ausência de registro na carteira profissional (uma luta sindical que ganhou visibilidade recentemente) até a relação sub-humano com patrões e patroas, a discriminação reflete a face mesquinha e hipócrita da sociedade – em especial, da sua classe média. É “sujeira” da grossa sob o tapete…
A relação de poder entre quem contrata e quem presta serviço reproduz a falta de respeito para com o próximo. Um salário injusto, um quartinho diminuto, uma sujeição de “pessoa menor” dentro da casa-senzala, enfim, os papéis hierárquicos como que justificam tal tratamento, desprezando-se direitos humanos universais – e infelizmente consagrados mais no papel do que na vida como ela é.
Esse pensamento vem à tona por conta do espetáculo de dança-teatro “Domésticas”, a nova montagem da atriz, bailarina, coreógrafa e diretora Renata Melo (“Bonita Lampião”, 94).
A partir de pesquisa com “jovens, idosas, mães, viúvas, solteiras, abandonadas, que amavam ou odiavam a profissão, seus patrões…”, Melo escreveu o texto e concebeu um espetáculo tocante e lírico em sua comicidade trágica.
O raio-X mostra quem são essas mulheres, seus desejos, sonhos e frustrações sem fim. A partir de três empregadas que ora se revezam e ora compartilham a cena, a peça mostra quadros independentes que, no entanto, complementam-se pela cumplicidade temática nos planos da injustiça, da afetividade, da alegria, da tristeza, do desalento, enfim, da divagação diante do exercício de viver.
A própria Renata Meio, mais as atrizes-dançarinas Lena Roque e Cláudia Missura, são intérpretes meticulosas na condução de suas personagens. O pressuposto rigor coreográfico harmoniza-se aqui com o espaço mais arejado do teatro. Porém, a imposição do verbo não descaracteriza, em momento algum, a fluência de gestos e movimentos. Mesmo no “timming” dos diálogos o espaço cênico é de alguma forma preenchido, corporalmente falando.
“Domésticas” fura o universo feminista e também coloca em cena a figura masculina. Os personagens de Eduardo Estrela (chofer, pai, etc.) não contrapõem, mas revelam que são discriminados tanto quanto. Seu chofer, por exemplo, enamorado de uma empregada, confessa que seu sonho é fazer um crediário.
Os pequenos anseios e as grandes decepções vão, aos poucos, compondo o fio do espetáculo. Para citar a frase obrigatória do início da peça: “Parece um trato que a gente faz: a gente limpa eles suja, a gente passa eles amassa, a gente arruma eles bagunça, a gente guarda eles joga, a gente põe eles tira, a gente tira eles põe. O serviço nunca acaba, o serviço acaba com a gente.”
Mais esta, que também consta do programa bem bolado, em forma de carteira profissional: “Quando a gente não pode fazer mais nada, então vai ser empregada. Come o que sobrou, se falta frita um ovo”. Tudo assim, a seco.
Elas, as empregadas, gostam de “música triste”, de fotonovelas, de novelas. Aliás, lêem faltando letras”. Esperam o “príncipe encantado”. Orgulham-se de mandar um dinheirinho para o pai e a mãe distantes. E gostam de preencher o pouco tempo de folga com digressões sobre o sol e a lua, satélites tão distantes quanto a realidade em que sobrevivem para o ganha-pão.
Adotando narrativa testemunhal em boa parte do espetáculo como num testemunho vivo para os espectadores, as empregadas fazem seus relatos sem interromper as tarefas cotidianas – acostumadas que estão a todo tipo de pressão. Assim, as vassouras de piaçava são incorporadas à movimentação. O mesmo ocorre com o balde e o pano de chão; com as flanelas; com o aspirador de pó; com os uniformezinhos indefectíveis.
A movimentação conjunta, ainda que às vezes propositada-mente desleixada, tem lá sua geometria. Outro destaque é o esforço intensivo para traduzir a mesma sonoridade produzida por gestos e objetos durante o trabalho de limpeza nos vários pontos de uma casa. Essa perspectiva sensorial confere mais vida à ação.
O cenário asséptico de Daniela Thomas e Marcelo Larrea, com suas paredes forradas por azulejos brancos, contrasta com a obsessão das empregadas em limpar e limpar o que não está sujo, num determinismo que, ao final das contas, limita suas próprias vidas à condição submissa em que se encontram.
Esse “folclorismo” é pincelado em “Domésticas”. Ainda quando tratadas “como cachorro”, custa a algumas mobilizar-se para reivindicar os direitos da profissão. A identidade não é só questão de “nome bonito”, mote do quadro de Raimunda e Antonio, ambos descontentes, sim, mas com respectivos prenomes, não com suas realidades.
Trata-se de um espetáculo de mão dupla: instiga o riso e cutuca a consciência dos espectadores, em sua maioria classe média. Os quatro intérpretes são envolventes. Renata Melo, em particular, é plena na introjeção da personagem, da voz à mão que amacia a roupa passada. Lena Roque, Claudia Missura e Eduardo Estrela também se entregam com a mesma energia, inclusive nos solos, garantindo o público nas mãos.
“Domésticas” acerta em não exceder na preocupação estética, procedimento comum em se tratando de dança-teatro (quando criadores querem fundir as linguagens com tanto virtuosismo que terminam por anulá-las). O equilíbrio aqui é de tal monta que não se distingue propriamente um e outro – teatro e dança conjugam-se a favor dos personagens e de suas histórias sem atropelo.
Nessa que é das melhores montagens em cartaz na Capital (fica até o final de agosto mas deve ser prorrogada), o entretenimento flui com a mesma intensidade da denúncia. Função mais do que louvável de uma arte verdadeira em tempos de tanta injustiça social.
Domésticas – Direção, coreografia e roteiro: Renata Melo. Com Cláudia Missura, Lena Roque e Renata Melo. Quinta a sábado, 21h30; domingo, 20h30. Centro Cultural São Paulo/Sala Jardel Filho (rua Vergueiro, 1000, Paraíso, tel. 277-3611). R$ 12,00. Duração: 70 minutos. Até 30 de agosto (há previsão de prorrogar temporada).
“Aqueles 2” voa sobre o chão da vida
São Paulo – Compositor dos destinos na voz de Caetano, o tempo serve de moto-contínuo para a história de Pedro e Joana, os personagens de “Aqueles 2”. A peça escrita e dirigida por José Geraldo Petean oscila presente e passado na vã tentativa de vislumbrar o futuro a partir de uma perspectiva onírica.
Essa diluição de tempo e espaço pode confundir no papel, mas é bem elaborada em cena. Entre montes de areia que forram o tablado montado numa sala do restaurante Piolim, tradicional reduto da classe teatral na rua Augusta, Eloisa Elena Joana) e Marcelo Góes (Pedro) recriam o lúdico e o trágico com sutileza distinta da realidade.
O que está em jogo – eis uma palavra-chave para se compreender a aventura do texto – é a impossibilidade amorosa. “Aqueles 2”, na essência, não está longe de “Romeu e Julieta” ou “Tristão e Isolda”, para citar os clássicos.
Se nas tragédias a intervenção do mundo externo constitui empecilho concreto para a união de seres enamorados, aqui, no âmbito particular – ainda que não se situe o tempo e o espaço -, os entraves são antes frutos das vicissitudes humanas do que de natureza outra.
Joana e Pedro, os personagens, deslizam suas vidas por um árido terreno em que aparentemente têm segurança, mas logo sucumbem ao primeiro imprevisto da vida.
Toda a história, percebe-se depois, tem como eixo a imprudência. Em flashback, os dois desfrutam de uma noite de amor, bebem bastante e ele, já bastante debilitada, insiste em ir embora e dirigir pela estrada madrugada adentro.
O acidente quase lhe provoca a morte. Joana fica com um sério problema na perna e, pior, é obrigada a romper com seu objeto do desejo por conta da ameaça do pai, que enxerga nele, Pedro, a causa de toda a desgraça do ponto de vista familiar e francamente burguês.
De volta para o futuro – um movimento que ora insistem em levar adiante e ora insistem em levar adiante e ora recuam -, os dois vêem-se obrigados a lidar com o real. Não há mais incosciência de viver por viver.
Joana aprende a pôr os pés nos chão. É assim que Pedro a reencontra, anos depois. Ele, claro, tenta cavucar a poesia de suas vidas, num passado remoto. Mas não encontra guarida. A não ser nas lembranças, das quais ambos parecem nutrir-se o tempo todo.
O texto de Petean, bem como sua direção, não se esquivam de assumir esse alheamento de almas apaixonadas que, de qualquer ponto de vista que não o dos envolvidos, pouco interessa. Mas não é bem assim.
“Aqueles 2” exala o sabor do desprendimento, do poder da aventura, de um extinto de liberdade, de permissão, enfim, que dificilmente se depara em vida – ou depois dela, como se queira. O problema, demasiado humano, é que tanta leveza não sobrevive para contar suas glórias. Num átimo de segundo, a vida branda sua fiel balança para compensar, para guindar os filhos alados para o chão da estrada.
As atuações perseguem o mesmo conceito de alteridade. Eloisa Elena e Marcelo Góes estão integrados em cena. Seus personagens se movimentam com leveza.
Todos os seres que estão ao redor de Joana e Pedro não ficam suficientemente claros para o espectador. Esses “vultos” não importam para o enredo que celebra a possibilidade do indivíduo em sua plenitude e relega normas ditas familiares, sociais. Os laços, aqui, são de outra ordem: a do coração.
Num tempo em que as noções de romance perdem-se em pós-isso, pós-aquilo, a montagem impõe-se como resgate de uma entrega menos oblíqua.
Joana e Pedro não foram felizes para sempre. Mas a felicidade revela-se um meio, e não um fim, quando as partes envolvidas são mais honestas consigo. “Aqueles 2”, ele e ela, pelo menos tentaram.
Aqueles Dois – Texto e direção: José Geraldo Petean. Com Eloisa Elena e Marcelo Góes. Quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. Espaço Piolim (rua Augusta, 902, Cerqueira César, tel. 256-9356 e 244-4587). R$ 15,00 (estacionamento gratuito e 50% de desconto no jantar do Restaurante Piolim, mediante apresentação do canhoto do ingresso). Duração: 70 minutos.
7º Fiac abre portas da percepção
9.8.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 09 de agosto de 1998. Caderno A – 4
Evento chega ao fim amanhã com missão cumprida de injetar novo “olhar” e “sentir”
VALMIR SANTOS
São Paulo – Há algo de insondável num tema como “a presença do sagrado nas artes”, vertido pelo 7º Festival Internacional de Artes Cênicas, o Fiac, que chega amanhã ao seu derradeiro dia. O painel apresentado pelas atrações da Ásia tem tudo para consolidar de vez, e com relativo atraso, a “ponte” entre o oriente e o ocidente a partir de uma perspectiva brasileira.
Se depender da reação do público que lotou todas as apresentações; provocou algumas sessões extras, aplaudiu durante longos minutos; e subiu ao palco extasiado para “apaupar” a energia emanada dos artistas – caso dos simpáticos sul-coreanos do grupo Samulnori Hanulrim -, enfim, se depender do espectador, a assimilação já é uma realidade.
Até pouco tempo atrás, era comum atribuir às diferenças culturais, sobretudo à língua, a incompreensão e distanciamento diante de espetáculos “do outro lado do mundo”. Aos poucos, porém, as barreiras foram caindo e se revelaram menos técnica do que perceptiva.
Os poros da percepção, como quer William Barroughs, dilataram-se nos últimos anos. Gradativamente, o público tupiniquim tomou contato com a arte de dizer muito com o mínimo, quer verbal ou corporalmente falando.
Desde o primeiro Fiac, em 1981, com a presença do americano Robert Wilson, influenciado pelo teatro oriental e contaminando a carreira de ninguém menos do que Antunes Filho – o festival já acenava com sua veia instrospectiva.
Mais recentemente, na retomada do evento, a partir de 1994, a idealizadora Ruth Escobar passou a mirar com mais carinho para as manifestações artísticas que remontam há milênios. É claro que em 1986, oito anos antes, já estava entre nós o mestre japonês Kazuo Ohno e sua personagem La Argentina. Sem contar o pioneirismo de Takao Kusuno, hoje com sua Cia. Olho do Tamanduá, na busca de um butô de cores brasileiras.
De volta ao Fiac, tivemos os Derviches Rodopiantes da Turquia, a dançarina indiana Chandralekha e a companhia chinesa do diretor Zhang Yuan. Até desaguar, agora, numa edição totalmente dedicada ao teatro, à dança e à música praticada no continente asiático.
A abertura, conforme acompanhou O Diário, foi marcada pela memorável “Ópera de Pequim” encenada pela companhia da cidade chinesa de Dalian. Na última apresentação, os atores Zhang Dajun, encabeçando o número “O Rei dos Macacos”, e Li Ping, com “A Princesa Cem-Flores” demonstraram todo o virtuosismo que registraram em seus corpos e vozes ao longo de muitos anos de treinamento.
Os monges do Monastério de Shetchen, no Tibete, apresentaram suas “Danças Sagradas”, de forte conteúdo religioso. Naquele país incrustado em solo chinês, inclusive perseguido politicamente, os festivais de dança remontam à introdução do budismo, no século 18. O monastério de Shetchen foi fundado em 1735. O espetáculo-ritual é uma experiência indescritível, em que silêncio, sons e cores inventam um novo espaço-tempo diante dos olhos de quem contemnpla.
Quando o mestre sul-coreano Kim Duk Soo afirmou que a percussão do seu grupo tinha a ver com o candomblé destas plagas, a desconfiança não fez de rogada. Mas, na noite de estréia, o que se deixou embalar pelos tambores do grupo Samulnori Hanulrim. Sem contar a magia do canto p’ansori, com a primeira-atriz da Coréia do Sul, Mi Jung Chung, no que pode ser considerada uma versão operística arraigada na tradição daquele país.
A japonesa Carlotta Ikeda, que voltou ao Brasil pela segunda vez também transportou o público para outra dimensão no seu belo solo “Waiting”. Como vem fazendo nos últimos anos, a dançarina investe na (re)descoberta constante de novos caminhos para o butô – ela que foi discípula de Hijikata, um dos pais da “dança das trevas”, ao lado de Ohno. Mas o que Ikeda celebra no palco, na tenra relação do seu corpo com o espaço, na sua sensualidade à flor da pele, enfim, sua arte de gestos e movimentos é demasiadamente entranhada no espírito de presença da intérprete.
São algumas das atrações conferidas por este crítico, entre as muitas que passaram pelos palcos paulistanos nos últimos dias. Teve ainda o Chorus Repertory Theatre of Imphal (Índia), Trupe Nacional da Tailândia, Grupo de Percussão do Templo de Kerala (Índia), U-Theatre (Taiwan), Conjunto Panti Pusaka Budaya (Bali), Músicos e Poetas Manghaniyars e Langas do Rajastão (Índia), Monâjât Yultchieva (Uzbequistão) e, por fim, um workshop com a norte-americana Nina Wise, em sua segunda incursão pelos palcos do Fiac.
Entre as benesses do “pacote” asiático, está a convicção de que a velocidade dos tempos, em que “globalizar” é sinônimo de chegar em primeiro, a qualquer custo, conforme rege o mercado, felizmente não contaminou a todos. Há espaço para um olhar diferenciado, uma oxigenação da massa cinzenta ora poluída pelo excesso de informações – inúteis em sua maioria.
O 7º Fiac foi como uma aula para o “olhar”, o “sentir” e o “estar presente” no espectador brasileiro, que também padece do mal ocidental feito envelopinhos de bala…
É torcer para que o teatro brasileiro, em particular o paulista, abrace o sopro zen desta edição do festival, a propósito de um final de milênio virado de ponta-cabeça – e assustador.
Danças Tradicionais de Manipur – Com o grupo indiano Chorus Repertory Theatre of Imphal. Hoje, 20, e amanhã, 21h. Sesc Vila Mariana (rua Pelotas, 141, tel. 5080-3000). R$ 20,00 e R$ 10,00. Conjunto de Percussão do Templo de Kerala – Com trupe indiana. Hoje, 18h. Sesc Pompéia (rua Clélia, 93, Lapa, tel. 3871-7777). R$ 20 e R$ 10. Amanhã, 21h, dobradinha com as baianas da Didá Banda Feminina. Parque da Independência (Praça do Monumento, s/n, Ipiranga). Grátis. Retirar convites com antecedência do Sesc Ipiranga (rua Bom Pastor, 822, tel. 3340-2000). O Som do Oceano – Com grupo U-Theatre, de Taiwan. Hoje, 20h. Parque da Independência.
“Olhar para dentro dói muito”, diz Ruth
São Paulo – A seguir, o depoimento da atriz, produtora e idealizadora do Festival Internacional de Artes Cênicas, Ruth Escobar. Ela garante que esta é sua última edição à frente do evento. Quer delegá-lo à iniciativa privada ou pública. O tema da presença do sagrado nas artes é sintomático do momento pessoal de Escobar, conforme relata:
Ruth Escobar – “Estou muito emocionada com o sucesso de público do 7º Fiac. Era o sonho da minha vida, não esperava.”
Ruth – “O tempo não existe. A gente pensa que ele existe, mas não existe. Então eu fiquei tão influenciada que quis trazer essa coisa para o Brasil, para que meus colegas vissem.”
Ruth – “As pessoas dizem que aqui no Brasil o teatro é antes e depois de Victor García, com suas montagens ‘Cemitério de Automóveis’, ‘O Balcão’, encenadas no meu teatro. E hoje eu percebo… Tenho um vídeo do ‘Balcão’ de meia hora, e percebo toda a influência não só no simbólico das roupas, mas nas músicas. Há música do Paquistão. Na época eu vi que era uma música estranha, que te remetia a um estágio sagrado, transcendente – e a música no ‘Balcão’ tinha enorme importância.”
Ruth – “Ariane Mnouchkine é quem mais foi influenciada pelas tradições. Espetáculos dela que vi há 12, 15 anos, já trazia isso. E o Peter Brook que trouxe as técnicas da escola do pensador místico Gurdjieff, do filme ‘Encontro com Homens Notáveis’. Brook propõe uma forma de ser e estar no mundo que faz os seus atores entrarem nesse espaço de tempo e nessa coisa da presença, com uma simplicidade absoluta, sem grandes mágicas… E você fica fascinado com a presença dos atores em cena. E isso é coisa dos orientais.”
Ruth – “Quando trouxe os Dervixes Rodopiantes da Turquia pela primeira vez, em 1996, pensei: ‘Vou trazendo aos pouquinhos’. Eu vi as pessoas pirarem. Depois trouxe a Carlotta Ikeda, que agora voltou, e foi enorme sucesso. Daí eu trouxe a Chandralekha e um espetáculo da China, moderno, belíssimo…”
Ruth – “O Brasil passa por uma transição que remete a uma certa religiosidade que é perigosa, que vai da auto-ajuda às igrejas evangélicas. Mas você percebe hoje, em vários lugares, a quantidade de budistas, de pessoas que trabalham com meditação com respiração, com entendimento do desapego, da rigidez do ego. Quanto mais você se apega, pior você fica”
Ruth – “Estou doente há uma semana, num estresse, não consigo dormir de noite porque fico no ‘bombeiro’… Faço contatos com Ministério do Trabalho, Itamaraty, mas é uma coisa muito difícil para outra pessoa fazer um festival do tamanho e da proporção que eu faço.”
Ruth – “Quero escrever um livro sobre minha jornada, do que estou vivendo nesses 10 anos, do que estou revendo em mim, como estou tentando me trabalhar. Do sofrimento que é você se ver e se reconhecer. Esse olhar para dentro é uma coisa que dói muito. Para mim, especialmente. Quando olho para a trajetória da minha vida, vejo que a vaidade estava por trás, a soberba, a quase vingança da minha história com meu pai, aquela coisa toda com os militares – havia o lado da guerreira, mas havia o lado que era uma forma de dizer ‘papai vai à p.q.p.’… Porque os militares para mim representavam meu pai. Tudo isso eu não tinha consciência. Hoje, com esse trabalho profundo que faço, há 9 anos, é como se estivesse descascando uma cebola e entendesse, bem lentamente, como é que eu criei este personagem… Bem lá no fundo, ele cobre uma criança que se sente deficiente, desvalorizada, que não teve o que precisava ter enquanto amor… Enfim,
essa é a história da humanidade, a história de todo mundo.”
“Postcards” é o longe que não existe
26.7.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 26 de julho de 1998. Caderno A – 4
Mário Bortolotto enfoca solidão na peça encenada pelo Cemitério de Automóveis
VALMIR SANTOS
|
São Paulo – Existe uma marca Cemitério de Automóveis, o grupo fundado em Londrina há 16 anos, desde 96 ancorado em São Paulo. Existe sobretudo a marca do ator, diretor e dramaturgo Mário Bortolotto. Arrisque-se uma definição, uma palavra para traduzir a trajetória de ambos: a insolência. |
Ela está lá, no “Aurélio”: “5. Que por seu caráter incomum, é como uma provocação, um desafio à condição humana”. Está lá também na mais recente montagem, “Postcards de Atacama”, com seus personagens limítrofes; seres soltos no deserto da vida que se vive.
Bortolotto enquadra a solidão nesta que é a segunda peça, escrita este ano, da trilogia que começou com “Medusa de Ray Ban” (96), jogando luz sobre a violência, e vai fechar em breve, em texto ainda sem título, colocando a morte em xeque.
E uma solidão crua, sem tintas. Às vezes o que se insinua como uma estilização das linguagens dos quadrinhos, do cinema noir ou mesmo da despretensão rock’n’roll, logo é dissimulada no silêncio, no movimento centrífugo dos personagens e suas inquietações interiores.
Jasão (Bortolotto) é um detetive metido a besta. Cansada das traições, sua mulher, Nico (Gabriela Schwab) o abandona. Em seguida, ele é contratado por Mae (Fernanda D’Umbra), uma mulher misteriosa que deseja encontrar seu marido, Toddy (Everton Bortotti), desaparecido do mapa – a única pista são os postais enviados do deserto do Atacama, no Chile.
O encontro de Jasão e Toddy catalisa boa parte da peça. Aliás, ela abre com o diálogo desconexo de ambos, recheado de silêncios a la Beckett. E a tríade cerveja-arroto-poesia compõe o fluxo vital de um Toddy suicida em potencial.
“Postcards de Atacama” fala da saudade, da distância que separa as pessoas longe de um lugar que não existe (Richard Bach).
Fala da impossibilidade de ceder e definir um território mútuo. Na sua distensão afetiva, avesso ao apego, Jasão é tão solitário quanto Toddy, desconcertante na falta de aceno para a vida.
Em transe
As mulheres de ambos não ficam atrás. Mae e Nico compartilham, retro-alimentam as neuroses. Parecem sonâmbulas diante da realidade. Estão, igualmente, em transe. Nico, por exemplo, curte andar na chuva, andar de carro com o cara que ela gosta. Mae prefere pregar os postais “dele” na parede, onde o olhar não os alcança.
E não é apenas o quarteto em si quem conduz a peça. Bortolotto criou subtextos que constituem verdadeiros torpedos contra a moral e os bons costumes que a tudo e a todos cegam.
Há o incrível quadro do comercial de aparelho de ginástica, cuja presença da gordinha atriz Carla Meneguella rouba a cena. Há a fixação do rapaz pela masturbação. Há o sujeito que vai vender a alma ao diabo e nem este a aceita. Há o fã que morre de amores por Brad Pit e briga com duas indefesas garotas por ele, o galã hollywoodiano.
São os tiros perpetrados por Bortolotto em “Postcards de Atacama”. Em mais um painel estilhaçado pelo instinto passional, capaz de amar e odiar, sua atuação não se distingue das anteriores. O ator Bortolotto foge de qualquer traço de psicologismo. Os personagens que vive em cena, depois de criá-los no papel, constituem o próprio no limite.
Bortotti compõe um Toddy entorpecido. O intérprete deixa muito claro o tênue fio que separa a loucura da razão. Suas indagações são pertinentes àqueles que não passam pela vida à toa, sem que a tenha nas mãos, por inteiro, ou deixe escorregá-la feito água.
Fernanda D’Umbra também faz da sua Mae um ser em suspenso. Seu oinar enxerga o infinito, mas não sabe como chegar lá. E uma atuação digna de poeta pertubada. Gabriela Schwab, como Nico, é a outra mulher etérea, dona de si e submissa a quem ama. A atriz espelha essa impulsividade em movimentos corporais bruscos, acrescentando elementos à cena.
Aos coadjuvantes Joeli Pimentel, Carla Meneguella, Aline Abowski e Pedro Fiori, compete a veia cômica. E dá-lhe esquetes estriônicos, algo escatológicos, que funcionam muito bem como válvula – e complemento – do drama.
A direção de Bortolotto é a mais solta possível. Dentro desse “à vontade”, porém, ergue-se a empatia do Cemitério de Automóveis com o público. São atores despojados, intensos, dispostos a dar o melhor de si para ganhar o personagem, primeiro, e depois o espectador, como conseqüência.
O blues está na trilha e no coracão do diretor e ator, cutu cando tristeza e alegria esmaecidas nos quatro cantos do quarto e do mundo.
Postcards de Atacama – Texto e direção: Mário Bortolotto. Com Cemitérios de Automóveis (Aline Abowsky, Everton Bortotti, joel Pimentel, Pedro Fiori e outros). Quinta a sábado, 21h30; domingo, 20h30. Centro Cultural São Paulo (rua Vergueiro, 1000, tel. 277-3611). R$ 12,00. Duração: 60 minutos.
Bortolotto diverte-se com coisas sérias
São Paulo – Divertir-se falando de coisas sérias – eis o axioma que melhor define a dramaturgia do paranaense Mário Bortolotto, 35 anos. Segundo ele, sua obra, composta por 25 textos até aqui, se afina mais com a de Plínio Marcos (“Navalha na Carne”, “Dois Perdidos Numa Noite Suja”).
Mas o “maldito” Bortolotto não liga muito para a pecha. Não lhe ocorre, por exemplo, perambular pelas portas de teatro com seus livros debaixo do braço, oferecendo para os espectadores. “Há momentos em que eu gostaria de jogar tudo para o alto e ficar em casa jogando videogame”, confessa. E o tipo de artista que prefere o boteco da esquina a paparicadas estréias de teatro.
Para o dramaturgo, uma história sempre começa com “o umbigo da gente”. Ou seja, tudo o que se vê em cena tem relação direta ou indiretamente com sua vida.
Boa parte dos textos – senão todos – foi montada pelo Cemitério de Automóveis. Junto com “Postcards de Atacama”, recém-estreada, o auto lança o segundo volume de “Seis Peças de Mário Bortolotto” – que inclui aquela, mais “Nossa Vida Não Vale um Chevrolet”, “Uma Fábula Podre”, “Curta-Passagem – Quatro Pocket Peças”, “À Queima-Roupa” e “A Lua é Minha” – esta inédita, que também deve ser montada até o final do ano.
A crítica ainda não deu a devida atenção ao dramaturgo. Sua obra retrata com precisão o tanto de angústia que aflige a geração que está na casa dos 30. Sexo, droga, rock’n’roll, política, universidade, solidão, insegurança, enfim, suas peças vão direto ao assunto, sem concessão e com saco cheio da retórica herdada.
O Bortolotto diretor não desenvolveu propriamente uma técnica. Tem afinidade com marcação de cena, mas suas montagens são pobres em recursos cenográficos ou visuais. Pobres no sentido em que seu trabalho comporta. Daí a ênfase no trabalho de ator.
Neste quesito, o ator Bortolotto é dono de um forte carisma em cena. Há um deboche, um “estar nem aí”, um lampejo de explosão facial, um gesto brusco, enfim, a tensão é regra em suas interpretações, como se viu em “Santidade”, dirigido por Fauzi Arap.
Há também o Bortolotto vocalista de banda. Canta levadas de blues e rock na Garagem Hermética, de Londrina (PR), sua cidade natal. O primeiro CD da banda sai em breve. Ah, sim, há também o poeta Bortolotto…
“Cantos Peregrinos” ecoa latinidade
5.7.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 05 de julho de 1998. Caderno A – 4
Comédia musical se passa num bar; deixa público à vontade e resulta em experiência rara
VALMIR SANTOS
São Paulo – A gênese do bem e do mal se equilibra na língua de Renata Zhanetta. Ou melhor, desliza pelo seu corpo lascivo, irradia para a platéia embevecida. Sua encarnação da deusa Lilith em “Cantos Peregrino” é dos momentos luminosos que só o teatro sabe proporcionar.
E não o seria, com certeza, sem a participação de um elenco não menos afinado com a comédia musical de José Antônio de Souza. Cada um em sua medida, quer atuando, cantando ou tocando algum instrumento – ou ainda fazendo as duas coisas -, Rafael Leite, Rogério Bandeira, Luiz Montes e Dagoberto Feliz transformam a montagem em experiência única.
O clima de taberna se instala completamente no bar localizado no saguão do Teatro Ruth Escobar. Ao contrário, das filas convencionais, aqui a platéia permanece distribuída em mesas, descendo bebida goela abaixo ou fumando à vontade. O horário das sessões – sempre à meia-noite – colabora ainda mais para o cordão intimista. (Não se cobra ingresso, mas pede-se uma colaboração do espectador, ao final, conforme seu entusiasmo e bolso).
“Cantos Peregrinos” rompe a dicotomia bem/mal para trazer à tona o céu e o inferno que habita o coração de cada um. Há uma humanização sensível de Deus (Feliz) e de Lúcifer (Bandeira), por surpreendente que seja, expondo esses entes como meros mortais, sujeitos às vicissitudes de toda sorte.
Lilith é quem mede as forças e, no fundo, faz valer as suas próprias no embate entre Deus e Lúcifer, ambos prostados diante da musa comum.
O “trio de velhos flutuantes” espelha o triângulo que os seres humanos carregam como cruz, graças à moral religiosa. O que o autor faz é uma ode à liberdade bruta e possível, sim, mas há anos luz do que se concebe o viver.
Não é à toa que o teatro, a música, a poesia, a arte em si, representam searas em que o conteúdo humano resplandece na sua essência mais palpável. A noitada de “Cantos Peregrinos” atinge esse estado de imanência, de bem-estar entre os seus, de comunhão de vida no riso solto e no canto suave.
Põe-se um pé na realidade, com seu Muro de Berlim, sua pseudo-nova ordem mundial, o velho truque da porta do aeroporto como única saída diante do avanço da esquerda, enfim, mas trata-se de um pé na realidade que não está dissociado da alegria de viver (a conjugação insistente do verbo reflete a natureza do espetáculo) – fim último a que deveria ser condenado todo ser vivo.
Em sua festa dionisíaca, a comédia musical tem o mérito de não enveredar tanto pelo plano do insondável. Ao contrário, tudo se passa às claras; as palavras recebem todos os pingos nos “is”; tudo flui sem a mácula da possessão, do tangenciamento do público.
A alcova abriga Deus, Lilith e Lúcifer com harmonia celestial. Nem o “divino impostor”, nem “sua face feminina” e nem o “soberbo, orgulhoso e vaidoso” decepcionam na banda que os unem. Instigam ouvidos e olhos do espectador, envolto em uma sensualidade à flor da pele que – pasmem! – em nenhum momento abusa de mostrar a bunda, por exemplo, como se vê agora até nos programas infantis.
O furacão Lilith devassa o território de Adão e Eva, dança com a serpente, desdenha da queda do homem, brinca com fogo, cisca com Lúcifer, incita os desejos secretos de Deus e provoca um fuzuê nas certezas religiosas que continuam privando o homem de ser mais honesto com seu quinhão de maldade e bondade – um existe necessariamente em função do outro.
Renata domina a cena ao bel-prazer. Dança, canta, corre pra lá e pra cá, mas sua Lilith nunca perde o fôlego. A atriz possui o carisma de um diva de cabaré.
Dagoberto Feliz é também um grande ator. Seu Deus tem o timming certo, transita com facilidade entre o teclado, o personagem-mor e o malandro subentendido. Investe do gogó à comicidade inerente.
Rogério Bandeira é outro que não perde a deixa para o escracho com seu Lúcifer. Cabe a ele a exploração do espaço, exigindo bastante expressão corporal – o que não lhe falta. É a melhor prova de que o mal está em todo canto…
Responsáveis pela percussão e violão, Luiz Montes e Rafael Leite também não se contentam como meros coadjuvantes. Leite chega ao cúmulo de fazer uma “ponta” como Anjo Gabriel, “primeiro dedo-duro da história”. A interação deles com os demais é dinâmica e faz jus ao gênio musical.
O diretor Marco Antonio Rodrigues, que faturou o prêmio Mambembe 97 com o espetáculo, extrai uma latinidade pulsante que costuma passar ao largo da cultura brasileira. Certamente, há um tanto de indicação disso no texto de Souza, na bela trilha musical executada praticamente ao vivo. Mas a identidade do continente se expressa sobretudo no conjunto.
Quem sabe, residam aí – na veia latina e ao mesmo tempo tão nossa – o envolvimento e a paixão que “Cantos Peregrinos” desperta.
Cantos Peregrinos – De José Antônio de Souza. Direção: Marco Antônio Rodrigues. Sexta e sábado, à meia-noite. Teatro Ruth Escobar (rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 289-2358). Entrada franca (pede-se uma contribuição ao final da apresentação). São servidos bebidas e aperitivos durante o espetáculo. Duração prevista é de 60 minutos. A peça ficará em cartaz até o próximo dia 1º de agosto.
Fraternal Cia. de Artes estaciona com “Iepe” correto
São Paulo – Já no programa do espetáculo, o autor Luís Alberto de Abreu e o diretor Ednaldo Freire assumem a mudança de rumo da Fraternal Companhia de Artes e Malas-Artes.
Depois da tetralogia (“O Parturião”, “O Anel de Magalão”, “Sacrafolia” e “Burundanga”) que imprimiu a marca da genuína comédia popular brasileira, a pesquisa agora estabelece uma ponte entre a cultura escandinava e a tupiniquim, com direito a uma pitada de Rabelais, influência declarada do dramaturgo.
Explica-se: a nova montagem da trupe, “Iepe”, é uma adaptação do clássico “Jeppe”, do dinamarquês Ludwig Holbert (1684-1754). O que Abreu propõe é uma espécie de globalização da veia popular.
A estrutura do texto é rica em informações universais, mas a sua concepção fica aquém do esperado.
Um dos melhores dramaturgos do País na atualidade, Abreu vem mostrando no Projeto Comédia Popular Brasileira, da Companhia Fraternal, uma habilidade peculiar em lidar com o genero.
Ele que, aliás, demonstra igual segurança com o drama, como se viu em “A Guerra Santa” e “O Livro de Jó”.
Mas o problema de “Iepe” é antes, como se disse, sua concepção. Para quem já ganhou platéias em ebulição – geralmente público que vai pela primeira vez ao teatro -, com seus tipos de forte apelo popular, como o quarteto Matias Cão, João Teité, Mateúsa e Marruá, “Iepe” representa um recuo no repertório e estanca a evolução que a companhia experimentava a cada encenação.
Trata-se da história do beberrão Iepe, maltratado pela mulher Neli e coroado rei da noite para o dia, na melhor tradução do sábio chinês que sonhou que era uma borboleta e, depois, não sabia se era ele mesmo uma borboleta sonhando que era um sábio chinês.
Os dois personagens surgem em duplo: dois atores (Gilmar Guido e Ali Saleh) interpretam o balofo Iepe, enquanto duas atrizes (Izilda Rodrigues e Mirtes Nogueira) se encarregam da buchuda Neli.
Mesmo com essa duplicidade, a dinâmica do jogo cênico, ao longo de cerca de 100 minutos, não chega aos pés da ligeireza que um Matias Cão (já interpretado pelo próprio Saleh), por exemplo, cometeu nas encenações anteriores.
A direção de Ednaldo Freire, até então projetada de dentro para fora, com o elenco em movimento de expansão, surge agora como que racionalizada, O elenco é basicamente o mesmo da tetralogia e, portanto, tem potencial suficiente para ir de encontro ao público com mais tarimba, desenvoltura; sem se deixar intimidar pelo aura amadora que ainda persiste, aqui e ali.
Em “Iepe”, tudo está tão armado em função do tempo e doespaço cênico que o brilho individual é ofuscado na interpretação. Em troca do desabuso, a contensão.
Saleh ainda se esforça, como na cena em que tenta “andar” com a barriga, com a cabeça, com o bumbum, enfim, com tudo, menos com as pernas.
Estão lá também um tanto de cacoetes, gírias e até uma dose considerada de escatologia, Porém, falta o magnetismo que a Fraternal não poupou sequer em seu dublê de auto de natal, “Sacra Folia”, um desbunde.
Os figurinos e adereços de Luis Augusto dos Santos e Fábio Lusvarghi capturam as cores da região escandinava e encontram uma fusão interessante com a perspectiva camponesa do brasileiro.
“Iepe” é, numa só palavra, um espetáculo correto, capaz de “segurar” sua platéia de estudantes – público alvo. Mas é uma merenda arroz-com-feijão. Sinceramente, o currículo da Companhia Fraternal a credencia para muito mais.
Iepe – De Ludwig Holberg. Adaptação: Luís Alberto de Abreu. Direção: Ednaldo Freire. Com Companhia Fraternal de Artes e Malas-Artes (Nilton Rosa, Edgar Campos, José Bezerra, Nelson Belintani, Fábio Visconde, Keila Redondo e outros). Sexta e sábado, 21h; domingo, 19h. Teatro Ruth Escobar (rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 289-2358). 100 minutos. R$ 10,00 (entrada franca para terceira idade). O espetáculo poderá ser visto até o dia 2 de agosto.
Zé Celso dá uma aula de resistência
5.7.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 05 de julho de 1998. Caderno A – 4
Livro “Primeiro Ato” reúne textos publicados pelo ator e diretor do Oficina entre 58 -74
VALMIR SANTOS
São Paulo – José Celso Martinez Corrêa, ou simplesmente Zé Celso, é daqueles poucos que se entregam de corpo e alma ao teatro, sem concessões. Já lhe pespegaram adjetivos de toda sorte -subversivo, preguiçoso, pornográfico, para citar alguns. Mas Zé Celso é refratário a ataques, sobretudo àqueles investidos de ódio pequeno-burguês. Ele se esquivou desde picuinhas da classe à perseguição cerrada do regime militar. O que sobressai nos 40 anos do Oficina, hoje Cia. Uzyna Uzona, é a coerência ideológica e estética do ator e diretor e um dos fundadores do grupo.
Os primeiros 16 anos do Oficina são tema do livro “Primeiro Ato – Cadernos, Depoimentos, Entrevistas (1958-1974)”, um apanhado do que Zé Celso escreveu naquele período. Sob organização de Ana Helena Camargo de Staal, a obra apresenta uma base documental e histórica que ecoa o esforço e a persuasão do diretor do Oficina em registrar a sua época.
Claro, Zé Celso traduziu a sua época, antes de mais nada, no palco, na celebração dos espetáculos que constituem, ontem e hoje, sempre uma experiência particular a cada noite. Mas a maneira como ele deixa jorrar as palavras no papel tem muito a ver com sua conduta no ensaio ou na apresentação em sim. Seus textos, mesmo quando em tom de protesto, de conclamação, resultam em poesia visceral, esponjosa, desconexa.
Ainda que vá direto à ferida, como na carta aberta ao crítico Sábato Magaldi, por ocasião da montagem de “Gracias, Señor” (1972), ainda assim, Zé Celso não perde a graça. Perde a piada, mas não a alegoria.
Os textos, alguns semi-catataus, foram publicados em jornais ou revistas especializados em teatro; na imprensa comum ou, ainda, fruto de depoimentos a estudantes. Ou melhor, nem sempre foram efetivamente publicados. “SOS”, por exemplo, o manifesto lançado logo após a invasão do Teatro Oficina, pela polícia, em 20 de abril de 1974, foi recusado pelas redações de todo o Brasil (e surge aqui, na íntegra, numa das passagens mais contundentes).
Zé Celso discorre também sobre as diferentes escolas. Rodeado por atores de peso, como Renato Borghi, Etty Fraser, Fauzi Arap, Célia Helena etc, o diretor assila o método do russo Stanislavsky, por exemplo, mas não o toma por inteiro e definitivo. Bom antropófago, ele prefere a mistura de técnicas a partir de uma realidade tupiniquim. O mesmo se dá em relação aos americanos do Living Theatre com o happening, com o qual a crítica chegou a rotular o trabalho do Oficina.
Ao final de “Primeiro Ato”, temos uma aula de resistência. Impressiona como Zé Celso e seus atores “vudizaram”, como ele gosta de dizer, todos os entraves que surgiram no caminho do Oficina em seus primeiros anos – desde truculências até o incêndio do teatro, passando pela pindaíba da trupe. O livro fundamenta a religião teatral que arrebanhou todos que, um dia, pisaram no terreno da rua Barão de Jaceguai, Bela Vista.
Primeiro Ato – Cadernos, Depoimentos, Entrevistas (1958-1974) – De José Celso Martinez Corrêa. Seleção, organização e notas: Ana Helena Camargo de Staal. Editora 34 (tel. 816-6777). 335 páginas. R$ 29,00.
“Casa do Sol” busca tempo perdido
21.6.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 21 de junho de 1998. Caderno A – 4
Texto de Solange Dias harmoniza com direção de Villavicenzio ao retratar drama
VALMIR SANTOS
São Paulo – Em busca do tempo perdido, eis a sina da personagem central de “A Casa do Sol”. Dora vislumbra a chegada da morte e promove uma retrospectiva da sua vida na qual a angústia, descobre tardiamente, foi regra.
O texto de Solange Dias, uma das dramaturgas emergentes na cena paulista, captura o sentimento de amargura que ocupa os últimos dias de Dora. Uma mulher como muitas, arrependida de ter desprezado as chances que teve para experimentar a felicidade em vida, por mais efêmera que fosse.
Dora casou-se por conveniência com um militar. Teve um filho, seguiu o modelo tradicional. Até o dia em que Lucas (Cássio Castelan), um fotógrafo, colega do marido, a resgata para o universo do desejo.
E essa dicotomia, entre paixão e convenção, que está no centro da peça. Dora chega a optar pelo rompimento, sim, mas seu destino é de tal forma emaranhado que não vinga.
Em certa medida, “A Casa do Sol” lembra a história do filme “As Pontes de Madson”, protagonizado por Clint Eastwood e Meryl Streep. No texto de Solange Dias, vemos a mulher que termina por anular-se, em função das aparências, e só percebe o quanto isso lhe custou na velhice.
A estrutura narrativa recorre ao flashback e interpõe a Dora jovem (Daniel Carmona) com a Dora velha (Ana Ferreira). Esta é quem, de fato, costura a peça.
É através da sua memória estilhaçada que se recompõe uma história de amor e dor, por mais pobre que seja a rima.
“Ah, como o tempo demora a passar! E, no entanto, aquele que já passou, passou tão depressa” – esta é a primeira fala de Dora. O deus Cronos, sem cicatrizes, mandará outros sinais ao longo da peça. “Estou com medo do tempo”, deduz ela, de novo, agora em pleno dia de casamento. “Se o tempo fosse um filme, eu voltava… Eu cortava!”, consola-se, sempre “com os olhos perdidos no tempo”, como observa o marido, Urbano (Atílio Beline Vaz).
Aglutina-se dramas paralelos. Vitória (Liliana Junqueira), a irmã de Dora, alimenta uma paixão obssessiva pelo sobrinho, Samuel (Emerson Meneses), castrada pelo pai dele, Urbano.
O rito de passagem de Samuel, quando se descobre um “homem” nos braços da tia, é dos pontos de maior tensão. Desencadeia uma série de acontecimentos que vão derrubando, aos poucos, as máscaras de cada um.
A morte que vem buscar Dora é representada pela figura da Menina (Carolina Bonfanti), um misto de anjo de guarda e Emília, a boneca do “Sítio do Pica-Pau Amarelo”. A relação delas é de muita ternura, parcimônia. É ela, a Menina, quem serve de interlocutora para as memórias de Dora.
Não há como isolar as atuações em “A Casa do Sol”. Alna Ferreira e Daniela Carmona passeiam por suas Doras com segurança e envolvimento. Os papéis masculinos correspondem aos perfis de Urbano (Vaz na retidão militar), Samuel (Meneses na gana adolescente) e Lucas (Castelan na utopia pessoal em detrimento do coração alheio).
O diretor Hugo Villavicenzio, que vem de montagens calcadas na exigência física dos atores – fruto da influência do teatro latino-americano, ele que é peruano -, desta vez acentua a palavra e o tempo psicológico de cada personagem.
A movimentação dos atores se dá mais em função do belo casarão onde o espetáculo é encenado, no Parque da Água Branca. Villavicenzio, que também assina a cenografia, utiliza-se de projeção de vídeo para ilustrar as lembranças de Dora, em preto e branco, apoiando a narrativa.
A acústica deficiente do espaço não chega a afetar a compreensão do texto. Os figurinos e caracterizações de época (anos 30, 40) são de Vaz. O canto lírico de Lilian Junqueira e o piano de Roberto Anzai injetam um tanto de leveza na trajetória de personagens tão oprimidos, não raras vezes por eles mesmos.
No retrato sem retoques de uma família convencional, “A Casa do Sol” emana a densidade de um García Lorca. O texto e a direção casam-se perfeitamente, extraindo poesia das sombras da alma.
A Casa do Sol – De Solange Dias. Direção: Hugo Villavicenzio. Quinta a sábado, 21h; domingo, 18h. Casarão Sede do Fundo Social/Parque da Água Branca (avenida Francisco Matarazzo, 455, estacionamento gratuito – entrada pela rua Ministro Godoy). R$ 20,00 (nos dias 3 e 17 de julho e 14 de agosto o ingresso equivale a dois quilos de alimento não-perecível ou agasalho). Duração: 100 minutos. Até 16 de agosto.
Peça projeta solidariedade com poesia
São Paulo – A caixa de imagens cresceu. Não é mais a moldura quadrada, onde os pequenos bonecos são agigantados pela magia gestada pelos seus manipuladores. A Caixa de Imagens, que dá nome ao grupo, agora espalha seu encanto por todo o espaço cênico.
Em “Tão… Feliz”, os manipuladores/atores mostram seus rostos em pêlo, assim como as mãos. Estão efetivamente cada vez mais próximos dos bonecos, como a humanizá-los.
A interação se dá também pela voz. Quer através de canções (“Procuro o silêncio do barulho”, diz o verso de uma delas), quer através da pantomima ou de sons onomatopáicos, enfim, cria-se uma extensão vital para seres muito além da inanição, mesmo quando adormecidos num sótão.
Mas a imaginação continua regendo os espetáculos do Caixa de Imagens, como sempre o fez nesses quatro anos de atuação do grupo.
“Tão… Feliz” reflete maturidade e dá margem a novas pesquisas de linguagem no universo dos bonequeiros. A principal resolução vem a reboque do conteúdo dramático das cenas. Tudo começa com um velho pintor em sua angústia para exercitar o talento numa metrópole caótica.
Depois temos o personagem que resume a peça. Trata-se de um mendigo carismático, inofensivo, como muitos que perambulam pelas ruas da cidade. (Ele foi inspirado em mendigo da vida real que, certo dia, fez uma poesia para o grupo após uma apresentação de rua – e nunca mais deu o ar da graça).
Sua vidinha é preenchida pela leitura de jornal (alheios, como o inferno, são os outros); mordisca um pão que, a duras penas, tenta reparti-lo; e sofre com o corte em seu pé, depois socorrido com mercúrio cromo por um voluntário da platéia.
Aliás, a cada noite o Caixa de Imagens convida um ator para contracenar com os bonecos. Duas semanas atrás, foi a vez de Hugo Possolo, um dos palhaços convictos dos Parlapatões, Patipes & Paspalhões.
E tudo se passa no âmbito da pracinha, do banquinho. À margem da vida – o velhinho em sua solidão artística, o mendigo em sua carência material -, ambos celebram o gesto de solidariedade que faz a diferença.
Por trás de tanta amargura (a buzina, o choro), resta a poesia, o olhar acalentador de perceber-se no próximo. “Tão… Feliz” é um canto de união. Bebe da nostalgia de um espaço mútuo de convivência, de respeito. E, de quebra, liberta o passarinho do realejo na ânsia de que ele traga alvíssaras – hoje e sempre, enquanto há tempo.
Carlos Gaúcho, Mônica Simões, Evelyn Cristina e Fábio Coutinho encontraram o tom certo. Os bonequeiros do Caixa de Imagens são atores na acepção graúda da palavra. Recriam a mentira dos personagens para construir a verdade que seduz e toca, com equilíbrio, o coração de adultos e crianças.
Tão… Feliz – Roteiro e direção: grupo Caixa de Imagens. Domingo, 17h e 19h. Teatro Cultura Inglesa/Vila Mariana (rua Madre Cabrini, 413, tel. 549-1722). R$ 10,00. Duração: 45 minutos. Até 28 de junho.
‘Santa Joana’ critica ‘vida de gado’
14.6.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 14 de junho de 1998. Caderno A – 4
Companhia do Latão atualiza peça de Brecht com talento e técnica de jovens atores
VALMIR SANTOS
São Paulo – Antes do espetáculo, o público aglomera-se no saguão do Teatro João Caetano. A procissão dos “soldados de Deus” surge no meio da multidão. Depois de breve discurso, apresenta-se Joana, a líder carismática. Os “soldados” então convidam os espectadores a entrar pela lateral externa do teatro, via porta e corredor estreitos. O aperto, ombro a ombro, transmite sensação de que a massa é conduzida para um abatedouro, feito gado. A propósito, é assim que começa “Santa Joana do Matadouro”, a nova montagem da Companhia do Latão.
Escrita há quase 70 anos, a peça de Bertolt Brecht (1898-1956) guarda uma atualidade impressionante com os tempos que correm. O autor, cujo centenário de nascimento é lembrado este ano, tomou alguns clássicos da literatura universal – como Goethe, Hõlderlin e Schiller – para construir uma paródia do ideal humanista à época, ainda sob efeito do crash de Nova Iorque em 1929 – aliás, quando a peça começou a ser escrita.
Aqui, Joana está a serviço do Exército da Salvação, entidade de cunho evangélico. Ela prega a não-violência no embate entre operários famintos e patrões que dominam a indústria da carne enlatada na Chicago forrada de gângsters.
O discurso gandhiano de Joana é levado à exaustão. No afã de “mostrar a eles que eles não são maus”, referindo-se aos patrões, ela chega ao ponto de trair seus companheiros boina-pretas em uma greve. Mas depois é“canonizada” pela opção pelos pobres.
Pedro Paulo Bocarra, o rei da carne industrializada – ele não dá um passo sem o aval dos “amigos de Nova Iorque” – é o antagonista da história. Mesmo preferindo o cheiro de cavalo ao do “populacho”, vê seu dique capitalista rompido pela “santa” Joana, mulher que lhe provoca certo encanto.
No duplo jogo entre a contemplação da porta-voz dos operários e a manipulação desta em favor do próprio bolso – não cede uma nesga sem que lhe seja revertido em dobro –, Bocarra é a perfeita tradução daquela meia dúzia de cérebros que operam a máquina capitalista com frieza ímpar.
A atualização de “Santa Joana dos Matadouros” é certamente um dos atributos que levam o pesquisador e tradutor Roberto Schwarz a classificá-la como uma das peças mais importantes do século. Alude, por exemplo, no Brasil, aos recentes saques de alimentos pela população carente e aos conflitos pela terra.
Na montagem da Companhia do Latão, a história ganha um tratamento farsesco, como o dramaturgo alemão sugere. Sobretudo nas interpretações, sempre a recriar o conceito de distanciamento tão propagado pelo Brecht diretor.
Gustavo Bayer capta muito bem o perfil apatetado de Bocarra. O sentimento de araque, a resignação dissimulada, enfim, um personagem erguido no limite entre a comédia desbragada e o nonsense. O vilão, por assim dizer, é convertido em bufão. A empatia está em ser ridículo no pódio do poder.
A vocação de mártir de Joana, edulcorada pela condição de mulher, operária e pobre, fica patente na voz clerical da atriz Débora Lobo e na postura corporal um tanto alquebrada, como se carregasse um fardo, uma cruz, ao longo do espetáculo. Cega em sua crença, a via-crúcis da protagonista lembra a de Jó em sua perseverança.
O elenco, ressalta-se, comete uma atuação uniforme. O vigor, a técnica e o talento são inerentes em cada um dos jovens atores da Latão.
A direção conjunta de Sérgio Carvalho e Márcio Marciano empresta uma dinâmica de espaço que transcende ao palco italiano. “Santa Joana do Matadouro” inventa o seu espaço-total, físico e imaginário. As cenas itinerantes se passam no saguão, do lado de fora, ao ar livre (iluminadas pelas chamas do fogo), no palco propriamente e na platéia. A inversão de papéis culmina com a entrada do público pela cochia, já captando, in loco, a tensão e o sarcasmo que pontuam a encenação.
Márcio Medina reflete atemporalidade na cenografia e nos figurinos. O tom predominantemente cinza das roupas e as correntes suspensas retratam o processo de desumanização sublimado no texto. A iluminação de Wagner Pinto e a música da dupla Walter Garcia e Lincoln Antônio complementam a densidade que se quer atingir por trás de cada esgar, de cada riso.
Talvez seja esta uma boa definição para a Companhia do Latão. Como nos espetáculos anteriores, “Ensaio para Danton” e “Ensaio sobre o Latão”, o entretenimento não vem mastigado. A erudição cede para um cadinho de coloquialismo, deixando fluir o prazer da representação. Os atores estão à vontade e não perdem o vigor do início ao fim. Disciplina e maturidade raras, diga-se, para criticar a “vida de gado” com veemência.
Santa Joana dos Matadouros – De Bertolt Brecht. Direção: Sérgio Carvalho e Márcio Marciano. Com a Companhia do Latão (Georgette Fadel, Edgar Castro, Maria Tendlau, Ney Piacentini, Otávio Martins, Vicente Latorre e outros). Sexta e sábado, 21h; domingo, 20h. Teatro João Caetano (rua Borges Lagoa, 650, Vila Mariana, tel. 573-3774). R$ 10,00. Até 26 de junho.
Grupo lança segunda edição da “Vintém”
São Paulo – A coerência estética e ideológica em assumir a pesquisa teatral como meio, e não fim, garantiram a Sérgio Carvalho e à Companhia do Latão o respeito do público e da crítica, já a caminho do seu segundo ano.
Desde maio de 97 o grupo ocupa o Teatro de Arena Eugênio Kusnet, na região central de São Paulo. Dentro do projeto Pesquisa em Teatro Dialético, lançou a revista “Vintém”, publicação que veicula as principais questões que norteam o trabalho do grupo.
O número dois de “Vintém” será lançado amanhã, no Eugênio Kusnet. Um dos destaques desta edição é o texto de Roberto Schwarz sobre “Santa Joana do Matadouro”, peça traduzida pelo próprio.
Também na próxima sexta-feira, dia 19, começa o projeto Latão Musical, que vai reunir novos nomes da MPB, como o grupo Curupira, Bando da Fuzarca, Renato Martins, Paulo Padilha e Sandra Ximenez – esta também dará oficina de expressão vocal para atores.
Vintém – Lançamento do segundo número da revista. Amanhã, às 20h. Lata Musical – Show nos finais de semana. Começa na sexta-feira, dia 19, com o grupo Curupira, às 19h. R$ 10,00. Oficina de voz – Com Sandra Ximenez. Quintas (15h às 17h) e sábados (11h às 13h), a partir do dia 25. Teatro Eugênio Kusnet (rua Teodoro Baima, 94, tel. 256-9463.
“Luzes da Boemia” expõe “cicatrizes”
São Paulo – As palavras do dramaturgo e romancista galego Ramón del Valle-Inclán (1866-1936) penetram nas entranhas. Em seus textos, os personagens raramente passam incólume à espiral em que mergulham. São seres que transitam entre o padecimento sem fim na Terra e a platitude dos céus; ora desesperançosos, ora militando nas fileiras de um Deus presumível.
A curta temporada de “Divinas Palavras” em abril, encenada pela alemã Nehle Frank, com um grupo de atores da Bahia, já introduziu o público paulista no universo onírico e ao mesmo tempo realista de Valle-Inclán. Quem dá as cartas agora é o diretor William Pereira. Ele montou “Luzes da Boemia”, outra do dramaturgo galego, tão contundente quanto. A história do poeta cego e marginal, à mercê da condição miserável em que vive, e sem abdicar da índole artística, resulta em libelo à dignidade de ser humano.
Max Estrella (Heitor Goldflus) passa a limpo a sua história naquele que se converterá em último dia de vida. Abandona a fome do lar, compartilhada por mulher e filha, e perambula por uma Madri “absurda, brilhante e faminta”. Quem o guia pelos bares e vielas é o amigo – mas nem tanto – Don Latino de Hispalis (Roberto Leite), interlocutor dileto no testamento oral.
O legado é de muita dor. “Os olhos são uns iludidos embusteiros”, filosofa o cego Max Estrella, se autoproclamando um “mero Tirésias”. “Abaixo a literatura do êxtase”, protesta o poeta, desdenhando dos “moleques modernistas”. “Onde eu vivo é sempre um palácio”, delira o homem miserável. “Eu sou um espectro do passado”, consola-se, por fim.
Mas uma peça que cita Nietzsche e Calderón de La Barca não se convalesce somente de niilismo; sinaliza também com esperança. Afinal, como escreve Valle-Inclán, as coisas não são como a gente as vê, mas como as recordamos. E o que sobra de “Luzes da Boemia”, ao final, é a convicção de que o exercício de uma ética, por mínimo que seja, foi e continua sendo a base para tudo na vida.
Os personagens deformados fisicamente, a sabujice do amigo traidor, a excrescência do jornalista travesso (atuação hilária de Plínio Soares), os intelectuais infantilóides, a secretária estúpida, o ministro canalha, o povo esfarrapado que passa fome na rua, enfim, o painel pintado pelo autor é demasiadamente humano.
O operário Mateus (Olair Coan) que Max Estrella encontra na prisão, recluso pela brutalidade militar, é o personagem de resistência. E pela dignidade deste que o poeta chora de impotência e raiva. O abraço dos dois na cela, diante da morte anunciada, é tocante.
Serve como contraponto ao abraço frouxo e distante que o próprio Estrella experimenta quando encontra um amigo de outrora, hoje enfastelado na cadeira de ministro. Vinte anos depois, não sobrou nada dos ideais que trocavam no passado.
Há uma dureza física e, ao mesmo tempo, uma fragilidade iminente na interpretação de Heitor Goldflus. Seu Max Estrella não é arrogante nem piedoso. A couraça, no entanto, vai-se desmontando aos poucos. A visão retomada à beira da morte, ele tremendo, sugere uma brecha para o porvir. Uma atuação circunscrita ao universo interior. Mas não necessariamente intimista – há uma reserva no personagem que Goldflus faz questão de manter.
Não se trata de espetáculo fácil. Como o fez em “Sinfonia de Uma Noite Inquieta – Ou o Livro do Desassossego”, Pereira soube cavocar a alma esmerilhando a palavra, o gesto e a plasticidade cênica.
A dramaturgia de Silvana Garcia, os figurinos de Leda Senise, a iluminação de Guilherme Bonfanti e a cenografia assinada pelo próprio diretor, enfatizando o vazio no espaço, resultam numa montagem bem cuidada. O trabalho já valeria por reluzir a poesia de Valle-Inclán neste final de milênio, a lembrar as cicatrizes eternamente abertas, o lado escuro de nossas vidas. Mas “Luzes da Boemia” vale muito mais porque é teatro maior, com poder brutal para emocionar.
Luzes da Boemia – De Ramón del Valle-Inclán. Direção e tradução: William Pereira. Com Angela Barros, Carlito Salvatore, Clarissa Drentchinsky, Cristina Rocha, Gustavo Engracia, Ivan de Almeida, Newton Milanez, Pedro Paulo Eva, Telma Vieira e outros. Quinta a sábado, 21h; domingo, 19h. Teatro Arthur Azevedo (rua Paes de Barros, 955, Moóca, tel. 292-8007). Duração: 120 minutos. R$ 10,00. Estacionamento gratuito. Até 28 de junho.
Reestréia a montagem “Sinfonia”
São Paulo – Um dos mais belos espetáculos da temporada passada reestreou no Teatro Faap, na Capital, em horário alternativo.
“Sinfonia de Uma Noite Inquieta – Ou o Livro do Desassossego”, que o diretor William Pereira – o mesmo de “Luzes da Boemia” – adaptou da obra de Fernando Pessoa, constrói uma espécie de poema cênico, onde os quatro intérpretes (Adriana Mendonça, Patrícia Zuppi, César Guirao e Frederico Foroni) revezam-se na pele do escritor português.
O espetáculo reflete sobre o negativismo na obra de Pessoa.
A adaptação foi fundo na evanescência do “Livro do Desassossego”, o diário que só veio a público em 1982, 47 anos depois da morte do poeta.
O Fernando Pessoa que está no palco, quadruplicado, é bastante representativo do homem que mutiplicou-se porque sua literatura era maior que e1e.
Sinfonia de uma Noite Inquieta – De Fernando Pessoa. Adaptação e direção: William Pereira. Terça e quarta, 21h. Teatro FAAP (rua Alagoas, 903, Pacaembu tel. 3662-1992, estacionamento gratuito). Duração: 80 minutos. R$ 20,00. Contato para escolas: tel. 258-6740. Até 24 de junho.
Lago elogia o prazer de viver
31.5.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 31 de maio de 1998. Caderno A – 4
“Boemia e Política” narra trajetória do ator, escritor, cantor e compositor
VALMIR SANTOS
São Paulo – Talvez seja um tanto difícil, para as novas gerações, imaginar o manancial memorialístíco que está por trás daquele senhor de cabelos grisalhos, aparência frágil, em plena forma nas novelas da Globo. Mário Lago comporta o epíteto de artista total. Aos 87 anos, o co-autor do samba “Ai, Que Saudades da Amélia” ganha uma biografia que, pelo intertítulo – “Boemia e Política” – dá conta da transcendência poética e humana com a qual o ator, escritor, cantor e compositor vem pautando a vida.
A historiadora Mônica Velloso fez um trabalho de fôlego para reconstituir a trajetória do artista. Além de um total de 15 horas de entrevistas, nas quais Lago falou à vontade, deixando fluir as reminiscências, a autora escarafunchou o Centro de Documentação da Funarte, o Museu da Imagem e do Som (MIS), a TV Globo, o Arquivo da Rádio Nacional e a Biblioteca Nacional. Sem contar a colaboração fundamental dos filhos. Foram pinçados episódios e fotos inéditas que vêm a público.
Ainda garotinho, Lago já tomava aulas de piano com Lúcia Villa-Lobos, mulher do célebre compositor. Ainda que um tanto arredio à música clássica naquela época, ele, como bom carioca da gema, já tendia para enveredar pelas vielas do morro da Lapa. O jovem consumiu ali a sua tendência para a boemia. Naqueles românticos anos 20 (finalzinho) e 30, despontou como um bamba.Meteu-se no meio da plebe, por assim dizer. Frequentou ruas, cafés, cabarés. Bebeu da fonte popular, contrariando os pais que batiam pé sobre as errâncias daquele moço.
Em 1942, uma parceria com Ataulfo Alves rendeu “Ai, Que Saudades da Amélia”. No início, a música não encontrava intérpretes. Moreira da Silva chegou a desdenhar: pre viu que se tratava mais de uma marcha fúnebre do que carnavalesca. Ledo Engano. Ataulfo gravou ele mesmo, acompanhado de Jacó do Bandolim e grupo Academia do Samba. “Amélia” explodiu e tornou-se um dos marcos da nossa música popular. Ao ponto do “Aurélio” citá-la como verbete: “Mulher que aceita toda sorte de privações e/ou vexames sem reclamar, por amor a seu homem”.
Só mais de uma década depois Lago revelou que a Amélia da música existia de verdade. Era a empregada de Aracy de Almeida e seu irmão, Almeidinha. “Com essa explicação, desiludi milhares de Amélias que se julgavam homenageadas. Mas, em compensação, ganhei tranquilidade doméstica. Minha esposa até hoje era cismada com essa tal de Amélia…”, conta.
O ingresso na rádio aconteceu pelas mãos de Oduvaldo Vianna, que gostou da voz de Lago em um espetáculo teatral e o convidou para trabalhar na Pan Americana. O artista não só assimilou os macetes do novo veículo, chegando a comandar programas de auditório em sua fase de ouro, como teve em Vianna, dos mais importantes dramaturgos do país à época, uma escola e tanto para o teatro. Já vinha de escrever revistas desde 1993, mas dali em diante passou a esmerar-se nos diálogos.
Depois de 17 anos de rádio – a última em que deu expediente foi na Nacional -, Mário Lago mergulha de vez na televisão. Desde 1954 fazia uma coisa aqui, outra ali. Mas o lance decisivo foi sua entrada na Globo, em 1966, na novela “Sheik de Agadir”. Um dos seus melhores momentos, lembra, foi em “O Casarão” (1976), na qual interpretava Atílio. Foram, ao todo, cerca de 50 novelas – atualmente ele pode ser visto na minissérie “Hilda Furacão”. O personagem? Olavo, claro, um boêmio enamorado da protagonista.
Mas Lago nunca foi muito condescendente com o veículo-mor das massas. “A TV é fascista. Ela não dá o direito de sonhar, de construir os seus sonhos. A TV apresenta um galã e diz: o galã é esse! Você não tem o direito de imaginar que seja outro. O jardim não é outro, senão este. É uma postura fascista da TV, ela tira a ilusão do sonho, da criatividade e da imaginação”, declarou em 1978, à revista “Status”. Como se vê, nada mudou.
Lago sempre se distinguiu do ramerrão de artistas globais que parecem viver em outro país. Jamais abandonou a militância política; fez jus à coerência ideológica. Foi ligado ao Partido Comunista do Brasil (PCB) durante 50 anos. Experimentou sua primeira prisão em 1932. Para se ter uma idéia do envolvimento, um comício serviu de palco para o primeiro encontro com Zeli, a mulher com quem viria a se casar depois, mãe dos seus cinco filhos.
O período mais brabo se deu a partir do golpe de 64, quando foi detido várias vezes, perseguido pelo Departamento de Ordem Política e Social (Dops). Lago era do tipo que botava ordem, sim, nas quatro paredes do cárcere: delegava tarefas, pedia para os amigos ministrarem cursos de acordo com a especialidade de cada um. Enfim, transformava o xadrez em local de entretenimento social e humano, por mais duro que fosse. Nos anos 80 e 90, Lago participou de campanhas do Partido dos Trabalhadores (PT), demonstrando sua simpatia com a candidatura de Lula.
Cinema também foi praia frequentada por Lago. Atuou em filmes como “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha, e “São Bernardo” (1973), de Leon Hirszman.
Enfim, vai-se falar de Mário Lago em tudo quanto é manifestação cênica, radiofônica ou visual. Ele continua rodando o País com seu show intimista, onde relata “causos” e canta suas composições diletas.
Em recente entrevista ao programa “Roda Viva”, da TV Cultura, declarou que o melhor conselho para os jovens é viver tudo que tem para ser vivido. Pense menos e vá à luta, realize- foi mais ou menos a mensagem com a qual Lago fechou o programa.
Lendo “Boemia e Política”, compreende-se a extensão da sua filosofia de boêmio, ideólogo e artista. Lago aprendeu cedo que não vale a pena dissociar o prazer do curso da vida já um tanto dolorida, da concepção ao crepúsculo.
Mônica lança mão da linguagem acadêmica e deixa vir à tona o coloquial, inserindo falas do biografado a todo instante, como a trazê-lo para o primeiro plano no “diálogo” com o leitor. A pesquisa é detalhada e está longe do enfado. Ressalta-se o “álbum” de fotografias, dividido em fases. Temos, por fim,. um homem que vive há 87 anos e não perdeu o sorriso maroto. (Valmir Santos)
Mário Lago – Boemia e Política – De Mônica Velloso. Editora Fundação Getúlio Vargas (avenida 9 de julho, 2.029, tel. 281-7875). 402 páginas. R$ 29,00.
Tapa espia tédio secular com “Ivanov”
24.5.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 24 de maio de 1998. Caderno A – 4
Primeira montagem do texto de Tchecov prima por direção equilibrada e boas atuações
VALMIR SANTOS
São Paulo – Mesquinhez e idiossincrasias à parte, o tédio desenha a sombra dos personagens de “Ivanov”. O sentimento é citado pelo menos sete vezes no espetáculo traduzido e dirigido por. Eduardo Tolentino de Araújo, com o grupo Tapa.
Um século atrás, o autor russo Anton Tchecov já diagnosticava o enfado subliminar no universo dos negócios e da família. É paradoxal que, às portas do terceiro milênio, o poder segue espelhando a falência humana. Constata-se: não há avanço
tecnológico para o tédio.
Ivanov é um ser completamente ilhado em si. “Viver para mim é uma tortura”, resume. O fazendeiro vai à bancarrota e, a reboque, questiona a relação com a mulher Anna, que é judia. Casou-se mais em função de um dote de família – que nunca veio – do que por amor. Não admite, mas é o que Anna lhe joga na cara.
Em plena crise, o “homem bom, mas tão infeliz” experimenta uma nesga de vida. A jovem e bela Sacha o seduz. Num primeiro momento, ele resiste. Não crê que o destino lhe conceba tal alegria à beira do abismo. Sacha, no entanto, o envolve de tal maneira que catalisa sua paixão.
Foi a gota d’água para Anna. Ela se convalesce na cama e como que culpa Ivanov pela iminência da morte. Culpa capitalizada pelo médico Lvov, racional até a medula: “Você está matando sua mulher”, sentencia. Foi a pá de cal para m Ivanov prostrado com as “cruzes” sobre os ombros.
O drama de Tchecov é tido como uma das peças menores, se comparada a “O Jardim das Cerejeiras”, “As Três Irmãs”. A montagem do Tapa é a primeira do texto de que se tem notícia no Brasil.
Só úm grupo com a estabilidade do Tapa poderia trazer “Ivanov” à cena com rigor e inventividade. Tolentino passou cerca de sete anos trabalhando na tradução, entre um projeto e outro. Esmerou-se tanto na palavra quanto na concepção e direção do espetáculo.
É preciosa a sua ênfase equilibrada na comicidade que perpassa a história. O elenco, de entrega e disciplina incomuns, é o grande responsável. Genézio de Barros (Pavel Lebedev), em especial, tem o público nas mãos com seu beberrão patético, no qual despreza o tipo fácil, de gestos trêmulos ou andar balança-mas-não-cai. Barros encontra o eixo até quando seu personagem surge como interlocutor do melancólico Ivanov.
Outros coadjuvantes emprestam brilho e leveza ao drama. O pão-durismo de Zinaida (Elizabeth Gasper), o riso hebeniano de Marfa (Cristina Cascioli), as fanfarronices de Chabelski (Milton Andrade) Kossykh, (Chico Martins), Borkine (Riba Carlovitch), Gavrila (Candido Lima) e Avdotia (Sonia Oiticica), enfim, compõem um paralelo bem estruturado à densidade do drama.
Coube a Zécarlos de Andrade (Ivanov), Denise Weinberg (Anna) e Brial Penido (Lvov), contrabalanceados pela vivacidade de Carla Carvalho (Sacha), a cumplicidade com a tensão do texto. São papéis estratégicos e bem defendidos.
Andrade passa praticamente todo o espetáculo com o corpo arqueado, olhar distante, transmitindo a alma perturbada de Ivanov. Suas reações são contidas, duras, quer diante da exuberante Sacha, quer na hora em que decide pôr fim à vida.
Denise expõe uma Anna insegura e não menos perdida do que Ivanov. São aparições curtas, mas repletas de emoção. A atriz espelha no rosto a dor da perda do marido que mentiu ao jurar amor e da vida que se esvai por causa da doença.
Penido faz jus à figura mais energética da peça. O médico Lvov é de uma correção política atroz. Seu discurso asséptico privilegia a razão e o próprio umbigo. Em nome da ordem e da moral, atropela quem lhe cruza o caminho. A postura corporal de Penido, ao contrário de Andrade, é ereta, as custas do poder do conhecimento.
Clara simboliza com sua Sacha o único feixe de luz, de esperança. Não é à toa que passeia pelo palco com seu vestido branco, em boa parte do espetáculo. A atriz dá conta da delicadeza e determinação da personagem.
O diretor Tolentino, como se disse, não prima apenas pelo cuidado com o verbo. “Ivanov” tem um acabamento visual que harmoniza perfeitamente com o texto. A cena da festa, em que cerca de 13 personagens estão em semicírculos para a caixinha de presente que solta fogos de artifício, traduz a “limpeza” do cenário (Renato Scripilliti) dos figurinos (lola Tolentino), da iluminação (Guilherme Bonfanti) e da própria direção dos atores. É um instante mágico, em suma.
A maturidade do Tapa não vem de agora. Há cerca de dois anos, por exemplo, sua versão para “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues, fez páreo com a histórica montagem de Ziembinski (43). “Ivanov”, enfim, é um exercício de elegância da arte teatra1, em que pese o tédio dos dias que correm.
Ivanov – De Anton Tchecov. Tradução e direção: Eduardo Tolentino de Araújo. Com Grupo Tapa (André Garolli, Inês de Carvalho, Paulo Marcos, Sandra Corveloni, Tony Giusti e outros). Quinta a sábado, 21h, domingo, 18h. Teatro Aliança Francesa (rua General Jardim, 182, Vila Buarque, tel. 259-0086). Estacionamento com desconto em frente ao teatro. Duração: 135 minutos.
“Tio Vânia” também execra “vida besta”
|
São Paulo – Outra boa montagem de Tchecov está em cartaz na Capital. Estrelada por Renato Borghi, “Tio Vânia” (1897) foi escrita um ano antes de “Ivanov” e também apresenta o enfastio pela vida que, aliás, caracteriza muitos personagens do dramaturgo russo (Treplev e Nina, em “A Gaivota”, não são diferentes). |
O Tio Vânia interpretado por Borghi é quem se vitimiza mais pela “vida murcha” em que está metido. “Pelo jeito, tédio e preguiça pegam”, afirma a certa altura, em um dos muitos lampejos de sarcasmo e ironia que pontuam o texto.
Há também o médico, Dr. Astrov (Luciano Chirolli), outra figura recorrente nas obras de Tchecov – ele que, em vida, também abraçou a medicina. E aqui, o conteúdo autobiográfico, ao que parece, é acentuado.
Espécie de alter-ego do escritor, Astrov reverbera a consciência humanista, verdadeiro poço de indignação que é (há um século, já saía em defesa da ecologia).
Cansado da “vidinha” que leva, reclamando do tempo “besta” que perdeu e decepcionado com a “decadência da civilização”, o médico é a melhor tradução do mal-estar do século passado, que se repete agora nesse fim de milênio.
Mas, em “Tio Vânia”, os personagens não passam pela vida somente “em férias”. As perturbações da alma e do espírito também emprestam seu quinhão de água ao moinho que move corações e mentes.
Na órbita de Tio Vânia, flutuam seu objeto do desejo, Yelena (Marina Lima), e sua âncora para a existência, a sobrinha Sônia (Leona Cavalli). Durante anos ele cuidou dos negócios do cunhado Serebriakov (Wolney de Assis), professor universitário aposentado e decadente, que foi casado com sua irmã, falecida, e hoje está nos braços da bela Yelena.
Farto de tanta submissão, Tio Vânia se rebela contra o cunhado e passa sua vida a limpo. Ao ponto da loucura, provoca um fuzuê no solar de Serebriakov, com direito a disparo de espingarda – lamenta não ter acertado nenhum tiro no alvo preterido, o cunhado. É a deixa pastelão, por assim dizer, para um drama de vasta matéria-prima.
A montagem, ao contrário de recente versão para o cinema, acerta em não investir tanto nesta sequência. Prefere distribuir o humor corrosivo nos devaneios de Tio Vânia e do amigo e fazendeiro decadente Tielhêguim (Abrahão Farc), ambos emanando forte carisma.
Borghi, com seus 40 anos de palco, e Farc são presenças marcantes. Ainda que o primeiro repise a matriz vocal e gestual de papéis anteriores (seu Tio Vânia, notadamente, lembra muito o recente e não menos delirante Galileu),o que sobressai é a voz e o corpo da experiência de quem parece brincar o tempo todo no espetáculo com as noções de tempo e espaço.
O médico de Chirolli não fica atrás. O ator dá consistência à utopia de Astrov, mesmo quando esta desmorona diante dos olhos do espectador. Há um equilíbrio entre distanciamento e aproximação. Quando desdenha o amor de Sônia, ou quando reaviva a chama amorosa diante de Yelena, são momentos distintos, mas ligados por um fio do homem que enxerga além mas se encontra em busca de um sentido para a vida.
Mariana Lima (Yelena) e Leona Cavalli (Sônia) complementam seus extremos de mulher com força e delicadeza. São personagens que anulam os conceitos exteriores de beleza para unirem-se na essência do que são; a cumplicidade feminina é um alento no reino tchecoviano da desesperança. As atrizes perscrutam a dor de amar e de viver com magnetismo.
Vindo de atuações e, recentemente, experimentando a direção no grupo Teatro Promíscuo, o jovem mogiano Élcio Nogueira vai, aos poucos, dominando o ofício. Aqui, ele dispensa o formol e opta pela aproximação do público.
Peca, porém, ao forçar a “carnavalização”, prejudicando o ritmo em certos momentos. “Tio Vânia” já possui seu conteúdo anárquico – aliás, paradoxalmente, bem explorado no espetáculo.
Tio Vânia – De Anton Tchecov. Direção: Élcio Nogueira. Com TeatroPromíscuo (Geisa Gama), Jolanda Gentilezza e outros). Quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. Teatro Brasileiro de Cómedia – Sala TBC (rua major Diogo, 315, Bela Vista, tel. 3106-4408). R$ 12,00. Duração: 120 minutos. Até 2 de agosto.
Tchecov é montado no Rio e SP
São Paulo – Em tese, não há motivos para efemérides. Anton Tchecov nasceu em 1904. Mas vive-se um “boom” de montagem das peças do dramaturgo russo. “Ivanov”, com o grupo Tapa, e “Tio Vânia”, estrelada por Borghi, já estão em cartaz. Mas vem mais por aí, na temporada carioca.
“Jardim das Cerejeiras”, dirigida por Cláudio Mamberti, deve estrear no Rio ainda este mês. Em outubro, é a vez de dupla versão de “As Três em Irmãs”, com respectivas direções de Enrique Díaz e Bia Lessa.
Se se quiser encontrar uma razão para a evocação de Tchecov, pode-se lembrar que foi em 1898 que o Teatro Artístico de Moscou, o lendário TAM, então dirigido por Constantin Stanislavski, levou à cena “A Gaivota” (1896) pela primeira vez.
XPTO expõe rigor e magia em peça
17.5.1998 | por Valmir Santos
O Diário de Mogi – Domingo, 17 de maio de 1998. Caderno A – 3
VALMIR SANTOS
São Paulo – O diretor Oswaldo Gabrieli e seu grupo, o XPTO, já inscreveram o nome na história do teatro brasileiro com a marca da inventividade. Seus espetáculos são hipercoloridos com bonecos em formatos mais variados e estranhos, num exercício geométrico que tem mais a ver com o espírito lúdico do que propriamente com teorias.
“Buster, o Enigma do Minotauro”, um dos trabalhos mais premiados de 97, segue em cartaz no Teatro Popular do Sesi na Capital, com entrada franca. Até final de junho, dá tempo de assistir ao infanto-juvenil que prima pela beleza do cenário, dos figurinos e pelas atuações com ênfase na linguagem do cinema mudo.
O XPTO começa o espetáculo projetando numa tela trechos filmes do comediante americano Buster Keaton (1895-1966). As imagens, e branco, preparam o espírito do espectador – adulto ou mirim – para o que virá a seguir.
Trata-se da história do jovem Buster (Wanderley Piras), que se mete em várias confusões graças a um Minotauro, encarnado por dois atores (Sidnei Caria e Guto Togniazzolo), que vive atravancando seu caminho.
Uma das passagens mais engraçadas é quando o pobre Buster é encarcerado. No presídio, ele acaba driblando os presos antigos, que se metem a espertos e tentam aproveitar-se do novo hóspede da cela.
A montagem foi muito feliz em dividir o personagem em três. Além de Piras, Buster ganha dois clones interpretados por Angelo Madureira e Ednaldo Eiras. O trio responde por momentos hilários, em que a própria Anabela não sabe distinguir quem é seu namorado.
Como não poderia deixar de ser, Gabrieli presta uma homenagem também a Charles Chaplin, que abrilhanta ainda mais o universo cômico que “Buster” traduz no palco, recorrendo à técnica do clown.
São, ao todo, 12 atores em cena – desde jovens empenhados a nomes tarimbados, como Cleber Montanheiro e Dadá Cyrino, vindos de espetáculos musicais. Aliás, aqui o gênero é bastante explorado, com direito a coreografias, ainda que breves.
Predominam, no entanto, as aventuras de Buster, em formato que se aproxima bastante dos filmes em preto e branco – tudo – muito rápido, vapt-vupt, como num videoclipe -, apesar do colorido dos figurinos e do cenário, basicamente formado por painéis
móveis.
Em seus quase 15 anos de formação, o XPTO dá mais um exemplo de como a multiplicidade de linguagens (teatro, dança, música, bonecos e animação de objetos) pode ser concebida sem muito virtuosismo técnico. Em “Buster”, tudo flui com o rigor e a magia das caixas de soldados de chumbo.
Buster, O Enigma do Minotauro – Concepção e direção: Oswaldo Gabrieli. Com Grupo XPTO (Gerson Esteves, Helzer Abreu, Márcio Branco, Roberto Camargo etc). Recomendado para crianças a partir de 8 anos. Sábado e domingo, 11h e 14h. Teatro Popular do Sesi (avenida Paulista, 1.313, tel. 284-9787). Grátis (ingressos distribuídos com uma hora de antecedência). Espetáculos para escolas: tel. 284-4473. Duração: 75 minutos. Até 28 de junho.